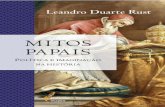História elevada ao cubo à imaginação: Daniel Filipe Moreira ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of História elevada ao cubo à imaginação: Daniel Filipe Moreira ...
MESTRADO EM ENSINO DE HISTÓRIA NO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO SECUNDÁRIO
História elevada ao cubo à imaginação: A utilização de recursos subordinados a Super-Heróis no processo de ensino-aprendizagem.
Daniel Filipe Moreira Lopes
M 2021
ii
Daniel Filipe Moreira Lopes
História elevada ao cubo à imaginação: A utilização de recursos subordinados a Super-Heróis no processo de ensino-aprendizagem
Relatório realizado realizada no âmbito do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo
do Ensino Básico e no Ensino Secundário, orientado pela Professora Doutora Cláudia
Sofia Pinto Ribeiro.
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
2021
iii
Daniel Filipe Moreira Lopes
História elevado ao cubo à imaginação: A utilização de recursos subordinados a Super-Heróis no processo de ensino-aprendizagem
Relatório realizado realizada no âmbito do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo
do Ensino Básico e no Ensino Secundário, orientado pela Professora Doutora Cláudia
Sofia Pinto Ribeiro.
Membros do Júri Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a)
Faculdade (nome da faculdade) – Universidade (nome da universidade)
Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a)
Faculdade (nome da faculdade) – Universidade (nome da universidade)
Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a)
Faculdade (nome da faculdade) – Universidade (nome da universidade)
Classificação obtida: Valores
3
Sumário
Declaração de honra ........................................................................................................................ 5
Agradecimentos ............................................................................................................................... 6
Resumo ........................................................................................................................................... 8
Abstract .......................................................................................................................................... 9
Índice de Figuras ............................................................................................................................ 10
Índice de Ilustrações ....................................................................................................................... 11
Índice de Gráficos ........................................................................................................................... 12
Introdução .................................................................................................................................... 13
Parte I. Enquadramento Teórico ...................................................................................................... 17
1. Um novo “Triângulo das Bermudas”: Criatividade, Empatia e Consciência ........................................ 19
1.1. Primeiro vértice: Criatividade ................................................................................................... 20
1.1.1. (Cri)Atividade em contexto escolar: Escola, Professor e Aluno ................................................ 23
1.1.2. Avaliar? ............................................................................................................................. 26
1.2. Segundo vértice: Empatia Histórica .......................................................................................... 27
1.3. Terceiro vértice: Consciência História (e Rüsen) ......................................................................... 35
2. “Os fins justificam os meios”? ....................................................................................................... 41
2.1. A “Nona Arte” ......................................................................................................................... 42
2.1.1. A lotaria dos conceitos e da sua definição ............................................................................ 43
2.1.2. A composição de uma Banda Desenhada ............................................................................. 49
2.2. O imaginário em prática: as comics de Super-Heróis no ensino (da História) .................................. 51
Parte II. Enquadramento Prático ..................................................................................................... 65
1. Contextualização do campo de batalh… Digo, da intervenção ........................................................ 66
1.1. A Alma Mater : a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves........................................... 66
1.1. Os alunos… Ou será que devo dizer os Super-Heróis do amanhã? ............................................... 70
2. Vamos “apalpar terreno”: recolha de informação inicial ................................................................. 73
2.1. Turma 9.º Marvel ................................................................................................................... 73
2.2. Turma 9.º D.C. ....................................................................................................................... 74
4
3. Descrição das trincheiras… UPS! Quer dizer, das intervenções pedagógicas ..................................... 83
3.1. “Coisas do arco-da-velha”: a metodologia ................................................................................. 83
3.2. “Mulher Maravilha”: as consequências da Primeira Guerra Mundial ............................................. 85
3.3. “Capitão América”: Segunda Guerra Mundial e Nazismo ............................................................. 94
3.4. A Guerra Fria através dos Super-Heróis ................................................................................... 103
3.5. Mãos à obra! – “O Mundo precisa de Super-Heróis”................................................................... 118
3.5.1. A tarefa hercúlea de avaliar ............................................................................................. 121
3.5.2. A exteriorização dos génios: os trabalhos.......................................................................... 122
3.5.3. A avaliação do (pouco) especialista .................................................................................. 130
4. “Línguas de perguntador”: recolha de informação final ............................................................... 133
4.1. Turma 9.º Marvel .................................................................................................................. 133
4.2. Turma 9.º D.C. ...................................................................................................................... 134
“Vou embora! Dou a vez a outro!”: Considerações finais .................................................................. 144
Referências Bibliográficas ............................................................................................................ 148
Anexos ........................................................................................................................................ 157
5
Declaração de honra
Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente
noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a ou-
tros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras
da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências biblio-
gráficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prá-
tica de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.
[Porto, 27 de setembro de 2021]
Daniel Filipe Moreira Lopes
6
Agradecimentos
À Professora Albertina, pela pessoa, profissional e Mulher que é! Não existem pa-
lavras suficientes para lhe agradecer todos estes anos que (consciente ou inconsciente-
mente) desempenhou um papel de “Mestre” (e quase “mãe adotiva”), por todo o
apoio, por ser um role-model e por ser uma fonte de sabedoria saudavelmente invejá-
vel. Sou-lhe imensamente agradecido por ter contribuído para o meu crescimento en-
quanto indivíduo, cidadão e enquanto aluno. O Daniel de hoje não seria o mesmo sem
às chamadas de atenção da sua Diretora de Turma nos três anos do Ensino Básico e
sem os abanões para a realidade da sua Professor de História A no Secundário. Claro
que, enquanto Professor, a sua passagem na minha (ainda jovem) vida será visível.
Aliás, depois destes quase 7 anos, nem podia ser doutra forma. Vá, só não lhe agra-
deço a dieta de croissants e lanches mistos às segundas-feiras, mas esta eu deixo pas-
sar. Mais uma vez, OBRIGADO. Por tudo!
À Professora Cláudia, por ser alguém que admiro imensamente por tudo o que
representa. Por ensinar aos seus alunos não só teorias e práticas, mas também por
transmitir valores e princípios. Por ser uma Mulher com M grande, por ser uma Profes-
sora a quem os seus alunos podem recorrer, seja qual for a circunstância. Obrigado por
todo o apoio constante, pelas palavras bonitas nos momentos certos (e também pelas
mais duras, também nos momentos certos). O “Professor Daniel” que sai Mestre deste
Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico não seria o mesmo sem
uma Professora Cláudia no seu percurso académico. Obrigado!
À Maria Beatriz, por ser a melhor parceira de Estágio. Por compartilhar todas as
crises, todos os dramas, todos os sucessos e fracassos. Por todas as chamadas com um
tom de desespero que começavam “Não estou preparado para amanhã”. Por todas as
palavras de apoio, de orgulho, de motivação. Enfim. Serás, para sempre, a
À Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, por ter sido a minha casa du-
rante 6 longos anos e por me ter recebido, mais uma vez, de braços abertos. Um agra-
decimento especial a todos os Professores que sempre se mostraram disponíveis para
7
dar uma palavra amiga antes de uma Regência e por tornarem a breve “estadia” ainda
melhor.
Aos Progenitores, por todos os “o meu mais novo vai ser professor” cheios de
orgulho e por todo o apoio incondicional nesta caminhada.
Ao Fábio, por todos os “boa, puto” num tom meio que despreocupado, mas lá
no fundo dos fundinhos cheios de orgulho.
À Beatriz, à Bárbara, à Inês e à Fátima, por todos os gossips, crises existenciais
conjuntas e, acima de tudo, por todo o apoio e felicidades que me proporcionaram ao
longo destes 5 anos. Vou deixar aqui um reminder a meu futuro eu para não vos convi-
dar para o meu casamento, pois sei o quanto me envergonhariam. Brincadeirinha.
Obrigado por tudo. Venham mais uma carrada de anos juntos!
Aos Brigadeiros-Lenhadores, que me deram memórias que nunca esquecerei.
À Madrinha Francisca e ao Padrinho Mourão, por serem dois exemplos. Antagóni-
cos nos seus feitios, revejo-me 50%/50% nestes dois Seres-Humanos incríveis e que
SEMPRE estiveram lá para uma palavra de motivação, para uma chamada de atenção,
para tudo! Obrigado por terem feito parte desta caminhada e da futura que virá.
À Josefina e ao André, por serem a “escapadinha” da faculdade e por me faze-
rem soltar gargalhadas em momentos que sem vocês, tal não seria possível.
Ao Teixeira, ao Simão, ao Diogo, ao Carlos e ao Henrique, por terem confiado em
mim e por me fazerem sentir que havia um outro propósito na minha vida académica.
Aos “meus” alunos e alunas, que me receberam de braços abertos no ano de Es-
tágio. Sem eles esta epopeia não tinha sido tão boa e tão descomplicada. É mais que
óbvio que não agradeço as dores de cabeça que me deram, mas enfim. Guardo-os num
espacinho muitooo aconchegado no meu coração.
8
Resumo
O presente Relatório de Estágio coloca a tónica no desenvolvimento de três
competências distintas, sendo elas a Criatividade, a Empatia Histórica e a Consciência
Histórica. Estas três competências ocupam um lugar de destaque no ensino em geral e
no ensino da História em concreto. Para além da análise destas três competências,
este Relatório tem também como tarefa a (tentativa de) legitimação de recursos alusi-
vos a Super-Heróis no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de História, indo
ao encontro do desenvolvimento das três competências já mencionadas.
A primeira parte da componente teórica diz respeito às (in)definições, aos prós
e contras, e aos cuidados a ter no que diz respeito ao desenvolvimento da Criatividade,
da Empatia e Consciência Históricas em aula. Já num segundo momento, a Sétima Arte
será analisada focando diversas componentes (definições, componentes, potencialida-
des). Por fim, focaremos os recursos alusivos a Super-Heróis, tentando estabelecer
uma base teórica sólida para o desenvolvimento das atividades práticas.
No que diz respeito à parte prática, esta foca o estudo realizado com duas tur-
mas de 9.º ano no decorrer da Iniciação à Prática Profissional. Este componente do Re-
latório tem como cerne a exploração de um conjunto de atividades que associaram a
Criatividade, a Empatia e a Consciência históricas com aplicação e exploração de co-
mics e um trailer de um filme alusivos a Super-Heróis.
Palavras-chave: Criatividade; Empatia Histórica; Banda Desenhada; Super-Heróis, His-
tória.
9
Abstract
This Report emphasizes the development of three distinct skills, namely Crea-
tivity, Historical Empathy and Historical Consciousness. These three competences oc-
cupy a prominent place in the general teaching and in History teaching in particular. In
addition to the analysis of these three competences, this Report also has the task to
(try to) legitimate the use of resources referring to Superheroes in the teaching-learn-
ing process in History, meeting the development of the three competences already
mentioned.
The first part of the theoretical component concerns the (in)definitions, the
pros and cons, and the precautions to be taken in the moment of development of the
Creativity, Historical Empathy and Historical Consciousness in the classroom. In a sec-
ond moment, the Seventh Art will be analyzed focusing on different components (defi-
nitions, components, potentials). Finally, we will focus on resources related to Super-
Heroes, trying to establish a solid theoretical basis for the development of practical ac-
tivities.
With regard to the practical part, this focuses on the study carried out with two
9th grade classes during the Initiation to Professional Practice. This component of the
Report has as its core the exploration of a set of activities that have associated Creativ-
ity, Historical Empathy and Historical Consciousness with the application and explora-
tion of comics and a trailer for a movie referring to Superheroes.
Key-words: Creativity, Historical Empathy, Comics, Superheroes, History.
10
Índice de Figuras
FIGURA 1 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ...................................................................................................... 88
FIGURA 2 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ..................................................................................................... 91
FIGURA 3 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ..................................................................................................... 93
FIGURA 4 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ..................................................................................................... 93
FIGURA 5 – DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................... 96
FIGURA 6 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ..................................................................................................... 97
FIGURA 7 – DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................... 99
FIGURA 8 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ..................................................................................................... 99
FIGURA 9 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. ................................................................................................... 107
FIGURA 10 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................. 108
FIGURA 11 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................. 108
FIGURA 12 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................. 109
FIGURA 13 - DIAPOSITIVO UTILIZADO. .................................................................................................. 117
FIGURA 14 - EXCERTO DA TABELA EXCEL PREENCHIDA COM DADOS REFERENTE AOS TRABALHOS DA TURMA 9.º
MARVEL. .............................................................................................................................. 131
FIGURA 15 - EXCERTO DA TABELA EXCEL PREENCHIDA COM DADOS REFERENTE AOS TRABALHOS DA TURMA 9.º
D.C. .................................................................................................................................... 131
11
ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES
ILUSTRAÇÃO 1 - DESENHO REALIZADO PELO PACIFICADOR DAS NAÇÕES, DA TURMA 9.º MARVEL. .................... 73
ILUSTRAÇÃO 2 - CABEÇALHO RETIRADO DA FOLHA DE RESPOSTA DO ALUNO #22D.C, DA TURMA 9.º D.C. ....... 100
ILUSTRAÇÃO 3 - EXCERTO DO PRIMEIRO NÚMERO DA COMIC QUARTETO FANTÁSTICO (1961). ...................... 113
ILUSTRAÇÃO 4 - EXCERTO DO NÚMERO 447 DA COMIC BATMAN (1990). ................................................. 116
ILUSTRAÇÃO 5 - DESENHO REALIZADO PELO PACIFICADOR DAS NAÇÕES, DA TURMA 9.º MARVEL................... 124
ILUSTRAÇÃO 6 - DESENHO REALIZADO PELO WARFATH, DA TURMA 9.º MARVEL. ........................................ 125
ILUSTRAÇÃO 7 - EXCERTO DO TRABALHO REALIZADO PELO HERÓI DO HOLOCAUSTO, DA TURMA 9.º MARVEL. .. 126
ILUSTRAÇÃO 8 - EXCERTO DO TRABALHO REALIZADO PELO #24D.C DA TURMA 9.º D.C. ............................... 127
ILUSTRAÇÃO 9 - DESENHO REALIZADO PELO BLITZ, DA TURMA 9.º MARVEL. ............................................... 129
12
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO, POR GÉNERO, DAS TURMAS 9.º MARVEL E 9.º D.C. ........................................... 71
GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO, POR IDADES, DAS TURMAS 9.º MARVEL E 9.º D.C. ............................................ 71
GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "TENS O HÁBITO DE LER BANDA DESENHADA?". ......... 75
GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "EM QUE DISCIPLINA?". .......................................... 76
GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "TENS O HÁBITO DE LER BANDA DESENHADA?". ......... 78
GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "A CRIATIVIDADE DEVE SER EXPLORADA EM SALA DE
AULA.". .................................................................................................................................. 80
GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "DE QUE FORMA GOSTAVAS QUE A TUA CRIATIVIDADE
FOSSE EXPLORADA NAS AULAS DE HISTÓRIA?". ............................................................................. 80
GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "EM QUE TEMAS DE HISTÓRIA GOSTARIAS QUE FOSSEM
UTILIZADOS SUPER-HERÓIS COMO UM RECURSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM?". ................................ 81
GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO, POR TURMA, DOS TEMAS ESCOLHIDOS PARA O TRABALHO PROPOSTO. ................ 123
GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO, POR TURMA, DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS ENTREGUES. .......................... 132
GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "CONSIDERASTE ÚTIL A REFERÊNCIA A SUPER-HERÓIS NAS
AULAS DE HISTÓRIA?". ........................................................................................................... 136
GRÁFICO 12 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "NUMA ESCALA DE 1 A 5, CLASSIFICA A INTERVENÇÃO
SOBRE A MULHER MARAVILHA E A 1.ª GUERRA MUNDIAL". ......................................................... 137
GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "NUMA ESCALA DE 1 A 5, CLASSIFICA A INTERVENÇÃO
SOBRE O CAPITÃO AMÉRICA E O CONCEITO DE EUGENIA NAZI". ..................................................... 138
GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "NUMA ESCALA DE 1 A 5, CLASSIFICA A INTERVENÇÃO
SOBRE A GUERRA FRIA ATRAVÉS DOS SUPER-HERÓIS". ................................................................. 139
GRÁFICO 15 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "DAS TRÊS INTERVENÇÕES, QUAL FOI A QUE MAIS
GOSTASTE?". ........................................................................................................................ 140
GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO, POR GRUPOS, DAS JUSTIFICAÇÕES À RESPOSTA DA QUESTÃO ANTERIOR. ............ 141
GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO "ESTAS AULAS E O TRABALHO QUE FOI PROPOSTO
FIZERAM COM QUE GOSTASSES MAIS DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA?". .............................................. 142
13
Introdução
“História é só decorar!”. “História é só ler documentos e saber os reis e as di-
nastias!”. “História é uma seca!”. Estas são algumas ideias que se ouvem quando os
alunos, e não só, falam sobre a disciplina de História. Nunca partilhei estas opiniões e é
precisamente a partir deste mote que, para mim, a criatividade deve ser algo cons-
tante na disciplina de História, tanto no trabalho dos alunos, como no do Professor,
pois é dele que deve partir a mudança para se contrariarem estes estereótipos.
O presente Relatório de Estágio faz parte da Unidade Curricular de Iniciação à
Prática Profissional (I.P.P.), do segundo ano do Mestrado em Ensino de História no 3.º
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. O Estágio foi realizado no ano letivo de 2020/2021, na Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Vila Nova de Gaia.
O tema deste Relatório pende sobre o desenvolvimento da criatividade em sala
de aula, através da utilização de Bandas Desenhadas e excertos de filmes subordinados
a Super-Heróis. A intenção é demonstrar que é possível ensinar História a partir de
algo que, à primeira vista, é desprovido de qualquer sentido e conteúdo histórico, mas
que, se analisado com os devidos cuidados, pode ser uma fonte rica de informação.
Justificar a escolha deste tema é muito simples. É algo que me é extremamente
próximo, tanto as Bandas Desenhadas, como os Super-Heróis e porque não levar isso
para sala de aula e explorar, em conjunto com os alunos, as potencialidades destes re-
cursos? Como (presumivelmente) diria Séneca, “nunca houve um talento sem um
pouco de loucura”.
O objetivo implícito é o de levar a História aos alunos através de algo que lhes é
próximo. Aqui faço um mea culpa por estar a generalizar, pois nem todos os alunos se
interessam pela Banda Desenhada ou por Super-Heróis, embora a grande maioria já
tenha estado com contacto com ambos. Independentemente da questão, este Relató-
rio pretende mostrar que podemos ser diferentes dentro da “caixa-forte” que é a sala
14
de aula, como a caracteriza Pedro Costa1. Poderá não ser a melhor estratégia, nem tão
pouco os melhores recursos, mas uma coisa é certa: é possível retirar algo deles. Neste
caso em concreto, este é apenas um meio para se atingir um fim: o desenvolvimento
da criatividade e da empatia e consciência históricas, e terminar com o estigma de
quem nem todos conseguem ser criativos (afinal, são dois fins…). Cada um é criativo à
sua maneira, desde que seja devidamente motivado e orientado. Afinal de contas, os
fins justificam os meios, não é verdade?
A discussão em torno da criatividade sempre esteve presente nos debates edu-
cacionais, embora nos últimos anos tenha (res)surgido a defesa do desenvolvimento
desta e outras competências, para além da memorização e da compreensão, as quais
apelido de “as duas chagas da disciplina de História”. Aliás, na própria Lei de Bases do
Sistema Educativo é contemplada a memorização, assim como a criatividade, no que diz
respeito ao 3.º Ciclo do Ensino Básico:
“São objectivos do ensino básico:
a) Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que
lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e
aptidões, capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criati-
vidade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realiza-
ção individual em harmonia com os valores da solidariedade social.“2
Para além da Lei de Bases do Sistema Educativo, encontramos também uma
apologia do desenvolvimento da criatividade no Programa de História do 3.º Ciclo do En-
sino Básico, datado de 1991, sendo que um dos objetivos gerais no campo do Domínio
das Atitudes/Valores é precisamente “desenvolver a sensibilidade estética e a criativi-
dade”.3
1 COSTA, Pedro – A Caixa-Forte do Ensino: Aprender Divertida(mente). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2019. Dissertação de Mestrado. 2 Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei n.º 46/86. Diário da República, n.º 237/1986, Série I de 1986-10-14. 3 ME/DGE – Programa de História do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral de Educação, 1991. Vol. 1. p. 127.
15
De facto, tem-se defendido e debatido a urgente necessidade de os alunos de-
senvolverem “ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem res-
peito, recorrendo à imaginação [...] com o objetivo de promover a criatividade e a ino-
vação”.4 No entanto, estas competências, com especial enfoque na criatividade, de-
vem ser fomentadas pelo Professor que deve “promover intencionalmente, na sala de
aula e fora dela, actividades ligadas à experimentação de situações pelo aluno e à ex-
pressão da sua criatividade”.5 A presença quase obrigatória do desenvolvimento des-
tas capacidades em documentos normativos transmite precisamente a necessidade da
(re)adaptação do Ensino às novas realidades que cada vez mais tentam tirar partido
das capacidades dos alunos. Convém, no entanto, referir que estas não devem so-
mente ser desenvolvidas em sala de aula, mas também em associação com outros
campos, como, por exemplo, o familiar.
Neste sentido, para o desenvolvimento deste Relatório de Estágio foram levan-
tadas algumas questões de partida (embora talvez não haja uma chegada). Iremos pro-
curar responder e refletir sobre as seguintes perguntas:
• De que forma se pode desenvolver a criatividade dos alunos recorrendo ao que
lhes é mais próximo?
• Será que a criatividade só pode ser desenvolvida se o Professor for criativo?
• Em que medida a promoção da criatividade em sala de aula contribui para o de-
senvolvimento pessoal e cognitivo dos alunos?
• Serão a Banda Desenhada e o Cinema alusivos a Super-Heróis um bom recurso
no processo de ensino-aprendizagem?
O Relatório de Estágio está dividido em duas partes que se complementam: o
Enquadramento Teórico e o Caso Prático.
4 ME/DGE – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Lisboa: Ministério da Educação/Dire-ção-Geral de Educação, 2017. p. 21. 5 ME – Currículo Nacional do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação, 2001. p. 24.
16
O Enquadramento Teórico está também dividido em duas partes. Na primeira,
procuraremos problematizar três conceitos: criatividade, consciência histórica e empa-
tia histórica. Irão ser abordadas as potencialidades destas competências, bem como os
seus entraves, a par de uma abordagem da importância do seu desenvolvimento na
sala de aula. A segunda parte diz respeito à Banda Desenhada e aos Super-Heróis, re-
cursos utilizados na parte prática. Iremos abordar a história da Banda Desenhada e as
suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de História.
Procuraremos dar um enfoque especial aos Super-Heróis (sobretudo na Banda Dese-
nhada) e à sua utilização como um recurso didático interessante para o ensino da His-
tória.
No Caso Prático, focaremos as intervenções que foram realizadas no âmbito da
Introdução à Prática Profissional, que vão ao encontro da temática levantada na pri-
meira parte do presente Relatório, e que procuraram essencialmente desenvolver a
autonomia e a criatividade dos alunos, assim como a sua empatia e consciência históri-
cas, através da utilização de excertos de Bandas Desenhadas e de um filme subordina-
dos a Super-Heróis. Ainda nesta parte, iremos abordar as metodologias utilizadas na
recolha de dados, assim como realizar uma análise tão exaustiva quanto possível dos
mesmos.
Por fim, nas Considerações Finais, realizaremos uma reflexão sobre o trabalho re-
alizado, tecendo algumas considerações acerca do positivo, do negativo e dos “assim-
assim” das atividades propostas e realizadas. Por outro lado, para além de se inserir
este Relatório numa visão maniqueísta de sucesso ou fracasso, iremos “colocar as car-
tas na mesa” e propor (se possível) outros percursos ligados à problemática levantada
neste Relatório.
17
Parte I. Enquadramento Teórico
A primeira parte do presente Relatório de Estágio está subordinada ao Enqua-
dramento Teórico, que sustenta a parte prática e que diz respeito à Parte II. Por sua vez,
o Enquadramento Teórico está dividido em dois grandes núcleos, resumidos de se-
guida.
Num primeiro momento, irão ser abordados três conceitos que são carregados de
uma grande importância no ensino da História e no ensino em geral, sendo eles: Criati-
vidade, Empatia Histórica e Consciência Histórica. Estes três conceitos, que formam um
novo “Triângulo das Bermudas” (nomenclatura adotada por mim), irão ser explorados
quanto às suas definições (ou propostas de), assim como à sua importância e aplicabili-
dade em contexto escolar.
Relativamente à criatividade, irão ser exploradas algumas temáticas como a
questão da avaliação desta competência, assim como a existência de vários tipos de
criatividade, como se irá ver de acordo com a proposta específica de alguns teóricos.
Relativamente à empatia e à consciência históricas, estes dois conceitos, abordados in-
dividualmente, acabam por estar interligados. As suas abordagens passam por uma
análise da sua importância em contexto escolar (na aula de História, sobretudo) e pela
compreensão e avaliação do seu peso no desenvolvimento pessoal e cognitivo de um
sujeito – neste caso em concreto, de um aluno de História.
Na segunda parte deste Enquadramento Teórico irão ser explorados os meios es-
colhidos para se atingir os fins propostos, sendo eles o desenvolvimento da Criativi-
dade, Empatia e Consciência Históricas dos alunos do 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Bá-
sico, especialmente na disciplina de História. Os meios escolhidos foram a Banda Dese-
nhada e o Cinema, no entanto, a utilização destas duas Artes no presente Relatório
está subordinada a uma temática um tanto peculiar e muito específica – Super-Heróis.
Composto por duas partes, o segundo capítulo deste Enquadramento Teórico aborda
as definições daquilo que é uma Banda Desenhada, assim como a sua evolução ao
longo da História e a sua importância didática no ensino (da História). Por outro lado,
18
ainda no contexto da abordagem da Banda Desenhada, esta Arte irá ser explorada com
um enfoque especial nos Super-Heróis, onde se tentará compreender de que forma
este recurso, utilizado maioritariamente como entretenimento, pode ser considerado
um recurso útil para o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de História. Para
além de se procurar compreender de que forma(s) podem ser utilizados em contexto
escolar e perceber o forte cunho ideológico que lhes são impressos, irão ser também
indicados que cuidados se deve ter aquando da aplicação deste tipo de recursos em
aula.
19
1. Um novo “Triângulo das Bermudas”: Criatividade, Empatia e Consciên-
cia
Neste primeiro capítulo do presente Relatório de Estágio será redefinido o céle-
bre “Triangulo das Bermudas” uma vez que estes três conceitos sustentaram o desen-
volvimento das intervenções aplicadas ao longo do Estágio. Neste caso, o triângulo não
é composto por mistérios e desaparecimentos, mas sim por três conceitos que, aplica-
dos em contexto escolar, são de grande importância – Criatividade, Empatia e Consci-
ência. O objetivo deste capítulo, no seu todo, é o de abordar definições destes três
conceitos, avaliar a sua importância para o ensino da História e compreender de que
forma podem ser aplicados e desenvolvidos com os alunos.
A primeira parte deste capítulo está reservada a uma análise da Criatividade. Irão
ser abordadas algumas das suas (in)definições que, como se irá ver, colocam a tónica
em diferentes campos (sujeito, produto, background social, entre outros). Ainda neste
ponto serão abordadas outras questões como a presença da criatividade nos trabalhos
dos alunos, assim como os meios para a desenvolver e avaliar.
No segundo subcapítulo navegaremos por águas que nos permitem “calçar os sa-
patos dos outros”, ou seja, irá ser explorado o conceito de empatia, neste caso apli-
cado à História – empatia histórica. Entre definições, conceitos de “segunda ordem” e
meios de desenvolvimento desta competência, irá ser realizada uma abordagem sus-
tentada em vários teóricos e trabalhos focados neste conceito de grande relevância e
importância social e educacional.
Por fim, o terceiro e último subcapítulo está reservado a uma abordagem do con-
ceito de consciência histórica onde, de forma breve, irão ser exploradas algumas defi-
nições deste conceito, assim como a sua importância no contexto escolar, focando es-
sencialmente a aula de História. Por outro lado, irá também ser explorada a importân-
cia da presença da consciência histórica na vida quotidiana dos indivíduos.
20
1.1. Primeiro vértice: Criatividade
Nestes três vértices, o primeiro está reservado à abordagem de um conceito
complexo – Criatividade.
De forma muito breve, a importância desta capacidade já foi referida na Intro-
dução e, como se sabe, atualmente a criatividade “[...] é uma propriedade ou caracte-
rística dos seres humanos que se converteu num valor de câmbio importante nas soci-
edades ocidentais [...]”6. Esta ideia leva-nos a considerar esta competência como algo
de valor, quase como uma exigência draconiana no mundo laboral. É uma aptidão (ou
competência) que acaba por ser exigida em vários campos: seja no campo profissional,
seja no campo pessoal. Como salienta Mihaly Csikszentmihalyi, “se a criatividade era um
luxo para o Renascimento, agora ela é uma necessidade de todos”.7
Definir o conceito de criatividade parece-nos algo extremamente fácil de expli-
car por ser um termo recorrentemente utilizado no nosso dia-a-dia. No entanto, como
afirma Olena Klimenko, é um conceito “[...] bastante amplo e complexo, porque abarca
várias dimensões do desenvolvimento e desempenho do ser humano [...].”8 Aliás, este
conceito é tão vasto que para Saturnino de la Torre, citado por Elsa Rosa, ao vaguearmos
pelos seus sentidos e significados é como se estivéssemos num “[...] océano de ideas
desbordado por un continente de palabras.”9
John White “divide para reinar”:
“[...] Num sentido do termo, criar algo é basicamente fazer alguma
coisa. Deus, dizem alguns, criou o mundo. Os artistas são criadores,
6 SEABRA, Joana – Criatividade. Psicologia.pt – O Portal dos Psicólogos. [Em linha]. 2007. [Consult. a 10/08/2021]. Disponível em: https://bit.ly/3zxN4a9. p. 1. 7 Cit. por DIAS, Carla – Criatividade no Ensino Básico: um olhar sobre as representações de alunos e pro-fessores em escolas públicas e privadas. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2014. p. 16. 8 KLIMENKO, Olena – La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. Educación y Educa-dores [Em linha]. 2008, 11(2). PP. 191-210. [Consult. a 16/07/2021]. ISSN: 0123-1294. Disponível em: https://bit.ly/3mJ3bhF. p. 195. 9 ROSA, Elsa – Representação do conceito de criatividade dos pré-adolescentes nas Artes Visuais. Disser-tação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009. p. 25.
21
porque também eles são “fazedores”. […] . No outro sentido, […]. O
que faz com que estas pessoas sejam consideradas criativas não é o
facto de terem feito algo, mas o de terem tido ideias originais. Além
de quebrarem perspetivas convencionais, viram as coisas de uma
nova forma. [...] É um sinónimo de capacidade de imaginação.”.10
Nesta linha de pensamento, Bruno Munari, na sua obra Fantasia, assume que
“também a criatividade é uma utilização finalizada da fantasia, aliás, da fantasia e da
invenção, simultaneamente.”11 Ainda na linha de pensamento deste autor, a fantasia
“[...] é a faculdade mais livre de todas as outras. [...].”12
Para um grande número de autores, como por exemplo MacKinnon e Barron, a
criatividade define-se pela conceção de soluções de problemas que surgem.13 Pode-
mos, neste sentido, assumir a criatividade como “[...] a capacidade funcional de conce-
ber soluções novas e de encarar os problemas por prismas diferentes”14, sendo que
esta se apresenta como “[...] a capacidade de formar associações novas e como exteri-
orização de um pensamento divergente15 que procura todas as soluções possíveis para
um determinado problema.”16
O que é certo é que “[...] a nossa representação usual sobre a criatividade não
corresponde ao sentido e à compreensão científica desta palavra.” Neste sentido, e
como afirma Lev Vigotsky, “na sua aceção habitual, a criatividade é privilégio e dom de
10 Cit. por MOUZON, Cecília – A criatividade na educação. Enquadramento Curricular e Estratégias de fa-cilitação na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Açores: Departamento de Ciências da Edu-cação da Universidade dos Açores, 2014. Dissertação de Mestrado. p. 18. 11 MUNARI, Bruno – Fantasia. Lisboa: Edições 70, 2015. ISBN 978-972-44-1357-0. p. 24. 12 Idem. p. 23. 13 ROSA, Elsa – Representação do conceito de criatividade dos pré-adolescentes nas Artes Visuais. Disser-tação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009. p. 35. 14 Cit. por MOUZON, Cecília – A criatividade na educação. Enquadramento Curricular e Estratégias de fa-cilitação na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Açores: Departamento de Ciências da Edu-cação da Universidade dos Açores, 2014. Dissertação de Mestrado. p. 18. 15 Pensamento divergente, por outras palavras, é um pensamento que permite a criação e várias ideias para o mesmo problema. 16 MOUZON, Cecília – A criatividade na educação. Enquadramento Curricular e Estratégias de facilitação na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Açores: Departamento de Ciências da Educação da Universidade dos Açores, 2014. Dissertação de Mestrado. p. 18.
22
seres eleitos, génios, talentos, dos que criaram grandes obras artísticas, daqueles que
realizaram grandes descobertas científicas [...].”17 Não obstante, a realidade é que:
“[...] qualquer ato humano que dá origem a algo novo é referido
como um ato criativo, independentemente do que é criado: pode ser
um objeto do mundo exterior ou uma construção da mente ou do
sentimento que vive e se encontra apenas no homem.”18
Já Magda Carvalho afirma que “[...] enquanto capacidade de produzir, de gerar,
de criar, a criatividade reside na essencialidade do humano [...].”19. Ora, podemos re-
sumir esta ideia por outras palavras, sendo que para esta autora a criatividade é algo
intrínseco ao ser humano, algo que lhe é inato.
Fernandes da Fonseca defende a ideia de que a criatividade é algo universal,
acessível a todos os sujeitos. O autor remata dizendo que “é evidente que todos nós,
que vivemos neste habitáculo a que chamos Terra, somos capazes de, num ou noutro
momento da nossa existência, criar alguma coisa.”20
No mesmo sentido Mihaly Csikszentmihalyi defende que a criatividade não é algo
intrínseco somente ao interior humano, mas sim “[...] um resultado da interação entre
os pensamentos do indivíduo e o contexto sociocultural [...].”21
Seana Moran defende, de certo modo, uma relação de dependência entre o su-
jeito e a sociedade. Se, por um lado, o background social estimula a capacidade criativa
17 VYGOTSKY, Lev Semenovitch – Imaginação e criatividade na infância: ensaio de psicologia. Lisboa: Di-nalivro, 2012. (Razões de sobra). ISBN 978-972-576-616-3. p. 25. 18 Idem. p. 21. 19 CARVALHO, Magda – A criação artística autêntica contra o estéril culto da palavra – uma luta anteriana. In CASTRO, Gabriela; CARVALHO, Magda (COORD.) – A Criatividade na Educação. Actas do Colóquio: A Criatividade na Educação. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. Centro de Estudos Filosóficos, 2006. p. 54. 20 FONSECA, A. Fernandes da – A psicologia da criatividade. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 2007. 3.ª Edição. ISBN 978-972-8830-85-4. pp. 19-20. 21 ROSA, Elsa – Representação do conceito de criatividade dos pré-adolescentes nas Artes Visuais. Disser-tação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009. p. 36.
23
e o desenvolvimento pessoal de um sujeito, por sua vez, este ao criar algo vai promo-
ver um desenvolvimento da sociedade.22
Podemos entrar noutra componente que está intimamente ligada às ideias de-
fendidas anteriormente, sobre o contexto sociocultural. Falamos, claro, da questão da
aceitação/avaliação. Para Stein, a criatividade não passa de um processo pessoal que é
“[...] aceite como válido ou satisfatório por um grupo social num dado momento”.23
Há, portanto, uma necessidade de se desmitificar que apenas o que está inse-
rido num tópico de grandeza é que pode ser qualificado como criativo e original. A re-
solução de um problema do quotidiano, de um imprevisto, pode ser considerada como
um ato criativo e original simplesmente por sair fora de uma rotina (mental e física),
dos esquemas habituais de um sujeito. Bem, talvez Antero de Quental tivesse de rever a
sua famosa ideia de que “[...] as grandes, as bellas, as boas cousas se fazem quando se
é bom, bello e grande [...].”24
Numa outra linha de pensamento, David Cropley e Arthur Cropley defendem uma
perspetiva funcional da criatividade, que vai além de questões relacionadas com cons-
truções mentais e com a estética das criações. Para os autores, a criatividade tem de
ter subjacente um carácter prático, de utilização na vida quotidiana do sujeito.25
1.1.1. (Cri)Atividade em contexto escolar: Escola, Professor e Aluno
Desde logo, a sala de aula tem de se constituir como um porto seguro para os
alunos onde exista “[...] compreensão, recetividade, valorização de ideias, criando-se
22 MORAN, Seana – The roles of creativity in society. In KAUFMAN, J.C.; STERNBERG, R.J. – The Cambridge Handbook of Creativity. Inglaterra: Cambridge University Press, 2010. pp. 74-90. 23 ROSA, Elsa – Representação do conceito de criatividade dos pré-adolescentes nas Artes Visuais. Disser-tação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009. p. 35. 24 QUENTAL, Antero de – Bom-senso e bom-gosto: carta ao excellentissimo senhor Antonio Feliciano de Castilho. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1865. 3.ª edição. 25 CROPLEY, David; CROPLEY, Arthur – Functional Creativity. "Products" and Generation of Effective Nov-elty. Inglaterra: Cambridge University Press, 2010. pp. 2-3.
24
situações dotadas de alguma ambiguidade e promotoras assim de desafio cognitivo”.26
Olivia López chama ainda a atenção para uma questão relacionada com a presença de
desafios e estímulos, essenciais para o desenvolvimento de várias capacidades.27
Nas palavras de Denise Fleith e Eunice Alencar, “[...] a criação de um ambiente
harmonioso, estimulador e significativo pode contribuir para o desenvolvimento do
potencial criativo”.28 Por outro lado, tanto Bruno Munari29 como Vygostki30 defendem
que, para se estabelecer um clima propício ao desenvolvimento da criatividade, não
podem existir regras, defendendo a primazia do livre-arbítrio e da liberdade criativa.
É, no entanto, necessário o relacionamento entre esta competência e outras,
como a empatia, a compreensão e outros aspetos relacionados com o campo motivaci-
onal e emocional.31 Tudo isto só é possível graças ao “líder criativo”32 da caixa-forte do
Ensino – o Professor. Para Olivia López, o Professor, para além de assumir um papel de
“educador pensante-criativo”33, deve promover um ensino construtivista, totalmente
centrado no aluno e no desenvolvimento deste. Por outro lado, mas ainda na mesma
linha de pensamento, Solange Wechsler refere que o Professor criativo é aquele:
26 Idem. P. 33. 27 LÓPEZ, Olivia – Enseñar creatividad: el espácio educativo. Bolivia: Universidade Nacional de Jujuy. Cua-dernos de la Faculdad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2008, n.º 35, pp. 61-75. p. 71. 28 FLEITH, Denise; ALENCAR, Eunice – Escala sobre o clima para criatividade em sala de aula. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2005. 2(3), pp. 85-91. p. 87. 29 MUNARI, Bruno – Fantasia. Lisboa: Edições 70, 2015. ISBN: 978-972-44-1357-0. p. 124. 30 VYGOTSKY, Lev Semenovitch – Imaginação e criatividade na infância: ensaio de psicologia. Lisboa: Di-nalivro, 2012. ISBN: 978-972-576-616-3. p. 136. 31 DIAS, Carla – Criatividade no Ensino Básico: um olhar sobre as representações de alunos e professores em escolas públicas e privadas. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2014. pp. 33-34. 32 LÓPEZ, Olivia – Enseñar creatividad: el espácio educativo. Bolivia: Universidade Nacional de Jujuy. Cua-dernos de la Faculdad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2008. N.º 35, pp. 61-75. p. 68. 33 Idem. p. 67.
25
“[...] que está aberto a novas experiências, mostrando ousadia, […],
além de ser apaixonado pelo que faz, trabalhando com prazer e ado-
tando uma postura de facilitador da aprendizagem, capaz de derru-
bar paradigmas da educação tradicional.”34
Eunice Alencar, por sua vez, acrescenta que o antónimo de um Professor criativo
é aquele que prioriza a simples reprodução de conhecimento (neste caso histórico),
não dando “asas” ao desenvolvimento de um pensamento divergente e inibindo, desta
forma, a capacidade criadora dos alunos.35
Neste âmbito, é crucial que o Professor tenha a noção da universalidade da cri-
atividade (ideia já defendida por Fernandes da Fonseca) e que tenha em conta as suas
várias definições e dimensões (individual e social, sobretudo).36
E os aprendizes? Neste sentido, um aluno criativo é aquele que, segundo Denise
Fleith37, demonstra iniciativa e compromisso. Outros autores caracterizam-no como
sendo um aluno “[...] original, imaginativo, com gosto pelo risco, artístico, com bom ní-
vel de vocabulário, […], entusiasmo e curiosidade, apresentando alternativas na resolu-
ção de problemas […].”38
É possível então afirmar que, para a criatividade ser desenvolvida em contexto
escolar é preciso que haja um clima acessível a novas ideias, assim como uma boa rela-
ção entre Professor e Aluno, um elemento-chave para o desenvolvimento desta capa-
cidade. Todavia, podemos assumir o Professor como uma pedra basilar neste pro-
cesso, pois é dele que partem as iniciativas e a construção de atividades e processos
que desafiem os seus alunos.
34 Cit. por DIAS, Carla – Criatividade no Ensino Básico: um olhar sobre as representações de alunos e pro-fessores em escolas públicas e privadas. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2014. p. 34. 35 Apud Idem. Ibidem. 36 Idem. Ibidem. 37 Apud DIAS, Carla – Criatividade no Ensino Básico: um olhar sobre as representações de alunos e profes-sores em escolas públicas e privadas. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2014. p. 35 38 Idem. Ibidem.
26
1.1.2. Avaliar?
A avaliação da criatividade “[...] possui um papel importante, dado que procura
dar um sentido mais objetivo ao pensamento criativo [...].”39
Alguns autores afirmam que o fruto de um processo criativo deveria ser avali-
ado só e apenas por um especialista na área em que foi construído, de forma a evitar
“problemas relativamente à validade dos julgamentos”40. Portanto, por esta lógica,
uma construção mental deveria ser avaliada por um Psicólogo; uma redação avaliada
por um Professor de Português; uma narrativa histórica avaliada por um Professor de
História. No entanto, no contexto desta abordagem – escola/sala de aula –, podemos
considerar como especialistas tanto o Professor como os próprios alunos como indiví-
duos (auto e heteroavaliação), de acordo com Cheng.41
Para além desta ideia de avaliação bipartida (aluno enquanto sujeito, Professor
e aluno enquanto par), existem outros métodos mais técnicos (e eficazes?) para se
avaliar a criatividade, como por exemplo os Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT),
extremamente difundidos na comunidade científica e que são tidos como os mais apli-
cados.42 Este método de avaliação da criatividade foi desenvolvido por Ellis Torrance,
psicólogo americano de renome.
Os TTCT são compostos por um conjunto de 10 provas: 3 figurativas e 7 verbais.
No entanto, a aplicação destes testes em contexto escolar pode-se afigurar como uma
tarefa hercúlea pela gestão do tempo: um teste figurativo tem, por norma, a duração
de 30 minutos, que contabiliza um total de 90 minutos distribuídos pelas 7 provas; por
39 REBOCHO, Carolina – A Criatividade em Contexto Escolar – Avaliação da Criatividade, Características Individuais e Competências Socioeconómicas em crianças do 1.º Ciclo. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, 2020. Dissertação de Mestrado. p. 47. 40 MIRANDA, Júlia – A criatividade no ensino de música: estratégias de desenvolvimento da criatividade nas aulas de contrabaixo. Castelo Branco: Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2020. Dissertação de Mestrado. p. 79. 41 Apud Idem. p. 80. 42 AZEVEDO, Ivete; MORAIS, Fátima – Avaliação da criatividade como condição para o seu desenvolvi-mento: um estudo português do Teste de Pensamento Criativo e Torrance em contexto escolar. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2012. Vol. 10, n.º 2. p. 42.
27
outro lado, uma prova verbal tem a duração de 45 minutos, sendo que, no total das 7,
seriam necessários 315 minutos.43 Em contrapartida, e apesar da morosa aplicação dos
TTCT, estes acabam por avaliar uma grande amplitude de competências, tais como a
fluência, originalidade, flexibilidade, elaboração, abstração dos títulos, resistência ao
fechamento.44
Em suma, independentemente das definições expressas, o que é certo é que to-
dos nós somos criativos à nossa maneira, não podendo ceder a estereótipos e estigmas
de que algo criativo é “new, good and relevant”45. Quer dizer, podemos ceder à ideia
do “new”, porque afinal um ato criativo baseia-se na criação de algo novo. O “good
and relevant” pode ser relegado para segundo plano. É-se criativo a partir do mo-
mento em que se constrói um novo conjunto mental de relações entre uma solução e
um problema. Não obstante, a criatividade extravasa o campo mental aplicando-se ao
campo físico, ao campo material. Outra questão relevante é ainda o papel dado a fato-
res externos ao indivíduo, que são tidos de grande importância no momento de desen-
volver ou inibir a capacidade criativa deste.
1.2. Segundo vértice: Empatia Histórica
O segundo vértice deste “Triângulo das Bermudas” assenta na exploração do
conceito empatia histórica.
Simpatia ou empatia? Fora (e dentro?) da sala de aula estes dois termos são,
por vezes, confundidos. Brené Brown identifica a empatia como algo que “alimenta a
conexão” entre os indivíduos, enquanto a simpatia, por sua vez, “alimenta a descone-
xão”. Neste sentido, a empatia é tida como uma “escolha vulnerável”, no sentido em
43 Idem. p. 43. 44 AZEVEDO, Ivete; MORAIS, Fátima – Avaliação da criatividade como condição para o seu desenvolvi-mento: um estudo português do Teste de Pensamento Criativo e Torrance em contexto escolar. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2012. Vol. 10, N.º 2. p. 44. 45 MIRANDA, Júlia – A criatividade no ensino de música: estratégias de desenvolvimento da criatividade nas aulas de contrabaixo. Castelo Branco: Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2020. Dissertação de Mestrado. p. 75.
28
que um sujeito escolhe, voluntariamente, sentir o mesmo que o outro, escolhe fazer o
exercício de colocar-se numa determinada situação e tentar compreendê-la, tendo
como atividade subjacente o sentimento de emoções (boas ou más) que lhe são exteri-
ores (daí ser uma escolha vulnerável). Por outro lado, a simpatia é tida como uma es-
pécie de eufemismo, no sentido em que se tenta, para se ser simpático, aligeirar uma
situação e encontrar o lado positivo quando, na realidade, não é disso que o sujeito
necessita.46
O foco aqui não é somente a exploração social, cultural e psicológica deste con-
ceito, mas a sua aplicabilidade na disciplina de História tendo em conta outros campos
que o abrangem.
O termo empatia surge em meados do século XIX, sendo que este conceito tem
a sua origem no alemão Einfühlung (ein = em e Fühlung = sentimento), transmitindo
uma ideia de “sentir como”.47 Etimologicamente, a palavra “empatia” provém do
grego empátheia e, conforme a ideia expressa por Cristina Almeida, tem subjacente um
significado de “estar dentro do sentimento”.48 Já no contexto do saber histórico, este
termo foi utilizado, pela primeira vez, pelo historiador Robin Collingwood.49
O conceito de empatia, no entanto, está no epicentro de grandes discussões na
comunidade científica. Como refere Clarisse Ferreira, é um conceito que para muitos
Professores, Historiadores e Investigadores é tido como algo “inatingível” e, portanto,
46 Esta distinção é problematizada por Brené Brown numa palestra organizada pela RSA (The royal society for arts, manufactures and commerce). A palestra, de onde a informação foi retirada, está disponível na plataforma YouTube. [Consult. 27 jul 2021]. Disponível em: https://bit.ly/3yz6T0q. 47 SILVA, Mariana – A Empatia como estratégia para o Ensino-Aprendizagem em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018. Dissertação de Mestrado. p. 15. 48 ALMEIDA, Cristiana – O Desenvolvimento da Empatia História em Alunos do 7.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2019. Dissertação de Mestrado. p. 13. 49 Idem. Ibidem.
29
fora do nosso alcance, assim como fora do alcance dos alunos. Para outros, este con-
ceito prende-se simplesmente com uma ideia de “[...] afinidade [...] para com os agen-
tes históricos [...]”.50
Como assumem Jason Endacott e Sarah Brooks, nos primeiros anos de pesquisa
sobre o conceito de empatia histórica, esta era tida como uma construção cognitiva
indo, deste modo, ao encontro de uma ideia de que a empatia estava na mesma linha
do ato que tem por base construir e ter uma perspetiva sobre algo ou um determinado
acontecimento. Posteriormente, a análise deste conceito passou para uma ideia de
“duplo-domínio”, ou seja, a empatia passa a ser, simultaneamente, uma análise dos
pensamentos e dos atos de alguém e que, num posterior momento, se vai interligar de
uma forma afetiva com a figura histórica e com o background desses pensamentos ou
atos.51
Ainda de acordo com o pensamento destes autores, uma das tarefas essenciais
neste domínio de se “sentir como” é a capacidade de um indivíduo saber distinguir o
presente do passado sem, no entanto, descartar a possibilidade de um certo entendi-
mento deste último não fazendo, por isso, logo um julgamento:
“Historical empathy requires one to discern the difference between
life in the present and life in a distant past while maintaining the pos-
sibility that past perspectives hold some validity [...].”52
No entanto, importa também referir que o saber distinguir o presente do pas-
sado e simultaneamente conseguir compreender a validade deste último requer, como
afirmam os autores já mencionados, uma abordagem cognitiva por um lado, e uma
50 FERREIRA, Clarisse – O papel da empatia histórica na compreensão do outro. In BARCA, Isabel; SCHMIDT, Auxiliadora (ORG.) – Educação Histórica. Investigação em Portugal e no Brasil. Actas das Quintas Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educa-ção. Instituto de Educação e Psicologia, 2009. p. 116. 51 ENDACOTT, Jason; BROOKS, Sarah – An Updated Theoretical and Pratical Model for Promoting Historical Empathy. Social Studies Research And Practice (SOCSTRPR) [em linha]. 2003, Vol. 8, N.º 1. [Consult. 21 jul 2021]. Disponível em: https://bit.ly/3itvduS. p. 42. 52 Idem. Ibidem.
30
abordagem afetiva por outro. É imperativo, no entanto, que os alunos (e outros sujei-
tos) tenham uma capacidade de compreensão (histórica) de modo a que compreen-
dam o funcionamento das mentes dos indivíduos num passado longínquo. Para Peter
Lee, citado por Clarisse Ferreira:
“Os alunos precisam de compreender por que motivo as pessoas ac-
tuaram no passado de uma determinada forma e o que pensavam so-
bre a forma como o fizeram. A consequência directa de os alunos não
compreenderem o passado é que este se torna numa espécie de casa
de gente desconhecida a fazer coisas ininteligíveis ...".53
Neste sentido, Davidson, citado por Cristiana Almeida, assume que a parte cogni-
tiva se prende com pensamentos, enquanto a afetiva diz respeito a sentimentos. Por
exemplo, na parte cognitiva podemos desde logo introduzir a ideia de distinguir o pas-
sado como algo diferente da atualidade. Dentro da componente afetiva podemos iden-
tificar, por exemplo, o respeito por outros pontos de vista.54
Não obstante, “[...] a empatia não pressupõe uma identificação com a ação do
agente histórico, mas antes um exercício de descentramento entre o nosso próprio
ponto de vista e o do observado.”55 Importa ainda salientar que “compreender” não é,
de todo, sinónimo de “aceitar” ou “compactuar”. Neste sentido, a empatia é sinónimo
de compreensão sendo que, um sujeito, depois de uma análise e de estabelecer rela-
ções entre o tempo e a ação, pode ou não aceitar a ação tomada pelo sujeito histórico
em análise.
53 FERREIRA, Clarisse – O papel da empatia histórica na compreensão do outro. In BARCA, Isabel; SCHMIDT, Auxiliadora (ORG.) – Educação Histórica. Investigação em Portugal e no Brasil. Actas das 5.ªs Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educa-ção. Instituto de Educação e Psicologia, 2009. p. 116. 54 ALMEIDA, Cristiana – O Desenvolvimento da Empatia História em Alunos do 7.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2019. Dissertação de Mestrado. p. 14. 55 SILVA, Mariana – A Empatia como estratégia para o Ensino-Aprendizagem em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018. Dissertação de Mestrado. p. 20.
31
Mariana Silva exemplifica esta ideia com a utilização de uma relação empática
dos estudantes face a conteúdos relacionados com a 2.ª Mundial, focando o Na-
zismo.56 Mas, dando outro exemplo, é-nos possível levar os alunos a criar uma relação
de empatia, por exemplo, com os conteúdos relacionados com a Expansão Marítima
Europeia (8.º e 11.º anos) e, posteriormente, com problemáticas como o tráfico ne-
greiro, a escravatura ou o racismo. Os alunos podem de facto compreender que estes
processos se inserem num contexto de “globalização” e, no entanto, terem uma posi-
ção particular face a estas problemáticas.
Por outras palavras, a empatia não pressupõe uma linearidade de valores. Ou
seja, os alunos não podem, neste contexto, assumir que os seus valores cívicos e mo-
rais atuais são os mesmos que no século XVI ou no século XX. É necessário um desen-
volvimento da sua capacidade cognitiva de forma a compreenderem que há processos
históricos compostos por ruturas e continuidades podendo, ou não, haver uma seme-
lhança ou até mesmo um fac-símile de ideologia, pensamento, valores entre o seu
tempo e o passado histórico.
Para Endacott e Brooks, a empatia permite aos alunos desenvolverem uma outra
perspetiva das figuras históricas, que passam a ser tidas não somente como “indivíduo
histórico”, mas também como homens e mulheres vulneráveis como qualquer outra
pessoa, assim como eles próprios (alunos), e que passaram por um processo que as le-
varam a tomar as decisões em análise:
“The process of forming affective connections to the past enables
students to view historical figures as human beings who faced very
human experiences and leads to a richer understanding than per-
spective taking alone.”57
56 Idem. p. 21. 57 ENDACOTT, Jason; BROOKS, Sarah – An Updated Theoretical and Pratical Model for Promoting Historical Empathy. Social Studies Research And Practice (SOCSTRPR) [em linha]. 2003, Vol. 8, N.º 1. [Consult. 21 jul 2021]. Disponível em: https://bit.ly/3itvduS. p. 42.
32
Numa outra perspetiva, ainda que consonante, é possível citar Sam Wineburg re-
ferido por Monfort, Vásquez, Joan Blanch e Antoni Fernández, que assume que “[...] lá
comprensión histórica se produce [...] a partir de la exploración de los dilemas éticos
que sienten los protagonistas de la Historia.”58 Acrescentando outra ideia neste ponto,
Clarisse Ferreira refere que “dado a empatia histórica ter como objectivo tomar inteligí-
veis às mentes contemporâneas determinadas práticas, instituições ou acções do pas-
sado [...]”, estas questões devem ser apresentadas na forma de “dilemas empáticos”.
Para a mesma autora, estes dilemas “[...] devem provocar nos alunos um conflito inte-
rior entre os seus valores, crenças e práticas actuais e aquelas que existiram num de-
terminado contexto histórico.”59
Cabe, portanto, aos Professores desafiarem os seus alunos neste sentido, apre-
sentando ideias e fazendo com que estes pensem por si mesmos numa determinada
situação e face ao contexto em que ela foi tomada, a tentem compreender. Como sali-
enta Rafaela Moreira, “os alunos necessitam de desenvolver um pensamento mais com-
plexo de forma a compreenderem o que estão a estudar e isso só é possível com a rea-
lização de tarefas desafiadoras.”60
Cristiana Almeida chama a atenção para uma questão importantíssima – o papel
das fontes. No contexto desta abordagem, a fonte histórica, já por si de extrema impor-
tância, torna-se fulcral. Para os discentes conseguirem estabelecer uma relação empá-
58 MONFORT, Neus González, et al. – El aprendizaje de la empatía histórica (eh) en educación secundaria análisis y proyecciones de una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje del conflicto y la convi-vencia en la Edad Media. In RUIZ, Rosa María; BORGHI, Beatrice; MATTOZZI, Ivo – L'educazione alla cit-tadinanza europea e la formazione degli insegnanti. Un progetto educativo per la "Strategia di Lisbona": atti XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales: I Convegno Internazionale Italo-Spag-nolo di Didattica delle Scienze Sociali. Bolonha, 2009. ISBN 978-88-555-3022-4. pp. 283-290. pp. 284-285. 59 FERREIRA, Clarisse – O papel da empatia histórica na compreensão do outro. In BARCA, Isabel; SCHMIDT, Auxiliadora (ORG.) – Educação Histórica. Investigação em Portugal e no Brasil. Actas das 5.ªs Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educa-ção. Instituto de Educação e Psicologia, 2009. p. 117. 60 MOREIRA, Rafaela – A multiperspetiva em História – um estudo com alunos do Ensino Secundário Re-corrente. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2020. Dissertação de Mestrado. p. 21.
33
tica fundamentada e que una simultaneamente os campos cognitivo e afetivo, é neces-
sário transportar para a sala de aula uma variedade de fontes que permitam uma me-
lhor compreensão dos acontecimentos:
“Quanto mais fontes e mais diversas, maior será o número de visões
dos atores históricos e isso resulta automaticamente no entendi-
mento dos alunos de que as perspetivas são variadas e apresentam
lados diferentes de uma mesma situação [...].”61
Aqui estamos perante dois campos com grande importância no ensino da Histó-
ria: por um lado, a questão da empatia, em escrutínio; por outro, a questão da multi-
perspetiva no que diz respeito às fontes históricas, que está ao serviço da empatia. É
importante que os alunos compreendam que existia uma multiplicidade de pensamen-
tos, assim como existe no tempo atual, e que, assim como agora, as opiniões divergiam
tornando-se desta forma essencial a apresentação de várias fontes com vários pontos
de vista.
Numa outra via, e ainda nesta questão das fontes, para Maria Helena Veríssimo a
empatia torna-se fundamental no momento da interpretação das fontes, pois:
“Para interpretar uma fonte é necessário compreender que as pes-
soas no passado pensavam, sentiam e acreditavam de forma dife-
rente da nossa, porque viviam em sociedades com diferentes bases
de conhecimentos, sistemas de valores, visões do mundo e também
diferentes contextos sociais, políticos e económicos.”62
Numa outra perspetiva, os alunos, para Peter Lee, devem estar aptos para esta-
belecer “[...] ligações entre intenções, circunstâncias e ações [...]”, sendo que esta ta-
refa só consegue ser devidamente levada a cabo com “[...] o uso da evidência [...]”, ou
61 ALMEIDA, Cristiana – O Desenvolvimento da Empatia História em Alunos do 7.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2019. Dissertação de Mestrado. p. 16. 62 MOREIRA, Rafaela – A multiperspetiva em História – um estudo com alunos do Ensino Secundário Re-corrente. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2020. Dissertação de Mestrado. p. 21.
34
seja, das fontes históricas, que permitam “[...] estabelecer conexões entre a situação
na qual as pessoas se encontraram, as crenças que tiveram sobre essa mesma situa-
ção, os seus valores e ideias sobre o seu mundo.”63
De acordo com as ideias de Mariana Silva, acredita-se que o desenvolvimento
desta capacidade na aula de História ajuda na “[...] na compreensão das atitudes das
pessoas, facilitando as relações interpessoais [...].”64 Ou seja, podemos assumir que o
desenvolvimento da empatia histórica em aula permite aos alunos, ao mesmo tempo
que aprendem História, desenvolver uma inteligência definida por Howard Gardner – a
Inteligência Interpessoal. De acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas, esta carac-
teriza-se por uma “[...] capacidade de perceber e distinguir os estados de espírito, as
intenções, as motivações e os sentimentos de outras pessoas [...].”65 Ainda de forma a
completar esta ideia, Mariana Silva menciona que ”ao perceber o outro, o aluno vai ter
uma postura de respeito e compreensão [...]”, tornando deste modo o processo de en-
sino-aprendizagem mais eficaz (pelo menos na teoria).66
Em suma, pode-se traduzir o conceito “empatia” na célebre ideia de “calçar os
sapatos do outro”. É um exercício de inversão de papéis onde nos descentramos do
nosso Ego e tentamos percecionar a História com outros olhos. Como se viu, trabalhar
a empatia é trabalhar, em simultâneo, outras competências como a multiperspetiva no
caso da aplicação das fontes históricas (fundamental), ou então desenvolver aquilo
que Cristiana Almeida identificou como “conhecimento mediado”, o conhecimento his-
tórico aprendido em sala de aula. Empatia é também sinónimo de vulnerabilidade, no
63 LEE, Peter – Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé. Compreensão das pessoas do passado. In BARCA, Isabel – Educação Histórica e Museus. Actas das Segundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educação. Instituto de Educação e Psicologia, 2003. p. 20. 64 SILVA, Mariana – A Empatia como estratégia para o Ensino-Aprendizagem em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018. Dissertação de Mestrado. p. 17. 65 DUARTE, Duarte – O Ensino da História para o século XXI: Uma perspetiva sustenta na teoria das Inteli-gências Múltiplas. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2019. Dissertação de Mestrado. p. 44. 66 SILVA, Mariana – A Empatia como estratégia para o Ensino-Aprendizagem em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018. Dissertação de Mestrado. p. 17.
35
sentido em que é necessário um exercício de se tentar (não necessariamente) sentir as
emoções do outro e “[...] alcançar a visão das pessoas do passado”67, neste caso de
uma figura histórica. A empatia histórica pode também estar, no campo afetivo, ligada
às emoções. Por exemplo, se o tema é a Expansão Marítima Europeia, as emoções po-
dem ser várias: tristeza, por exemplo quando se fala das Mulheres que ficam; raiva ou
injustiça, quando se fala do tráfico negreiro.
Ainda um dos benefícios da empatia histórica é uma melhor compreensão do
outro, uma atitude mais respeitosa face àquilo que não faz parte da esfera íntima de
um indivíduo. No ensino, esta capacidade pode também permitir uma melhor compre-
ensão dos conteúdos a serem lecionados pois, ao ter uma visão mais ampla e mais inti-
mista sobre as personalidades históricas em abordagem, os conteúdos podem ser assi-
milados de uma forma que seja mais fácil para o estudante.
1.3. Terceiro vértice: Consciência História (e Rüsen)
Neste terceiro subponto analisamos o conceito de consciência histórica, essen-
cialmente com base nas ideias defendidas pelo alemão Jorn Rüsen. De forma a introdu-
zir este tópico, o autor acima mencionado assume a consciência histórica como vital
para a compreensão da utilidade da História. Para Rüsen, “a consciência histórica é a
realidade a partir da qual se pode entender o que a história é, como ciência, e porque
ela é necessária.”68
Rüsen, na obra Razão Histórica, entende a consciência histórica como a:
“suma das operações mentais com as quais os homens interpretam
sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos,
67 ALMEIDA, Cristiana – O Desenvolvimento da Empatia História em Alunos do 7.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2019. Dissertação de Mestrado. p. 15. 68 RÜSEN, Jorn – Razão Histórica. Brasil: Editora Universidade de Brasília, 2001. p. 56.
36
de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática
no tempo”.69
Através deste breve excerto podemos, desde logo, assumir que a utilidade da
consciência histórica é guiar (orientar) a vida prática no tempo presente com base em
acontecimentos passados, que podem servir como um ponto de partida e de sustento
de ações.
Numa outra perspetiva, e focando o caso concreto dos estudantes europeus,
José Machado Pais, depois de colocar a tónica do seu pensamento na ideia de “memória
coletiva”, remata que:
“É sabido que a História não tem um sentido independente daquele
que os indivíduos lhe dão. Por isso, o estudo das formas de consciên-
cia histórica é uma forma de conhecimento que nos permite desco-
brir como os indivíduos vivem com os «fantasmas» do passado e, si-
multaneamente, os utilizam como forma de conhecimento.”70
Neste sentido, para Machado Pais, a consciência histórica assenta na ideia de se
utilizar a perceção do passado para se atuar no presente “como forma de conheci-
mento”. No entanto, o autor, assim como Jorn Rüsen, defendem que a consciência his-
tórica não é sinónimo de conhecimento histórico. Neste caso, a consciência dá sentido
ao conhecimento.71 Todavia, na perceção deste último (Rüsen), a consciência histórica
tem de se basear e ter em conta os três tempos: passado, presente e futuro. É neces-
sário ter em conta as interpretações do passado para se compreender o presente e,
consequentemente, ver o futuro ou presumir o que este será.72
69 Idem. p. 57. 70 PAIS, José Machado – Consciência História e Identidade. Os jovens portugueses num contexto europeu. Oeiras: Celta Editora, 1999. p. 1. 71 Idem. p. 2. 72 Apud SOLÉ, Glória – A consciência histórica e a significância histórica em alunos portugueses: um estudo de caso longitudinal com alunos do 1.º CEB. Braga: LAPEDUH, 2013. p. 5
37
Rüsen distingue dois campos por vezes confundidos: memória e consciência.
Para o autor, a memória histórica está mais ligada ao campo da imaginação e da narra-
tiva, enquanto a consciência história está relacionada com o campo cognitivo. Uma ou-
tra diferença apontada é a questão de a memória estar ligada ao passado, às memó-
rias. Já a consciência histórica “aponta para o futuro”.73 Repare-se que no parágrafo
anterior, José Pais expressou esta ideia de que a consciência histórica é a utilização dos
“fantasmas do passado” como forma de conhecimento para fundamentar uma ação no
presente.
Para Rüsen, de acordo com a perceção de Glória Solé, existem quatro etapas para
o desenvolvimento, ao nível cognitivo, de uma consciência histórica fundamentada:
I. “Percepção de um tempo diferente”;
II. “Interpretação deste tempo como movimento temporal”;
III. “Orientação da prática humana através da interpretação histórica”;
IV. “[...] a motivação para a ação que proporciona uma orientação”.74
Por outras palavras, a nível cognitivo, o indivíduo para desenvolver uma consci-
ência histórica tem de contemplar a ideia de rutura e continuidade aplicada à História
e ao tempo per se, compreender que o seu tempo (presente) não é igual ao passado,
mas sim uma evolução (continuidade) do mesmo. Por outro lado, o indivíduo tem de
assumir os “fantasmas do passado” como algo útil na sua ação como sujeito e cidadão
no tempo presente, no entanto, e como é referido, para tal ser levado a cabo é neces-
sária uma vontade, uma “motivação” para levar o pensamento, a memória, a consciên-
cia histórica a ser aplicada e desenvolvida.
73 Apud Idem. p. 3. 74 Apud Idem. p. 4.
38
Rüsen vai mais longe e identificou quatro tipos distintos de consciência histó-
rica75:
• Tipo tradicional, onde a História se baseia na tradição, ou seja, numa
ideia de continuidade. Neste tipo de consciência o passado obrigatoria-
mente orienta o presente e, por força do hábito, da tradição, orienta
também o futuro que não pode fugir à regra. Nas palavras de Rüsen, “as
tradições se tornam visíveis e serão aceitas e reconstruídas como orien-
tações estabilizadoras da própria vida prática”.76
• Tipo exemplar, em que a História é somente o estudo do passado cujo
seu principal objetivo é dar exemplos e lições que guiam o tempo pre-
sente.77
• Tipo crítico, que contraria a História como elemento agregador do con-
junto tripartido do tempo: passado, presente e futuro. A História, neste
tipo de consciência, é tida somente como rutura nesta continuidade
temporal. Neste tipo de consciência, o que importa é a “[...] a capaci-
dade de negar a identidade pessoal e social do modelo histórico afir-
mado”.78
• Tipo genético, que assenta na máxima de que a História é composta
por mudanças. Ou seja “[...] a mudança [...] é o que dá sentido ao pas-
sado, existindo assim uma visão dinâmica do tempo [...]”.79 Neste tipo
75 Apud SOLÉ, Glória – A consciência histórica e a significância histórica em alunos portugueses: um estudo de caso longitudinal com alunos do 1.º CEB. Braga: LAPEDUH, 2013. p. 6. 76 RÜSEN, Jorn – Aprendizado Histórico. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (ORG.) – Jörn Rüsen e o Ensino de História. Curitiba: Editora da UFPR, 2011. p. 45. 77 Idem. pp. 45-46. 78 Idem. p. 46 79 Apud SOLÉ, Glória – A consciência histórica e a significância histórica em alunos portugueses: um estudo de caso longitudinal com alunos do 1.º CEB. Braga: LAPEDUH, 2013. p 6.
39
de consciência todos os pontos de vista são aceites pois são vistos como
algo próprio do processo temporal.80
Estes diferentes tipos de consciência são desenvolvidos através “[...] do contato
com diversas naturezas de narrativas que buscam, no presente, representar ou recons-
truir elementos do passado”.81
Nas escolas, por hábito, desenvolvem-se os tipos de consciência mais tradicio-
nais (tipo tradicional e tipo exemplar) pelo simples facto de exigirem menos trabalho
por parte dos Professores, assim como por exigirem menos esforço aos alunos, sendo
que, como afirma Rüsen “[...] os modos críticos e genéticos [...] são mais raros [...]”.82
A título de referência, podemos explorar de forma breve um conceito de se-
gunda ordem associado ao conceito de consciência histórica expresso por Glória Solé,
de acordo com a obra de Rüsen: “significância histórica”. Podemos assumir este con-
ceito como uma “[...] noção de interpretação e de importância histórica [...]”.83 Por ou-
tras palavras, a significância histórica pode contribuir para uma distinta perceção de
um determinado acontecimento, pois essa mesma perceção depende do valor, da im-
portância que o sujeito lhe atribui. Solé, neste sentido, refere que:
“A significância histórica é um dos procedimentos mentais usados pe-
los historiadores, quando confrontados com o que selecionar do pas-
sado, avaliam e interpretam os acontecimentos, factos e fenómenos
mais relevantes e historicamente significativos para a compreensão
do passado humano.”84
80 RÜSEN, Jorn – Aprendizado Histórico. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (ORG.) – Jörn Rüsen e o Ensino de História. Curitiba: Editora da UFPR, 2011. p. 47. 81 POTIER, Leda; POTIER, Robson – Consciência Histórica, ensino de História e orientações no tempo para a vida prática: o uso produções cinematográficas no desenvolvimento de conhecimento histórico. Brasil: XXVII Simpósio Nacional de História, 2013. p. 7. 82 Apud SOLÉ, Glória – A consciência histórica e a significância histórica em alunos portugueses: um estudo de caso longitudinal com alunos do 1.º CEB. Braga: LAPEDUH, 2013. p. 5. 83 Apud Idem. Ibidem. 84 Idem. Ibidem.
40
Ainda nesta abordagem do conceito “significância histórica”, o autor José Ma-
chado Pais assume que só é atribuída uma significância por ser algo que é evocado.85
Ou seja, independentemente do tempo passado que se aborde, este tem sempre um
significado (maior ou menor consoante a sua utilização e pertinência), pelo facto de
um sujeito ter necessitado de o evocar no seguimento de uma conversa, discussão,
construção de um pensamento crítico acerca de uma determinada situação.
Em jeito de síntese, e como afirma José Machado Pais, “a consciência histórica é a
convocação permanente do passado ao presente”.86 O desenvolvimento desta capaci-
dade é um exercício que permite aos alunos compreenderem o seu tempo presente a
partir do passado, concebendo a ideia de continuidade e rutura temporais. Apesar de
o ónus neste conceito ser uma dicotomia entre passado e presente, o futuro entra na
equação, no sentido em que este pode ser compreendido à luz do presente e do pas-
sado. Seja qual for o tipo de consciência que se desenvolva87, há sempre uma noção
temporal que engloba as suas três componentes. Não obstante, o comum em todos os
tipos de consciência é a presença da História, que é tida como tradição e exemplo, ou
como rutura e continuidade. Como vimos, estas ideias são muito voláteis na medida
em que dependem da significância histórica atribuída aos factos históricos evocados
pelo indivíduo (utilizando as ideias de José Machado Pais).
Tendo em consideração o que foi expresso, a consciência histórica resume-se
numa ideia basilar de se fazer do passado presente, ou seja, utilizar o passado como
forma de justificar ações “aqui e agora” e de planear o futuro, em alguns casos. São os
“fantasmas do passado” que constroem uma ideia de memória coletiva e que, através
desta, os sujeitos se moldam a si e às suas ações.
85 PAIS, José Machado – Consciência História e Identidade. Os jovens portugueses num contexto europeu. Oeiras: Celta Editora, 1999. p. 2. 86 Idem. p. 3. 87 Como se viu, Rüsen defende a existência de 4 tipos distintos de consciência histórica (ou tipos de apren-dizado histórico): tradicional, exemplam, crítico e genético.
41
2. “Os fins justificam os meios”?
Neste segundo capítulo do Enquadramento Teórico iremos abordar os recursos
que sustentam as intervenções práticas concebidas e aplicadas em sede de Estágio e
que são relatadas no Enquadramento Prático do presente Relatório, mais concretamente
no Capítulo 3.
A primeira parte deste capítulo está reservada a uma abordagem da Banda Dese-
nhada. Serão definidos conceitos, recorrendo a vários autores que têm posições dife-
rentes no momento de definir o que é uma Banda Desenhada. Por outro lado, as com-
ponentes que permitem a construção de uma BD serão também analisadas, embora de
forma breve. Como não poderia deixar de ser, será realizada também uma viagem no
tempo, explorando a evolução da Banda Desenhada ao longo da História.
O segundo subcapítulo está reservado a uma nova componente cuja pesquisa se
afigurou uma epopeia cheia de Adamastores – as potencialidades da utilização de re-
cursos alusivos a Super-Heróis no ensino. Aqui, para além de se explorar a ideia de “su-
per-herói” e das comics que estão subordinadas a esta temática, iremos também ten-
tar compreender de que forma estes recursos podem ser considerados um instru-
mento útil no processo de ensino-aprendizagem de História (e não só). Ao longo do
subcapítulo serão também, tanto quanto possível, abordadas as cautelas a ter quando
se utiliza este tipo de recursos na aula. E por que motivo é que a pesquisa foi cheia de
Adamastores? Bem, como se irá ver posteriormente, o “estado da arte” não é muito
favorável, não existindo obras que permitam um sustento teórico consistente, exis-
tindo vários artigos dispersos com algumas limitações.
A principal questão que procuramos responder neste capítulo é se “os fins justifi-
cam os meios”, sendo que os fins neste caso são o desenvolvimento da Criatividade, da
Empatia e da Consciência histórica dos discentes, conceitos que foram explorados no
primeiro capítulo do presente Relatório. Os meios são a banda desenhada e o cinema
subordinados a uma peculiar temática – Super-Heróis. Terminado este prólogo, vamos
lá ao que interessa!
42
2.1. A “Nona Arte”
Decorria o ano de 1999 quando Rui Bandeira, em maio, apresentou pela pri-
meira vez o êxito que iria representar Portugal no Festival da Eurovisão desse mesmo
ano. A música começava com uma questão inquietante: “Quem me vai dizer como
tudo começou?”. E é precisamente essa a questão que se coloca agora… Quem é que
vai dizer como tudo começou? Não é a história de um amor não correspondido que se
torna correspondidíssimo (um clichê e um guilty pleasure, convenhamos), nem a Histó-
ria da criação do Mundo (que já sabemos que foi em seis dias e 24 horas, ou pelo me-
nos assim se conta), mas sim como surgiu a Banda Desenhada.
Fazendo um breve estado da arte, podem-se destacar três obras, de dois auto-
res estrangeiros, que permitiram organizar ideias:
• Understanding Comics: The Invisible Art, de Sott McCloud88;
• Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels,
de Scott McCloud89;
• Comics & Sequential Art, de Will Eisner90.
Pode-se ainda destacar o relatório de estágio de Juliana Pereira, intitulado A
Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de História e Geo-
grafia91. Este trabalho permitiu-me encontrar autores e ter em consideração algumas
ideias tecidas sobre a autora face à utilização destes recursos.
88 MCCLOUD, Scott – Understanding Comics: The Invisible Art. Nova Iorque: Harper, 1994. 89 MCCLOUD, Scott – Making Comics. Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. Nova Iorque: Harper, 2006. 90 EISNER, Will – Comics & Sequential Art. Florida: Poorhouse Press, 1985. 91 PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de História e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017. Dissertação de Mestrado.
43
2.1.1. A lotaria dos conceitos e da sua definição
Comecemos pela exploração de conceitos, sendo que existem três que por ve-
zes são confundidos: banda desenhada (ou história em quadrinhos como variante do
Português do Brasil), comic e cartoon. Neste sentido, Will Eisner prefere o termo “arte
sequencial”92, que podemos considerar uma definição mais abrangente.
Banda Desenhada, história em quadrinhos, comics, fumetti (italiano), mangá
(japonês), é uma “sequência de imagens acompanhadas ou não de textos (legendas,
diálogos, pensamentos), através da qual é narrada uma história [...]”93. O termo
“Banda Desenhada” é uma designação que varia do termo francófono “bande dessi-
née” e em Portugal adotou-se o termo Banda Desenhada “[...] dada a grande influên-
cia da cultura francófona [...].”94
Desta equação de conceitos devemos, no entanto, retirar o conceito cartoon
que, para Rui Zink, “[...] é um desenho satírico ou crítico, acompanhado ou não de le-
genda [...].”95 Apesar desta definição, o autor admite que a linha que separa um car-
toon duma comic é muito ténue96. De facto, tendo em conta algumas ideias gerais,
uma comic (ou Banda Desenhada) tem como objetivo narrar uma história através de
uma sequência lógica de imagens, que têm em si uma perfeita harmonia entre o literá-
rio e o gráfico. Por outro lado, o cartoon tem como principal objetivo a crítica e, apesar
de uma das suas principais características ser a presença do grafismo, do desenho,
92 EISNER, Will – Comics & Sequential Art. Florida: Poorhouse Press, 1985. 93 Banda Desenhada in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 2020-12-13 17:49:32]. Disponível na Internet em: https://www.infopedia.pt/diciona-rios/lingua-portuguesa/Banda%20Desenhada. 94 AZINHEIRO, Vasco – A Utilização da Banda Desenhada nas Aulas de História e Geografia do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Escola de Educação, Administração e Ciências Sociais da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. p. 38. 95 Cit. por PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de História e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017. Dissertação de Mes-trado. p. 20. 96 Apud PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de His-tória e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017. Dissertação de Mestrado. p. 20.
44
este pode ou não conter texto, não se revelando uma componente essencial, en-
quanto para a Banda Desenhada é (tendo em consideração a maioria dos autores).
Will Eisner, um dos artistas mais conceituados na área da Nona Arte, afirma o se-
guinte:
“O formato da banda desenhada apresenta uma montagem de pala-
vra e de imagem, e o leitor deve, portanto, exercer as suas habilida-
des interpretativas visuais e verbais. Os regimes da arte [...] e os regi-
mes da literatura sobrepõem-se. A leitura de uma banda desenhada
é um ato tanto de perceção estética quanto de busca intelectual.”97
Para além de haver a obrigatória necessidade de existir uma história visual nar-
rada em sequência (a arte sequencial), Eisner defende que uma BD para ser conside-
rada como tal tem de ter dois elementos em (quase) perfeita consonância: o elemento
visual e o textual. Ainda na ideia deste autor, nenhum destes campos se sobrepõe ao
outro, mas existem em simultâneo, ou seja, não confere primazia a nenhum dos cam-
pos que, como defendem outros autores. No entanto, não podemos negar que o
campo visual é, de facto, uma das características mais proeminentes numa Banda De-
senhada, por ser aquele que capta de imediato o olhar do leitor.
No estudo realizado por Pedro Mota e Teresa Guilherme, citado por Vasco Azi-
nheiro, é reforçada esta ideia de simbiose entre texto e imagem e também é susten-
tada a posição de uma Banda Desenhada exigir uma “[...] diferente participação por
parte do leitor: receptiva e perceptiva, respetivamente.”98. Este diferente envolvi-
mento por parte do leitor prende-se, na perspetiva destes autores, com “[...] a integra-
ção do espaço visual da imagem e do tempo narrativo do texto [...]”.99 Desde já pode-
mos assumir a importância deste recurso no ensino (que já tem vindo a ser visível em
97 EISNER, Will – Comics & Sequential Art. Florida: Poorhouse Press, 1985. p. 8. 98 Apud AZINHEIRO, Vasco – A Utilização da Banda Desenhada nas Aulas de História e Geografia do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Escola de Educação, Administração e Ci-ências Sociais da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. p. 26. 99 Idem. Ibidem.
45
algumas disciplinas) pelo simples facto de promover, de forma simultânea, o desenvol-
vimento de competências ligadas à interpretação e à compreensão, neste caso textual
e visual.
Uma outra definição que acaba por ser semelhante às anteriores é dada por Al-
berto Pessoa que reforça este casamento entre o texto e o visual:
“As histórias em quadradinhos [comics, cartoons] são uma multiarte
que se utiliza de monoartes como o desenho, a escrita e a narrativa
para gerar um meio de comunicação que ao mesmo tempo é de
massa e subjetivo, já que a sua leitura é um exercício individual.”100
Neste breve excerto da obra de Pessoa, podemos atentar na seguinte ideia:
“[...] que ao mesmo tempo é de massa [...]” e é precisamente nesta linha de pensa-
mento que é possível referir uma definição expressa por Rodríguez Diéguez, citado por
Eva Egaña e Margarita Bedoya que nos assume que:
“el cómic es, por una parte, un medio de comunicación de masas, im-
pensable sin ese requisito de difusión masiva. Por la otra, es un sis-
tema de significación con un código propio y especifico tenga o no
una difusión masiva.”101
Esta ideia pode ser dividida em duas partes distintas. A primeira prende-se com
o facto de se assumir a Banda Desenhada como um “meio de comunicação de mas-
sas”. Quando se utiliza o termo “cultura de massas” assumimos imediatamente uma
cultura difundida em grande escala e que está acessível a (quase) toda a população.
Kellner, citado por Gustavo Ribeiro, remata que é:
“[...] uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetá-
culos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo
100 PESSOA, Alberto – Histórias em quadradinhos: um meio intermediático. Universidade Presbiteriana Mackenzie [em linha], 2008. [Consult. a 11.08.2021]. Disponível em: https://bit.ly/3yA8jXO. p. 1. 101 Cit. por EGAÑA, Eva; BEDOYA, Margarita – El comic como recurso didactico: una reflexion coeducativa. Espanha: Ediciones Universidad de Valladolid, 1989. p. 54.
46
de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais
[...].”102
Já a segunda parte diz respeito à ideia de a Banda Desenhada possuir um “sis-
tema de significação com um código próprio e específico”. Através deste pensamento,
é possível afirmar que à semelhança de qualquer outra arte, também a Banda Dese-
nhada tem o seu próprio processo de construção que segue um conjunto de normas,
assim como um processo característico para se compreender a mensagem que está a
ser transmitida. Neste sentido, é um processo que exige não só o “casamento” harmo-
nioso entre duas componentes distintas (visual e textual), mas também a compreen-
são da obra que é analisada com duas perspetivas diferentes (visual e literária).
Scott McCloud caracteriza a Banda Desenhada como sendo uma “justaposição
pictórica [...] em sequência deliberada com a intenção de comunica informação e/ou
para produzir uma resposta estética para o visualizador.”103. McCloud, para além de ter
em conta as ideias de Eisner, coloca um claro ónus na parte visual descurando, de certo
modo, a parte literária, pois, para ele, a característica essencial é a imagem, que acaba
por exemplificar através de uma referência aos hieróglifos egípcios como sendo um
exemplo claro e concreto desta ideia104. No entanto, esta definição proposta foi no
sentido de se promover uma definição geral que não enviesasse o processo de cons-
trução quer fosse o criativo, quer o da impressão do papel e que não comprometesse o
género da comic (fantástico, suspense, ficção científica)105.
Uma posição muito semelhante à de McCloud é a de Thierry Groensteen, que as-
sume mesmo ter uma posição de concordância. Este acredita que:
102 Cit. por RIBEIRO, Gustavo – Um entretenimento para os tempos de guerra: representações e propa-ganda ideológica em Captain America Comics (1941-1943). Brasil: XXVIII Simpósio Nacional de História [em linha]. 2015. [Consult. a 12/08/2021]. Disponível: https://bit.ly/3jsYHK1. p. 1. 103 MCCLOUD, Scott – Understanding Comics: The Invisible Art. Nova Iorque: Harper, 1994. p.9. 104 Idem. p. 12. 105 Idem. pp. 20-23.
47
“[...] as bandas desenhadas são feitas de imagens que são separadas
entre si e sobredeterminadas pela sua coexistência na sua apresenta-
ção. O leitor pode ver várias imagens que partilham o mesmo espaço
[...], e relações plásticas e semânticas entre as imagens apresentadas,
e são essas relações que tornam as bandas desenhadas num
texto.”106
Aliás, numa outra obra de Groensteen, este dá um claro ênfase à questão da
imagem sendo que a considera o “princípio fundador” e apelida de “solidariedade icó-
nica”, fazendo referência à questão e ao ideal da justaposição pictórica e sequência ló-
gica de imagens, já referidos.107
Apesar de não ir inteiramente ao encontro das anteriores ideias relativas à não
essencialidade do texto nas bandas desenhadas, Alberto Pessoa, que considera que a
Banda Desenhada é “[...] uma multiarte que se utiliza de monoartes [...]”108, atribui
também uma grande importância à componente gráfica:
“Nos quadrinhos a ilustração é parte essencial do entendimento da
história, pois ela está em constante sequência e sem acompanhar o
texto, necessariamente. O texto pode ser um pensamento abstrato e
os desenhos podem apresentar ações do dia a dia como, por exem-
plo, uma pessoa lavando a louça, enquanto outra está em um tele-
fone.”109
Sem dúvida que Pessoa, nesta balança com os pesos da componente gráfica e
da componente escrita, dá uma maior importância ao visual por considerar ser “parte
106 GROENSTEEN, Thierry – The Current State of French Comics Theory. Scandinavian Journal of Comics
Art (SJoCa). [em linha]. 2012, Vol. 1. [Consult. a 12/08/2021]. Disponível em: https://bit.ly/2WuBBdr. p. 113. 107 GROENSTEEN, Thierry – O Sistema dos quadradinhos. Brasil: Marsupial Editora, 2015. p. 27. 108 PESSOA, Alberto – Histórias em quadradinhos: um meio intermediático. Universidade Presbiteriana Mackenzie [em linha], 2008. [Consult. a 11.08.2021]. Disponível em: https://bit.ly/3yA8jXO. p. 1. 109 Idem. p. 4.
48
essencial da história”. Por outro lado, quando assume que “o texto pode ser um pensa-
mento abstrato”, isto poderá significar um desfasamento entre o que é narrado visual-
mente e aquilo que é descrito textualmente, sendo que, o que salta sempre à vista é a
ilustração, como assume o autor. No entanto, ainda neste excerto, poderíamos, talvez,
encaixar aqui a questão das onomatopeias (quando refere “pensamento abstrato”)
que, segundo Angoloti110, é uma característica das Bandas Desenhadas que acabam por
dar ao “quadradinho” uma vida, um sentimento, uma ideia específica.
Contrariando estas ideias da não essencialidade da presença do texto numa BD,
defendidas por McCloud e por Groensteen, e indo ao encontro das definições de Eisner e
Pessoa, Pedro Massano caracteriza a Banda Desenhada como “[...] uma narrativa por
imagens, cuja unidade é o quadrado [...]”111, acrescentando ainda que:
“[...] a BD não o é sem texto e, no mais das vezes, as que se impõem
ao público leitor, de forma quase imediata, são as que conseguem
juntar um grafismo razoável a uma história segura e bem desenvol-
vida [...].”112
Entre encontros e desencontros, o que é certo é que para uma parte dos auto-
res referidos, o campo visual, a ilustração, o desenho, é uma das componentes essenci-
ais. Sem esta componente, nenhuma narrativa pode ser considerada uma BD. No en-
tanto, dentro do campo visual é necessária e obrigatória a presença de uma sequência
lógica entre as imagens. Como diz Groensteen “[...] não basta alinhar palavras para criar
uma obra literária [...]”113, assim como não basta lançar imagens sem relação lógica en-
tre elas numa Banda Desenhada. As diferenças, no entanto, surgem quando se aborda
110 ANGOLOTI, Carlos – Cómics, títeres y teatro de sombras: Tres formas plásticas de contar historias. Ma-drid: Ediciones de La Torre, 1990. 111 Cit. por PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de História e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017. Dissertação de Mes-trado. p. 20. 112 Idem. Ibidem. 113 GROENSTEEN, Thierry – O Sistema dos quadradinhos. Brasil: Marsupial Editora, 2015. p. 28.
49
a componente textual, e aqui é que as coisas que complicam. Se, para uns, o texto é es-
sencial, juntamente com o campo visual, para a construção de uma Banda Desenhada,
para outros o texto pode ser dispensável. No entanto, tendo em contas as definições
expressas, o texto é, de certo modo, aquilo que distingue uma comic de um cartoon,
apesar da linha que os separa ser ténue, como referido.
2.1.2. A composição de uma Banda Desenhada
Como discutido no subcapítulo precedente, a principal componente de uma
Banda Desenhada é a harmonia e a consonância entre as componentes visual e escrita
embora, muito intrinsecamente, o elemento visual seja o mais notório no imediato.
Não obstante, as Bandas Desenhadas possuem elementos característicos que permi-
tem a distinção de um cartoon. Carlos Angoloti apresenta um conjunto de característi-
cas que considera essenciais aquando da análise e construção de uma Banda Dese-
nhada:
“O mais interessante é analisar em que consiste a linguagem peculiar
da comic, ou seja, aqueles elementos que servem para transmitir a
história. A vinheta, os gestos, onomatopeias, sinais cinéticos, balões e
estruturas espacial e temporal [...].”114
Angoloti não se refere nem à prancha, nem à tira, elementos essenciais para a
construção de uma comic. No entanto, entende-se a primazia da vinheta porque acaba
por ser o elemento agregador de todas as componentes que constroem uma Banda
Desenhada.
A uma página de Banda Desenhada dá-se o nome de prancha, embora ambas as
designações (página e prancha) sejam corretas. Como refere Vasco Azinheiro, a prancha
é uma macrounidade da BD, sendo esta unidade composta por outras unidades, como
114 ANGOLOTI, Carlos – Cómics, títeres y teatro de sombras: Tres formas plásticas de contar historias. Ma-drid: Ediciones de La Torre, 1990. p. 29.
50
é o caso da tira e da vinheta.115 Não existe um número mínimo obrigatório de tiras por
prancha, assim como não existe um número específico de vinhetas por tiras. É impor-
tante deixar clara a ideia de que uma prancha pode, isolada, contar uma história, sem
necessitar de recorrer a outros elementos como tiras e vinhetas.
A tira “consiste no conjunto composto, normalmente, por três ou quatro vinhe-
tas dispostas na horizontal”.116 No entanto, à semelhança da prancha, uma tira não ne-
cessita obrigatoriamente de ser composta por vinhetas, podendo narrar um aconteci-
mento em toda a globalidade do seu espaço.
Relativamente à vinheta (ou quadradinho), Pedro Massano alerta para o facto de
a vinheta, isolada, não ter qualquer tipo de nexo necessitando estar associada aos res-
tantes elementos característicos de uma Banda Desenhada.117 Já para Angoloti, a vi-
nheta “[...] é a unidade mínima espácio-temporal na estrutura de montagem”.118 Ou
seja, por outras palavras, a vinheta afigura-se como o elemento-chave não só para a
construção de uma BD, mas também para a compreensão da mesma. Neste sentido,
para Groensteen, apesar do autor considerar o “quadradinho” como uma “unidade de
base”, a vinheta:
“[...] é fragmentária e encontra-se em sistema de proliferação; ela ja-
mais constituirá o enunciado como um todo. Pode-se contestar que,
para o quadro constituir unidade de base, não se dispensa uma revi-
são dos elementos subordinados que o constituem, mas pode e deve
ser vista como componente de um dispositivo maior”.119
115 AZINHEIRO, Vasco – A Utilização da Banda Desenhada nas Aulas de História e Geografia do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Escola de Educação, Administração e Ciências Sociais da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. p. 32. 116 Idem. p. 33. 117 Apud PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-aprendizagem de His-tória e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017. Dissertação de Mestrado. p. 28. 118 ANGOLOTI, Carlos – Cómics, títeres y teatro de sombras: Tres formas plásticas de contar historias. Ma-drid: Ediciones de La Torre, 1990. p. 29. 119 GROENSTEEN, Thierry – O Sistema dos quadradinhos. Brasil: Marsupial Editora, 2015. p. 11.
51
Em certa medida, esta ideia de Groensteen vai ao encontro da ideia de Massano
quando este afirma que uma vinheta isolada não tem qualquer nexo, tendo de estar,
obrigatoriamente, em harmonia com as restantes componentes da Banda Desenhada.
Angoloti referiu que uma das peças essenciais, na sua ótica, era a cor. Ora, se
antes a paleta de cores era obrigatoriamente o preto e o branco, agora a utilização
destas cores é uma opção do artista que segundo Masson, citado por Cristina Sá, está
“[...] destinada à expressão de situações de conflito, de acontecimentos de contesta-
ção ou ainda de uma visão aterradora da realidade”.120 No entanto, esta importância
conferida ao jogo de cores vai para além de um sentido estético, de se construir algo
visualmente agradável. As cores, para além da função estética, têm “[...] uma função
simbólica, imposta pela sua utilização frequente [...]”.121
Os denominados sinais cinéticos parecem ser um elemento de somenos, porém
configuram-se como elementos essenciais para a compreensão do leitor. Estes signos
representam movimentação por parte das personagens e permitem contrariar o sen-
tido e a essência imóvel das imagens122.
2.2. O imaginário em prática: as comics de Super-Heróis no ensino (da Histó-
ria)
Falar de comics alusivas a Super-Heróis é falar, obrigatoriamente, de persona-
gens cujos direitos estão reservados a duas empresas que monopolizam, há muito,
este mercado: Marvel e D.C.. Ambas (num espírito de rivalidade mais ou menos “sau-
dável”) detêm o espólio da maioria das personagens às quais atribuímos características
120 Apud SÁ, Cristina – A Banda Desenhada: uma linguagem narrativa ao serviço do ensino do Português (língua materna). Aveiro: Universidade de Aveiro, 1995. Dissertação de Doutoramento. Vol. 1. p. 248. 121 Idem. Ibidem. 122 ANGOLOTI, Carlos – Cómics, títeres y teatro de sombras: Tres formas plásticas de contar historias. Ma-drid: Ediciones de La Torre, 1990. p. 39.
52
e estatuto de Super-Heróis, conseguindo angariar receitas extraordinárias. Seria possí-
vel referir algumas Bandas Desenhadas como as de Astérix e Obélix, Corto Maltese,
Tintim, Flash Gordon... Mas qual é a diferença entre estas e as de Super-Heróis?
As primeiras são pessoas comuns, com talentos particulares (maioritariamente
ao nível da intuição e dedução) e que se envolvem em situações especiais; as segundas
detêm poderes sobre-humanos e tecnológicos que lhes foram atribuídos. Vejamos: o
Homem de Ferro tem um fato mecanizado; a Viúva Negra é uma espia treinada pela
KGB, embora sem qualquer tipo de poder sobre-humano. Mas voltemos ao primeiro
grupo: Tintim, por exemplo, não tem um “poder”. Quer dizer, poderíamos assumir o
Milu como a sua “arma especial”… Mas sejamos realistas: Milu é apenas um cachorri-
nho normal que “personifica” a famosa ideia de o cão ser o melhor amigo do Homem
(uma mensagem subliminar? Talvez…).
O que une estas histórias? A imaginação, a criatividade que está subordinada à
vontade de entreter as massas123, de levar os leitores a imaginarem ser uma outra per-
sonagem, num outro lugar, em aventuras sem fim.
Até aqui tudo bem, mas… Afinal, o que é um Super-Herói? Por definição, um su-
per-herói é uma “personagem fictícia dotada de poderes fantásticos e notável pelos
seus feitos extraordinários em defesa do bem e da justiça”124, à qual se opõe o vilão,
uma “personagem malvada cujas ações se revelam decisivas no desenvolvimento da
narrativa de filme, livro, etc.”125. No limbo entre estas duas posições maniqueístas, te-
mos o chamado anti-herói, um “protagonista de uma obra sem as qualidades e virtudes
123 Foi após a I Guerra Mundial que o espírito de evasão se solidifica, numa “Cultura de massas”, popular e acessível, onde a Banda Desenhada (comics) se começava a destacar: Mickey (1928), Tintin (1929), Su-perman (1933), Flash Gordon (1934). Anterior a esta época, só sobreviveu um herói: Tarzan, cuja perso-nagem fora criada em 1912. 124 Super-herói in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [Consult. 12/12/2020]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/super-herói. 125 vilão in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [Con-sult. 12/12/2020]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/vilão.
53
do herói clássico”126, que muitas vezes é tido como vilão, pelas suas ações moralmente
questionáveis.
Tendo em conta a temática aqui levantada, o estado da arte não é muito abun-
dante, não permitindo a existência de um porto seguro de onde esta pesquisa pudesse
partir. Existe, é certo, vasta bibliografia e/ou webgrafia sobre a Banda Desenhada, no
geral. Todavia, não existe muita informação focada, em particular, nos Super-Heróis.
Não obstante, ao longo de uma intensa pesquisa bibliográfica, foi possível encontrar
um conjunto de artigos que, mesmo não sendo totalmente focados nos benefícios e
obstáculos da utilização destes recursos em contexto de sala de aula, permitem ter al-
gumas ideias, ainda que muito embrionárias.
De facto, esta é sem dúvida uma lacuna deste Relatório de Estágio: a falta de
fundamentação teórica no que concerne à aplicação de recursos alusivos a Super-He-
róis no ensino da História (e não só). Por outro lado, um outro fator redutor é o grande
enfoque dado aos comics de origem norte-americana, pelo facto de serem os mais re-
feridos, os mais conhecidos – e por monopolizarem o mercado das comics e, com es-
tas, o mundo cinematográfico.
Alguns dos artigos encontrados foram os seguintes:
• Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões didáticas
para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula, de Arthur Gibson127;
• Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in American
Cultural History From World War II Through the Iraq War, de Cord
Scott128;
126 anti-herói in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [Consult. 12/12/2020]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/anti-he-rói. 127 GIBSON, Arthur – Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado. 128 SCOTT, Cord – Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in American Cultural History From World War II Through the Iraq War. Chicago: Loyola University Chicago, 2011. Dissertação de Dou-toramento.
54
• Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity, de
Mervi Miettinen129.
Por detrás do seu cariz de entretenimento “barato” que sobrecarrega (em de-
masia) este tipo de recursos, existiam acontecimentos históricos que enquadravam a
criatividade ficcional, aspetos mais ou menos disfarçados que, em determinados mo-
mentos, serviram nítidos aspetos ideológicos.
Concluído este prólogo, a questão que se coloca aqui é:
• De que forma é que estas Bandas Desenhadas (as de Super-Heróis) po-
dem ser úteis à aprendizagem da História?
Aparentemente, é um recurso que apenas se baseia no fictício, na imaginação
dos seus criadores. Mas atrevo-me a dizer que a grande maioria das comics (de Super-
Heróis) têm por base o desenrolar de uma história ficcional que pode, ou não, conter
“vestígios” históricos ou da realidade social (e cultural) em que a publicação se insere.
Everton Rocha, relativamente a este tópico, coloca uma questão pertinente e
que, de certo modo, nos permite desconstruir o estigma infantil e irreal que este tipo
de literatura carrega:
“[...] mas porque os historiadores nunca buscaram compreender as
formas de representação das histórias em quadradinhos, quer fosse
por seu possível conteúdo ideológico ou mesmo como um tipo pecu-
liar de literatura?”130.
De acordo com Lameiras, Boléo e Santos, citados por António Serra:
“a utilização pedagógica da BD tem duas vertentes essenciais: o uso
da linguagem da BD […] para transmitir uma determinada mensagem,
para divulgar um determinado tipo de conhecimentos; e o recurso à
129 MIETTINEN, Mervi – Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity. Finlândia: Escola de Línguas, Tradução e Estudos Literários da Universidade de Tampere, 2011. Dissertação de Licen-ciatura. 130 ROCHA, Everton – Representações da Guerra Fria na História em Quadradinhos. Batman – O Cavaleiro das Trevas. Brasil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. p. 12.
55
própria BD, a obras ficcionais que não têm à partida intenções educa-
tivas, mas que são aproveitadas e trabalhadas nesse sentido. Tal não
exclui que, numa perspetiva mais ampla, muitas das obras de BD pos-
sam ser integradas num espírito educativo, sem por isso perderem a
sua autonomia ficcional. Foi esse o espírito que presidiu à maior
parte das revistas juvenis durante longos anos. Os meios educativos
tinham uma visão positiva da BD integrada nessas publicações lúdico-
formativas [...].”131
É a partir da perspetiva acima expressa que podemos considerar este tipo de
comics um bom recurso, no sentido em que o seu carácter ficcional, por ser tido em
conta, permite trabalhá-lo em contexto escolar. Se podemos utilizar um romance his-
tórico, porque não utilizar estes recursos? Afinal, ainda que distintos, ambos misturam
a ficção com realidade (histórica). Como afirma Cord Scott, as Bandas Desenhadas (de
Super-Heróis e não só) por vezem têm escondidas “joias” com um certo grau de impor-
tância histórica.132 No seguimento desta linha de pensamento, Fingeroth, citado por Ge-
orge Gaitanos, afirma:
“A personagem do super-herói nas comics é localizado entre uma his-
tórica mítica e a ficção, ao mesmo tempo que é moldado por elemen-
tos de uma realidade história e da vida quotidiana, com o objetivo de
parecer verdadeiro.”133
O primeiro estigma que surge quando se fala neste género de recursos é o cariz
infantojuvenil e de entretenimento que lhes é atribuído. Por vezes, não são levados a
sério. O facto de se estar perante algo que não é real não é impeditivo da sua descons-
trução, para permitir que seja devidamente enquadrado e interpretado. Como assume
131 SERRA, António – A utilização da Banda Desenhada no ensino da História e Geografia de Portugal. Setúbal: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, 2016. Dissertação de Mestrado. pp. 34-35. 132 SCOTT, Cord – Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in American Cultural History from World War II through the Iraq War. Chicago: Loyola University Chicago, 2011. p. 2. 133 Cit. por GAITANO, George – The “religion” of comic books’ superheroes: a modern religious trend or a political propaganda? Albânia: Universidade Logos-Tirana, 2014. p. 1.
56
Miettinen Mervi, o estudo de comics é algo que ainda necessita de aprovação, defesa e
justificação, sobretudo quando falamos de comics alusivas a Super-Heróis.134
A utilização da Banda Desenhada em contexto escolar pode ter subjacente a fa-
cilitação do processo de ensino-aprendizagem (pode não ser necessário a análise de
uma história completa, mas apenas de uma vinheta135). A partir deste mote, podemos
também referir que a utilização da Banda Desenhada alusiva a Super-Heróis (e a Banda
Desenhada no geral) tem igualmente esse objetivo: o de motivar. Por outro lado, esta-
mos perante um recurso que permite o desenvolvimento de várias capacidades em si-
multâneo, como a interpretação e a compreensão relativas a dois campos distintos, o
textual e o visual.
Relativamente a este tipo de recursos, Aparecida Nascimento chama a atenção
para um aspeto: o contexto de produção. Neste sentido, torna-se necessário, antes da
sua aplicação, compreender:
“[...] quais as intenções de quem a produziu para que possa ser utiliza
como fonte de pesquisa e ensino, e, assim, não se comenta a tomada
de posicionamentos e sim de reflexões.”136
É precisamente esta questão que irá ser explorada, sobretudo no que diz res-
peito às comics e às histórias que surgem essencialmente pela mão da Marvel a partir
da década de 1940, uma época marcada por um novo conflito mundial e, posterior-
mente, pela divisão do Mundo em dois blocos antagónicos. Neste sentido, e como ve-
remos, estas “histórias de quadradinhos”, assim como a literatura e o cinema, não fo-
gem a ideologias, simbologias e referências expressas mais ou menos explícitas. Uma
134 MIETTINEN, Mervi – Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity. Finlândia: Escola de Línguas, Tradução e Estudos Literários da Universidade de Tampere, 2011. Dissertação de Licen-ciatura. p. 1. 135 Um exemplo pode ser a utilização da Mafalda (1964 – 1973), do cartoonista argentino Quino, para o contexto da Guerra Fria (pela sua isenção e recusa dos “bons” e dos “maus”, nunca foi publicada nos EUA). Mafalda é uma (eterna) criança de 6 anos, que questiona a vida, o mundo e o ser humano – e através das suas reflexões, aparentemente infantis, são aprofundados grandes temas de clivagem dessa época (tantos deles presentes ainda nos dias de hoje). 136 NASCIMENTO, Aparecida – Os Super Heróis e o Ensino da História. Brasil [em linha], 2018. [Consultado a 17/07/2021] Disponível: https://bit.ly/3zqiAqy. p. 3.
57
das potencialidades da utilização deste tipo de recursos é precisamente levar os alunos
a compreender o quão fácil é imprimir uma ideologia em algo que é considerado de
“consumo rápido” e “fácil” e o quão frágeis poder ser os consumidores, visto que po-
dem ser levados a concordar com ideias que, de outra forma, normalmente não parti-
lhariam – e apenas por estarem a consumir algo que é, vulgarmente, considerado en-
tretenimento.
Na linha de pensamento desta ideia retirada do artigo de Aparecida Nascimento,
sublinhe-se que a História não é feita a “preto e branco”, mas sim de muitos tons de
“cinzento”. A título de exemplo, ao apresentarmos uma comic que alude à ideia da su-
perioridade americana face aos soviéticos (como veremos posteriormente), deve infor-
mar-se os discentes de que: a) se trata de uma comic que tem a sua origem num deter-
minado país (neste caso os Estados Unidos da América); b) e que, face ao contexto so-
ciopolítico da sua produção (a Guerra Fria), a mensagem que transmitia tinha como
objetivo a “doutrinação” dos leitores.
No início deste subcapítulo, referimos duas grandes empresas: Marvel137 e
D.C.138. O comum entre elas? São ambas norte-americanas. E o que é que isto signi-
fica? As histórias são profundamente “americanizadas”, o que acaba por torná-las pro-
dutoras de meios de doutrinação e de difusão ideológica. Cabe ao Professor ter isto
137 A Marvel nasceu em 1939, pela mão de Martin Goodman e sobre o nome Timely Publications. A primeira
comic foi publicada sob o título Marvel Comics e apresentou o Tocha Humana e um anti-herói, o Namor. Em 1941 é publicado o primeiro número do Capitão América e sem dúvida que este é um marco histórico na história da companhia a par da contratação de Stan Lee, responsável pela criação de um enorme nú-mero de personagens. Só em 1961 é que a Timely adquiriu o nome Marvel, sendo que a primeira comic publicada sob este nome foi o número 69 da Journey into Mystery. Ao longo dos anos a empresa foi-se adaptando aos tempos, utilizando em seu favor a ideologia e a propaganda. Informação retirada de: https://bit.ly/3yyzaU2. 138 A D.C. (Detective Comics), foi criada em 1934 sob o nome de National Allied Publications e, atendendo
à data da sua criação, é uma das companhias mais antigas ainda em funcionamento. A D.C é uma pequena parte de um grande império económico pertencente à WarnerMedia. A empresa foi criada por Malcolm Wheeler-Nicholson com o propósito de se publicar o primeiro número de uma comic – New Fun: The Big Comic Magazine – que seria publicado em fevereiro de 1935. Informação retirada de: https://bit.ly/3kXdegH.
58
em consideração, esclarecendo sempre que se está perante uma produção norte-ame-
ricana e que, portanto, pode existir uma tendência ideológica no que se está a ler e a
analisar.
Muitas histórias de Bandas Desenhadas podem promover sentimentos como
patriotismo e nacionalismo139, como é o caso do Capitão América, por exemplo: imbu-
ído de símbolos nacionais, desde as cores do seu fato (azul, branco e vermelho), à pró-
pria data de nascimento da personagem (4 de julho, dia da Independência dos Estados
Unidos da América). Não é surpreendente, pois, como refere Bradford Wright, citado
por Cord Scott, “[...] o conceito de um super-herói alicerçado numa bandeira é uma in-
venção americana [...]”140. Outro exemplo bem conhecido desta criação de Super-He-
róis baseados em ideais patrióticos e nacionalistas, é a personagem Mulher Maravilha
(Wonder Woman).
A criação de personagens imbuídas de um espírito nacionalista, nas palavras de
Cord Scott, pode levar o leitor a identificar-se com elas e com os ideais que, de forma
implícita ou explícita, essas figuras carregam. Por outro lado, as comics, sobretudo as
norte-americanas, tendem a reforçar o “estereótipo do vilão degenerado” em antago-
nismo à “pureza” americana –transmitindo esta ideia aos seus leitores.141 De referir
que, em vários casos, o inimigo tem a sua origem em países que eram (à época) e/ou
foram inimigos dos Estados Unidos: União Soviética, Alemanha, Japão, entre outros.
Noutra linha de pensamento, Stan Lee (um dos maiores criadores de persona-
gens da Marvel), numa entrevista disponível na plataforma Youtube, afirma que o
objetivo deste género de personagens é o de serem um role-model para os leitores, no
sentido em que tentam (quase) sempre fazer aquilo que é certo e ajudar as pessoas.142
139 SCOTT, Cord – Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in American Cultural History From World War II Through the Iraq War. Chicago: Loyola University Chicago, 2011. p. 6. 140 Idem. Ibidem. 141 Idem. Ibidem. 142 Entrevista disponível na plataforma YouTube. [Consult. a 26/07/2021]. Disponível em: https://bit.ly/3mOB8x7. Ver minutos 3:40-3:54.
59
A partir desta ideia, defendida por um dos homens que é uma dos criadores incontor-
náveis deste universo de Super-Heróis, é possível retirar a ideia de que as comics têm
outra função que não a de entretenimento: a de transmitir ideologias, comportamen-
tos e valores que são tidos como moralmente desejáveis para os seus autores.
A questão ideológica acaba por ser mais evidente nas comics, sobretudo a par-
tir de 1960, quando a Guerra Fria estava já enraizada143 144. Dos Estados Unidos da
América, sobretudo pela mão da Marvel, surgem várias comics cujas histórias estão in-
timamente ligadas ao embate político-ideológico que opôs os Estados Unidos à União
Soviética, dividindo o mundo em dois blocos antagónicos. Desde referências aos
“commies”, a corridas ao espaço, de personagens que têm o seu background no Viet-
name ou no Novo México, a espiões treinados pelos serviços secretos (CIA e KGB)...
Não é por acaso que Alan Moore, o criador da famosíssima história que esteve na
origem do filme V de Vingança, assumiu, audaciosamente, a defesa de que “todas as
comics são políticas”.145
É ainda na década de 1960 que vão surgir personagens repensadas e que vão
para além do estereótipo do Super-Herói invencível, um estereótipo que nasceu com a
criação do Super Homem (em 1938). Na denominada Silver Age das comics, surgem
personagens mais reais, com problemas comuns, que demonstram fragilidades e po-
dendo, por vezes, sofrer duros golpes por parte dos seus inimigos. Esta ideia foi conce-
bida com o intuito de aproximar o leitor das personagens e das histórias, para que se
identificasse mais com o que era narrado.146 Stan Lee, numa outra entrevista, refere
exatamente isto, sobretudo quando aborda a comic Quarteto Fantástico, onde revela
143 GIBSON, Arthur – Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado. p. 27. 144 NACHTIGALL, Lucas – Super-heróis na década de 1960: Guerra Fria e mudanças sociais nos comics norte americanos. Faces da História, vol. 1, n.º 2, 2017. p. 191. 145 Cit. por MIETTINEN, Mervi – Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity. Fin-lândia: Escola de Línguas, Tradução e Estudos Literários da Universidade de Tampere, 2011. Dissertação de Licenciatura. p. 1. 146 NACHTIGALL, Lucas – Super-heróis na década de 1960: Guerra Fria e mudanças sociais nos comics norte americanos. Faces da História, vol. 1, n.º 2, 2017. p. 189.
60
que criou, propositadamente, personagens com frustrações e fraquezas, com o intuito
de as aproximar do público.147
No caso específico das comics produzidas nos Estados Unidos, é certo que ape-
sar de serem consideradas entretenimento de fácil acesso, por se inserirem numa ideia
de “Cultura de massa”, as Bandas Desenhadas acabam por se revelar uma forma de
abordar questões problemáticas as quais os Estados Unidos, enquanto país, tinham de
enfrentar.148 Rodrigo Muñoz-González, sustentando-se em vários autores, refere que o
“[...] género de super-heróis tem sido criticado por conter representações ideológicas
que suportam um certo status quo”149, remanto que a “[...] Marvel é conhecida por
historicamente integrar referências a problemas sociais e realidades [...].”150
Gostava, no entanto, de salientar que também outras comics que não as alusi-
vas a Super-Heróis transmitem mensagens, sobretudo as do período da Guerra Fria,
como explica Anthony Harkins, que refere questões como propaganda anticomunista,
questões relacionadas com a segurança interna dos Estados Unidos e a espionagem.151
Em comparação, a Marvel desenvolve as suas ficções e rentabiliza-as no mundo
cinematográfico, enquanto a D.C. é mais recatada, no sentido em que investe mais nas
personagens que já são genericamente conhecidas (Batman, Super Homem, Mulher
Maravilha) – ultimamente, no entanto, tem vindo a explorar novas personagens, inclu-
sive vilões e anti-heróis (por exemplo, com a adaptação cinematográfica do Suicide
Squad). Por outro lado, uma das diferenças entre as companhias é a ligação ao mundo
147 A informação foi retirada de uma entrevista realizada a Stan Lee. A entrevista encontra-se disponível na plataforma YouTube. [Consult. a 26/07/2021]. Disponível em: https://bit.ly/38q3LZk. Ver minutos 6:15-9:40. 148 MIETTINEN, Mervi – Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity. Finlândia: Escola de Línguas, Tradução e Estudos Literários da Universidade de Tampere, 2011. Dissertação de Li-cenciatura. p. 2. 149 GONZÁLEZ, Rodrigo Muñoz – Masked Thinker? Politics and Ideology in the Contemporary Superhero Film. Finlândia, 2017. p. 12. 150 Idem. Ibidem. 151 HARKINS, Anthony – Commies, H-Bombs, and the National Security State: the Cold War in the Comics. EUA: Universidade de Kentucky, 1997. pp. 12-32.
61
real: enquanto os criadores da Marvel optam por localidades reais (essencialmente nos
Estados Unidos), a D.C. tem as suas histórias desenvolvidas em lugares fictícios.152
Um dos primeiros desafios quando se analisa uma comic é ter em consideração
os anos de publicação de alguns números, assim como os primeiros visuais de algumas
personagens. Por exemplo, a personagem do Capitão América surge pela primeira vez,
em março de 1941, num número em que a personagem principal enfrenta a figura má-
xima da Alemanha Nazi, Adolf Hitler. De uma forma muito simples e sem grande ciên-
cia, só com a análise da capa deste primeiro número, pode ser abordada a entrada dos
Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, depois do ataque
japonês a Pearl Harbor. No entanto, a comic é publicada em março desse mesmo ano,
sendo que, a partir deste dado, se podem abordar questões como o interesse por
parte do Executivo americano em entrar no conflito, enquanto o interesse da popula-
ção era oposto.153
Gustavo Ribeiro, através da análise das comics do Capitão América (pelo menos
nos três primeiros anos de existência deste e posteriormente, com sucessivas (re)in-
venções), afirma:
“[...] fica evidente que a editora Timely promovia formas de propa-
ganda ideológica por meio de suas histórias. Para isso, aproveitou a
natureza das histórias em quadrinhos que, enquanto um meio de en-
tretenimento de fácil entendimento, para ser consumido rapida-
mente, utiliza-se de estereótipos para, numa lógica binária, dividir o
mundo entre bem versus mal [...].”154
Outro exemplo? O Quarteto Fantástico, cuja primeira publicação, em 1961,
acontece seis meses depois do astronauta soviético Yuri Gagarin ter sido o primeiro
152 NACHTIGALL, Lucas – Super-heróis na década de 1960: Guerra Fria e mudanças sociais nos comics norte americanos. Faces da História, vol. 1, n.º 2, 2017. p. 196. 153 AIKEN, Katherine – Superhero History: Using comic books to teach U.S. History. OAH Magazine of His-tory, [em linha], 2020. [Consult. a 19/07/2021]. Disponível em: https://bit.ly/3t0q1m7. p. 45. 154 RIBEIRO, Gustavo – Um entretenimento para os tempos de guerra: representações e propaganda ide-ológica em Captain America Comics (1941-1943). Brasil: XXVIII Simpósio Nacional de História [em linha]. 2015. [Consult. a 12/08/2021]. Disponível: https://bit.ly/3jsYHK1. p. 5.
62
Homem em órbita no espaço, a bordo da Vostok I. Mas que ponte existe entre estes
dois acontecimentos? A comic do Quarteto Fantástico conta, resumidamente, a histó-
ria de um grupo de quatro pessoas que, numa viagem antecipada ao espaço e que não
corre como esperado, adquirem poderes sobrenaturais. O motivo da viagem ter sido
antecipada? Bem, os commies155 não podiam chegar primeiro que os norte-americanos
ao espaço só que… chegaram. Estas pequenas questões, interligadas com uma aborda-
gem mais aprofunda e sustentada em outros recursos permitem lecionar temas do
programa de uma outra forma que vai para além do manual.
Para além das datas referidas nos períodos anteriores, podem ser analisados
pequenos elementos que estão presentes nas Bandas Desenhadas: uma bandeira, um
símbolo, um mapa, uma data. Exemplos: o Capitão América nasceu a 4 de julho; o Ho-
mem de Ferro tem a sua origem na Guerra do Vietname; o Hulk ganha o seu poder
numa experiência no Novo México; a Viúva Negra é treinada pela KGB. As comics do X-
Men retratam problemas sociais ligados à segregação de minorias: os “mutantes” (pes-
soas dotadas de poderes sobrenaturais), que eram isoladas num regime de “Apar-
theid” (seria esta uma crítica não só à sociedade norte-americana, mas também ao
resto do mundo?).
Existem, no entanto, personagens para outras épocas que não a contemporâ-
nea. Apesar de não constar nos programas curriculares de História, porque não estu-
dar a mitologia nórdica a partir das comics e da história de Thor e do seu meio-irmão
Loki?
Apesar de, na maioria dos casos, não existir um “certificado” de veracidade his-
tórica, o que é certo é que cabe ao Professor conseguir identificar estes elementos (e
outros) a fim de os motivar para a aula. Mesmo que existam erros, é possível utilizar
estes recursos desde que, no momento da análise, estes sejam esclarecidos e corrigi-
dos. É exatamente o mesmo processo quando, por exemplo, se utiliza um excerto de
um romance histórico em sala de aula.
155 “Commies” é um termo utilizado para se referir a comunistas.
63
Outro aspeto interessante é a presença e o desenrolar das histórias em locais
concretos e com pessoas reais. As histórias da Marvel têm (por norma e salvo raras ex-
ceções) a sua história desenvolvida, quase sempre, em localidades reais, nos Estados
Unidos ou em outros pontos do Mundo. Por outro lado, a D.C., em algumas comics,
utiliza personalidades reais, como por exemplo: o Presidente dos Estados Unidos, Ro-
nald Regan; ou o Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail
Gorbatchev.
Para além das questões abordadas, é possível também utilizar pequenos excer-
tos de algumas comics que focam discursos de personagens (reais ou fictícias) sendo
que, com a análise desses textos, é possível aferir algumas características e/ou simbo-
logias que dizem respeito a um período ou a uma personalidade específica.
E para além das comics norte-americanas? Existem Bandas Desenhadas originá-
rias de outros países com personagens que possuem o estatuto de Super-Heróis. É o
caso dos franceses: Atomas, Black Boy, Cosmo e Satanax. Todavia, estas personagens
não se comparam às histórias da Marvel e D.C., cujo cunho ideológico é impresso em
várias obras.
Ao longo da pesquisa de recursos que pudessem ser utilizados em aula e que
não fossem norte-americanas, apenas consegui encontrar uma comic bastante pecu-
liar. A comic em questão tem a sua origem presumivelmente na Checoslováquia, em
1971: Octobriana. Não existe muita informação em torno desta obra, mas o que se sabe
é que o seu título tem um significado muito próprio: “O Espírito de Outubro”. Ou seja,
uma referência à Revolução de Outubro de 1917 que se insere no processo da Revolu-
ção Soviética. Teoricamente, esta personagem será a personificação e o baluarte dos
ideais revolucionários de Outubro, que acabariam por ser desvirtuados pelo governo
soviético com as políticas de aproximação ao Ocidente.156 Apesar disto, a informação
em torno desta comic é muito vaga – o seu uso em sala de aula exigiria uma análise ex-
tra que não será fácil, precisamente pela dificuldade em obter dados concretos.
156 Fandom [em linha]. [Consult. a 26/07/2021]. Disponível em: https://bit.ly/3jyXxMQ.
64
O que na realidade acontece é que as companhias e os criadores de comics aca-
bam por criar personagens originárias de diferentes países e não somente do seu país
de origem. Neste sentido, a Marvel tinha um pequeno grupo alemão de Super-Heróis
denominado Schutz Heiliggruppe, que teve a sua primeira aparição em 1991, no nú-
mero 389 do Capitão América. Também se pode referir o estigma presente em histó-
rias em que o vilão é originário da União Soviética indo, deste modo, ao encontro da
ideia de “inimigo degenerado”, já expressa por Cord Scott.
Em jeito de síntese, podemos de facto considerar (algumas) comics alusivas a Su-
per-Heróis como um recurso interessante para o processo de ensino-aprendizagem,
sobretudo relativamente ao período entre as décadas de 1940 e 1990, desde que se-
jam tomadas certas precauções, como a interpretação adequada do seu contexto his-
tórico:
a) Num primeiro momento, é imperativo conhecer os propósitos da comic,
o seu background de criação, a sua história e compreender se existem
questões pertinentes que possam ser analisadas (ideologias, datas, sim-
bologias);
b) Concretizada esta primeira etapa, é necessário um cuidadoso trabalho
de abordagem destes recursos em sala de aula. Para tal, o Professor tem
de seguir uma série de questões-orientadoras, como por exemplo: como
pode a comic ser utilizada? Quais as suas potencialidades? É, isolada-
mente, um bom recurso? Pode ser aliado a outro tipo de materiais de
estudo (documentos escritos, tabelas, …)?
É importante, ainda neste momento de conclusão, salientar o entrave, aqui le-
vantado, pela pouca bibliografia existente sobre a temática em análise, o que colocou
limitações ao desenvolvimento do presente subcapítulo.
65
Parte II. Enquadramento Prático
Em 1997, teve lugar, como habitualmente, o 33.º Festival RTP da Canção da Eu-
rovisão. Na final nacional, a 7 de março, Célia Lawson interpretava o tema Antes do
Adeus. Ao ouvi-lo, recentemente, os seus dois versos iniciais soaram em jeito de pre-
monição: “Antes do adeus, a aventura. Antes do adeus, a loucura.” Bem, porquê a re-
ferência a esta música? Porque o Estágio foi uma autêntica aventura. Aventura que foi
aproveitada ao máximo, apesar de todas as “crises existenciais” que foram surgindo.
Mas, “Pedras no meu caminho? Guardo-as todas”, não é o que se costuma dizer?Ape-
sar dos dramas, das (incalculáveis) crises e das dificuldades, nunca se quer pensar no
dia em que se diz “Addio, adieu, aufwiedersehen, goodbye” (esperei anos para poder
fazer esta referência) à Escola que amavelmente nos acolheu, aos jovens que ficaram
ao nosso encargo, aos Professores que sempre se mostraram otimistas relativamente
ao nosso futuro? Apesar de estarmos preparados desde início para a brevidade da es-
tadia, é sempre difícil pensar na despedida.
Tudo isto para introduzir esta segunda parte do Relatório, subordinada ao Enqua-
dramento Prático, onde iremos caracterizar o estabelecimento de ensino em que foi re-
alizado o Estágio, bem como as turmas escolhidas para o desenvolvimento deste es-
tudo. Nesta parte serão também abordados os métodos de recolha de dados, tanto ini-
ciais como finais, assim como uma análise exaustiva, tanto quanto possível, desses
mesmos dados.
Por outro lado, serão também relatadas as intervenções pedagógicas realizadas
nas duas turmas escolhidas, que vão ao encontro das temáticas levantadas no Enqua-
dramento Teórico. A exploração destas intervenções, que incluem e sustentam a reali-
zação do trabalho específico pedido às turmas, está dividida em três momentos distin-
tos. Primeiro, iremos explicar o processo de chegada e construção das mesmas, para
depois prosseguirmos com o relato da aplicação destas intervenções em sala de aula.
Por fim, iremos realizar uma reflexão sobre as intervenções, de forma a avaliar os
“prós e contras”, ou seja, o que correu bem e o que poderia ter sido alterado de forma
a funcionar ainda melhor.
66
1. Contextualização do campo de batalh… Digo, da intervenção
Como o modus operandi da redação dos Relatórios de Estágio exige, este primeiro capí-
tulo do Enquadramento Prático é subordinado à caracterização do estabelecimento de
ensino onde foi realizada a Prática de Ensino Supervisionada (ou Estágio), e à caracteri-
zação das turmas escolhidas para o desenvolvimento deste estudo: duas turmas CLIL157
do 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico.
1.1. A Alma Mater : a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves
Três anos no 3.º ciclo do Ensino Básico mais três anos de Ensino Secundário
nesta “antiga, mui nobre, sempre leal [...]” instituição, e é caso para dizer que está
“tudo como dantes no Quartel de Abrantes”. É uma sensação estranha entrar no bar
pelo lado dos Professores, quando antes tal era impensável. Ou então entrar na sala
dos Professores como um, quando até então só ficava à porta e até tinha medo de o
fazer… Como tudo muda!
Havia melhor forma de terminar este percurso académico? Não. Aliás, nem
tampouco idealizei outra forma de o encerrar. Nem a Professora Albertina o permiti-
ria… É um pouco como aquela música do José Cid, Um grande, grande amor, ou então
como aquela expressão popular: “O bom filho a casa torna”.
A Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves localiza-se na União de Fre-
guesias de Gulpilhares e Valadares, mais precisamente na Rua Professor Amadeu San-
tos, no concelho de Vila Nova de Gaia. Foi fundada em 1978 pela Portaria n.º 599/78,
datada de 29 de setembro, e o seu patrono, a partir de dezembro de 1992, é Joaquim
Gomes Ferreira Alves (n. 1883 – m. 1944).
157 Content and Language Integrated Learning. Este projeto consiste na lecionação, em várias disciplinas, de conteúdos científicos integralmente em língua inglesa.
67
Joaquim Gomes Ferreira Alves realizou os seus estudos de Medicina na Escola
Médico-Cirúrgica do Porto, concluindo-os no ano de 1911, com uma dissertação intitu-
lada A Heliotherapia no tratamento da tuberculose cirúrgica158. Foi este tema a grande
paixão da sua vida e da sua carreira, pois acreditava nos benefícios do sol na cura de
doenças como a tuberculose óssea, então frequente, sobretudo entre crianças e jo-
vens. Foi o fundador do Sanatório Marítimo do Norte que, em Valadares, frente ao
mar, e durante décadas, foi pioneiro no tratamento dessa enfermidade. Morreu, de
forma trágica, em 1944, após uma colisão do seu veículo com um comboio de merca-
dorias, numa passagem de nível em Francelos.159 Benemérito e muito querido da po-
pulação (chegava a cuidar gratuitamente dos mais pobres), a sugestão do seu nome
como patrono da Escola foi recebida num ambiente de grande unanimidade e quase
como culminar natural de uma homenagem a um homem a quem a freguesia (o conce-
lho, o país) tanto devia!
A Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves serve várias freguesias
do concelho de Vila Nova de Gaia, com destaque para as freguesias de Vilar do Paraíso,
Valadares, Gulpilhares e Madalena. As instalações da Escola sofreram, em 2009, uma
requalificação das suas infraestruturas pela mão da Parque Escolar160. A requalificação
da Escola dotou-a de vários edifícios de qualidade e modernos equipamentos de apoio
ao ensino, bem como de espaços exteriores amplos, respeitando as muitas árvores já
existentes e criando novos espaços verdes.
Depois desta intervenção de requalificação, o estabelecimento de ensino em
apreço, que já era reconhecido, viu o seu prestígio crescer e a Escola, ao longo dos
anos, foi sendo alvo de uma grande procura, de acordo com os dados fornecidos pelo
site InfoEscolas. Apesar de este site apenas possuir dados até ao ano letivo 2018/2019,
158 SIGARRA – Joaquim Gomes Ferreira Alves [Em linha]. Porto: Universidade do Porto, 2016. [Con-sult.09/07/2021]. Disponível em: https://bityli.com/DzSrJ. 159 Idem. Ibidem. 160 A Parque Escolar foi criada pelo Decreto-Lei n.º 41/2007, datado de 21 de fevereiro.
68
estes dados continuam a caracterizar a crescente procura deste estabelecimento de
ensino nos anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021.161
A Escola em referência não se constitui como uma escola agrupada: possui um
contrato de autonomia. O regime de autonomia dos estabelecimentos públicos de
educação foi consagrado através do Decreto-Lei n.º 75/2008, sendo que a Escola Se-
cundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves adquiriu contrato de autonomia no ano de
2013, sendo o ano letivo 2013/2014 o primeiro da sua vigência.
Pelo facto de a Escola beneficiar de um contrato de autonomia (que ainda vi-
gora), esta está autorizada a tomar diversas decisões de forma completamente autó-
noma, como por exemplo a nível da autonomia e flexibilidade curricular. No que diz
respeito à gestão patrimonial da Escola, esta é dividida com a entidade Parque Escolar,
responsável pela sua requalificação, como já foi referido anteriormente.
Os objetivos deste contrato estão ainda previstos e expressos no Projeto Educa-
tivo da Escola, concebido para uma baliza cronológica que abarca os anos entre 2017 e
2021. Este tem como prioridade a melhoria gradual da qualidade do ensino, uma valo-
rização da formação assente em aprendizagens significativas e de largo espectro pelos
alunos, o desenvolvimento de abordagens curriculares específicas e inovadoras e, por
fim, manter e promover o aprofundar de diversas parcerias com outras instituições162.
Em 2014, a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves recebeu o Pré-
mio de Escola – Mérito Institucional, prémio que reconhece o prestígio e a qualidade de
um estabelecimento de ensino.
Para além da componente da autonomia, esta Escola não consta da lista dos
T.E.I.P. (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Indo ao encontro da defini-
ção presente no site da D.G.E (Direção Geral da Educação), o programa T.E.I.P. consiste
numa iniciativa de cariz governamental que é empregue em territórios desfavorecidos
161 InfoEscolas. Disponível em: https://infoescolas.mec.pt/. 162 Projeto Educativo da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (2017-2021). Disponível em: https://bit.ly/2V231Xe.
69
“[...] marcados pela pobreza e exclusão social onde a violência, a indisciplina, o aban-
dono e o insucesso escolar mais se manifestam [...].”163
A Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves apresenta uma vasta
oferta curricular: o Ensino Regular (3.º Ciclo do Ensino Básico e quatro áreas do Ensino
Secundário, dos cursos Científico-Humanísticos), o Ensino Articulado164 e o Ensino Pro-
fissional (no Ensino Secundário).
Relativamente ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, este está dividido entre o Ensino Re-
gular e o Ensino Articulado, através de diversas parcerias com outras instituições
(como a Academia de Música de Vilar do Paraíso e Ginasiano). É também uma das es-
colas públicas pioneiras no projeto CLIL.
No que diz respeito ao Ensino Secundário, a oferta da Escola divide-se entre cur-
sos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais.
Os cursos Científico-Humanísticos oferecidos pela Escola são quatro:
• Curso de Ciências e Tecnologias;
• Curso de Ciências Socioeconómicas;
• Curso de Línguas e Humanidades;
• Curso de Artes Visuais.
Estes cursos Científico-Humanísticos têm a habitual duração de três anos,
sendo realizados exames nacionais nas disciplinas bienais no 11.º ano (como por exem-
plo Filosofia, Geografia, Física, Química) e nas disciplinas trienais no 12.º ano (como
por exemplo História, Português e Matemática).
Relativamente aos Cursos Profissionais, estes são três:
• Técnico de Análises Laboratoriais;
163 T.E.I.P (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Disponível em: https://www.dge.mec.pt/teip. 164 O Ensino Articulado funciona em parceria com diversas instituições de expressão artística. Destacam-se, pelo número de aluno/a(a)s envolvido(a)s, a Academia de Música de Vilar do Paraíso, Academia de Música de Espinho, Ginasiano Escola de Dança, Conservatório Regional de Gaia e Fórum de Gulpilhares.
70
• Técnico de Turismo;
• Técnico de Multimédia.
Os Cursos Profissionais, com duração de três anos, incluem a componente de
Estágio Profissional e têm como objetivo levar os alunos a adquirir competências para
o mundo laboral, como alternativa ao percurso universitário.
1.1. Os alunos… Ou será que devo dizer os Super-Heróis do amanhã?
De forma a manter o anonimato dos discentes, as duas turmas foram nomea-
das 9.º Marvel e 9.º D.C, pois no final de contas, as turmas como conjunto de alunos, afi-
guram-se como produtoras de recursos sobretudo com a tarefa proposta, analisada no
subponto 3.5. Já os alunos serão citados de acordo com o nome da personagem que cri-
aram no contexto de um trabalho proposto e, caso não o tenham realizado, serão refe-
ridos/citados de acordo com o seu número na turma e nomenclatura atribuída à
turma, como foi referido anteriormente. Definidas estas pouco convencionais nomen-
claturas, seguimos agora para uma caracterização das turmas escolhidas para o desen-
volvimento deste estudo.
Estamos perante duas turmas do 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico, com au-
las lecionadas no âmbito da semestralidade (alternância entre História e Geografia). No
que diz respeito à sua composição no ano letivo de 2020/2021, a turma 9.º Marvel era
composta por 30 discentes, enquanto a turma 9.º D.C. era composta por 28165. Sobre a
165 Inicialmente, esta turma era composta por 30 discentes, no entanto, no início do ano letivo, duas alu-nas pediram transferência para outro estabelecimento escolar.
71
distribuição por género das turmas, esta pode ser analisada de acordo com o seguinte
gráfico (Gráfico 1):
De acordo com o Gráfico 1, a turma 9.º Marvel é composta maioritariamente
pelo género masculino, 57% do seu total, enquanto a turma 9.º D.C. é maioritaria-
mente composta pelo género feminino, igualmente 57% do total de alunos. Num uni-
verso de 58 discentes (somando o total de discentes de ambas as turmas), podemos
constatar assim uma curiosa e plena igualdade de géneros: uma percentagem de 50%
de rapazes e 50% de raparigas.
Para além da distribuição por género, é importante também caracterizar os dis-
centes no que diz respeito às suas idades, de forma a corroborar ou ir de encontro a
ideias expressas por alguns autores no Enquadramento Teórico. As idades dos discen-
tes podem ser analisadas através do Gráfico 2.
17
121316
0
5
10
15
20
9.º Marvel 9.º D.C.
Nú
me
ro d
e d
isce
nte
s
Turmas
Distribuição, por género, das turmas 9.º Marvel e 9.º D.C.
Masculino Feminino
3
10
17 18
0
5
10
15
20
9.º Marvel 9.º D.C.
Nú
me
ro d
e d
isce
nte
s
Turmas
Distribuição, por idades, das turmas 9.º Marvel e 9.º D.C.
13 14
Gráfico 1 - Distribuição, por género, das turmas 9.º Marvel e 9.º D.C.
Gráfico 2 - Distribuição, por idades, das turmas 9.º Marvel e 9.º D.C.
72
Com base no Gráfico 2, podemos afirmar que, à data da matrícula no ano letivo
2020/2021, em ambas as turmas, a maioria dos discentes tinha 14 anos.
Apesar de serem semelhantes tanto na distribuição do género, bem como na
distribuição de idades, o que se verifica é que, em termos comportamentais, as turmas
em análise mostraram-se bastante distintas.
O 9.º Marvel mostrou ser uma turma calma, mas bastante participativa, em-
bora esta participação fosse monopolizada por um grupo de três aluno (muito curiosos
e com grande cultura geral), que acabavam por ofuscar os restantes colegas. Já o 9.º
D.C. era uma turma mais agitada, caracterizada por algumas conversas paralelas (em-
bora não prejudicassem a aula, já que os alunos eram tão curiosos que tendiam a mos-
trar o que sabiam também aos que lhe ficavam perto...). Era igualmente uma turma
bastante dinâmica e participativa: embora nem sempre organizada na intervenção em
aula, mais generalizada e envolvente, se compararmos com a turma anterior.
Ambas as turmas exigiam uma ENORME preparação científica, pois eram glo-
balmente compostas por discentes interessados pela História e que revelavam cultura
geral e conhecimentos muito específicos sobre alguns conteúdos, de uma forma pouco
espectável neste nível etário. Esta foi uma das características que mais me admirou
nas duas turmas em análise. Honestamente, não estava preparado para ter alunos que
fossem tão interessados pela disciplina e que exigissem tanto a nível científico. Aliás,
das cinco turmas atribuídas à Orientadora Cooperante (duas de 8.º, duas de 9.º e uma
de 11.º), sem dúvida que eram estas duas eram as que mais exigiam em termos cientí-
ficos, pela sua permanente curiosidade e vontade de querer “saber mais”.
73
2. Vamos “apalpar terreno”: recolha de informação inicial
Com objetivo de preparar as intervenções pedagógicas que serão relatadas
posteriormente, foi necessária a recolha de dados iniciais, essencialmente relativos à
relação dos alunos com a Banda Desenhada, Cinema e Super-Heróis, com o intuito
de preparar as intervenções à luz das necessidades, características e conhecimentos
específicos de cada uma das turmas.
Neste segundo capítulo do Enquadramento Prático iremos, então, analisar os
dados recolhidos em ambas as turmas. A análise dos dados será realizada respei-
tando a confidencialidade e o anonimato dos dados dos discentes.
2.1. Turma 9.º Marvel
Relativamente a esta turma, os dados foram recolhidos oralmente em aula e,
no final desta, foram registados, por escrito, pelo Professor (eu). Como foi referido no
Subcapítulo 1.2 da Parte II, esta turma era composta por 30 discentes, 17 do sexo mascu-
lino e 13 do sexo feminino.
Quando questionados sobre quem gostava de ler Banda Desenhada apenas três
discentes levantaram os braços. O panorama alterou-se quando a questão passou para
quem gostava de ler mangá166 – neste caso, sete mostraram ser leitores frequentes.
Tudo isto se altera quando a questão é relacionada com a Sétima Arte: quando questi-
onados sobre se já tinham visto filmes de Super-Heróis, cerca de metade da turma
(treze) ergueu os braços. E ia-se ouvindo um entusiasmado burburinho de fundo com a
nomeação de alguns filmes como Capitão América, Os Vingadores: Endgame e Mulher
Maravilha.
166 Manga é o termo utilizado para a Banda Desenhada japonesa.
Ilustração 1 - Dese-
nho realizado pelo Pacificador das Na-ções, da turma 9.º Marvel.
74
Num breve diálogo com os primeiros três alunos que levantaram o braço, foi
perguntado que bandas desenhadas liam: dois dos alunos responderam de forma vaga,
respondendo “algumas da Marvel”. Em contrapartida, um desses três alunos foi mais
concreto, tendo respondido o seguinte: “Já li alguns números do X-Men, do Batman e do Su-
per-Homem e já li os primeiros 100 números do Capitão América”.
Relativamente ao contacto com Banda Desenhada em contexto de aula, os dis-
centes responderam que já tinham tido algumas experiências na disciplina de História
(algo que a Orientadora Cooperante corroborou) e em Português. Neste sentido, refe-
riram também que tinham considerado úteis essas experiências.
2.2. Turma 9.º D.C. Nesta turma, a recolha de informação foi realizada através da aplicação de um
inquérito por questionário167, formulado tendo em consideração as ideias referidas por
Tuckman na sua obra Manual de Investigação em Educação168. O inquérito por questio-
nário foi construído na plataforma do Google Forms e pode ser consultado nos Anexos
(Cf. Anexo 1 Carregue aqui) ou, digitalmente, através do link disponibilizado aqui. Este inqué-
rito esteve disponível para preenchimento por parte dos alunos entre os dias 15 e 29
de março de 2021.
A turma em análise era composta por 28 discentes, 12 do sexo masculino e 16
do feminino. Neste sentido é importante referir que, em 28 discentes, somente 20 respon-
167 A recolha de informação nesta turma foi diferente da anterior pois como a prática e a reflexão andam sempre de “mãos dadas”, foi sentida a necessidade de alterar o método de recolha de dados indo tam-bém ao encontro daquilo que podemos designar como “investigação-ação”, onde se tenta resolver um problema identificado – neste caso em concreto, o problema identificado foi a falta de informação con-creta passível de ser analisada de forma intensiva. 168 TUCKMAN, Bruce W. – Manual de investigação em educação: metodologia para conceber e realizar o processo de investigação científica. 4.ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. ISBN 978-972-31-1434-8.
75
deram. Apesar das várias solicitações por parte do professor, alguns dos discentes con-
tinuaram sem responder. Recordemos, no entanto, que se estava, então, em pleno pe-
ríodo de confinamento, pelo que as tarefas na generalidade das disciplinas se acumula-
vam.
O inquérito, anónimo, era composto por 11 itens de resposta rápida, das quais
apenas uma exigia justificação. Destes 11 itens, três eram de resposta aberta. Optou-
se por não colocar questões relativas ao género e à idade dos alunos, pois estes dados
já nos tinham sido fornecidos pela respetiva Diretora de Turma no início do ano letivo,
pelo que não se justificava este tipo de questões.
A primeira questão do inquérito prendia-se com o hábito de leitura de Banda
Desenhada dos alunos, e cujo objetivo era compreender se, por “conta-própria”, estes
estavam de algum modo familiarizados com este tipo de recursos. Os resultados não
foram muito promissores: 85% das respostas foram “Não” e apenas 15% reponderam
“Sim” (Gráfico 3).
A questão seguinte era dirigida somente aos alunos que responderam “Sim” à
questão anterior, sendo que esta pretendia, essencialmente, aferir a frequência com
que liam Banda Desenhada. Aqui, 66.7% dos resultados (o que corresponde a um total
de duas respostas) situam-se na opção “Duas a quatro vezes por semana”, enquanto
uma resposta (os restantes 33.3%) se situa na opção “Uma vez por mês”.
3
17
0
5
10
15
20
Sim NãoNú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Tens o hábito de ler Banda Desenhada?20 respostas
Sim Não
Gráfico 3 - Distribuição das respostas à questão "Tens o hábito de ler Banda Dese-
nhada?".
76
A terceira questão procurou ir ao encontro do relacionamento dos discentes
com Banda Desenhada em contexto de aula. De acordo com os dados fornecidos pelas
respostas dos alunos, podemos concluir que, à data da resposta ao questionário, 50%
dos alunos já tinham tido experiências com Banda Desenhada em contexto de aula, en-
quanto os restantes 50% não. No entanto, convém aqui referir que esta turma é com-
posta pelos mesmos alunos desde o 7.º ano e não deixa de ser estranho o facto de al-
guns responderem que já tiveram experiências e outros não, mas enfim…. Contra a evi-
dência dos dados, não há argumentos – mas pode significar que não entenderam
muito bem a questão ou que já tinham esquecido as experiências anteriores por terem
sido pontuais e/ou não abordarem o tema dos Super-Heróis.
Mais uma vez, a questão seguinte era destinada somente aos que responderam
“Sim” à questão anterior e, neste caso, o objetivo foi saber em que disciplinas já ti-
nham contactado com Banda Desenhada. Nesta questão, as respostas foram variadas,
embora convergissem todas na área das Línguas e em História (Gráfico 4).
De acordo com os dados presentes na figura acima, podemos concluir que as
disciplinas de Português e de História foram as disciplinas onde os alunos tiveram mais
contacto com Banda Desenhada (com um total de cinco alunos em cada), seguindo-se
as disciplinas de Francês (com três respostas) e de Inglês (com duas). Apenas um aluno
1
3
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
EducaçãoVisual
Francês Português Inglês História
Nú
mer
o d
e re
spo
stas
Em que disciplina?10 respostas
Disciplinas
Gráfico 4 - Distribuição das respostas à questão "Em que disciplina?".
77
respondeu que já tinha tido contacto com Banda Desenhada na disciplina de Educação
Visual.
Um dos pontos fulcrais neste inquérito era a questão “Consideraste útil essa ex-
periência?”, que dizia respeito às experiências utilizadas anteriormente nas disciplinas.
Nesta questão, a totalidade dos discentes respondeu “Sim” à questão, considerando
úteis as experiências realizadas nas respetivas disciplinas.
Tendo sido realizado este levantamento de ideias relativamente à Banda Dese-
nhada, passou-se para uma questão sobre o hábito e o interesse em ver filmes alusivos
a Super-Heróis. É importante referir que a resposta a esta questão era aberta. Num
universo de 20 respostas, 12 delas foram negativas, afirmando que não havia nem há-
bito, nem interesse em ver filmes referentes a Super-Heróis. No entanto, uma destas
respostas intrigou-me um pouco pelo mistério: “Infelizmente não.”. Ainda neste sen-
tido, obtivemos duas respostas iguais (já estava a tardar um copianço…): “Já não vejo
filmes de Super-Heróis há muitos anos e o único que vi não me cativou para continuar a ver esse
género de filmes.”. Esperemos que estas duas opiniões mudem!
As restantes 8 respostas foram de descrição dos filmes que viam, como, por
exemplo, “Filmes da Marvel”, “Marvel e DC em geral” ou “Qualquer filme da Marvel, menos o
Capitão América”. Esta última resposta deixa-me a pensar numa possível tendência polí-
tica que o aluno possa ter… Brincadeira!
Nesta linha de pensamento, seria também importante avaliar a opinião dos dis-
centes relativamente à possibilidade de se ensinar História através de Super-Heróis
(Gráfico 5).
78
As opiniões demonstram-se muito positivas, visto que em 20 respostas, 18
(80%) responderam “Sim”. Apenas dois alunos (20%) não consideravam, à data da res-
posta, possível aprender História através da utilização de Super-Heróis – opinião que
esperemos que seja alterada.
Os discentes, no entanto, tinham de justificar as suas respostas, independente-
mente de terem uma opinião negativa ou positiva. Todas as justificações podem ser
consultadas nos Anexos (Cf. Anexo 2 Carregue aqui). Por uma questão de se reportarem a um
menor número de alunos, comecemos pelas justificações do “Não”. Uma das justifica-
ções utilizadas foi a mais óbvia: “Porque não são reais.”. E até aqui tudo bem. Porém,
cabe ao Professor explicar que, apesar de serem personagens fictícias, há um contexto
histórico da sua produção/criação, assim como pequenas ideias ou simbologias pre-
sentes nos cenários e nos protagonistas – e que podem ser utilizadas em contexto de
aula.
A outra justificação negativa é bastante curiosa, pelo facto de ter demonstrado
uma certa preocupação por parte de um aluno face a um dos possíveis problemas da
utilização destes recursos em sala de aula: “O único motivo, pelo qual eu vejo coisas relacio-
nados a Super-Heróis, é o entretenimento, então eu acho que perderia a atenção da aula.”.
18
2
Sim
Não
0 5 10 15 20
Número de respostas
Consideras possível aprender História através da utilização de Super-Heróis
em sala de aula?
Sim Não
Gráfico 5 - Distribuição das respostas à questão "Tens o hábito de ler Banda
Desenhada?".
79
Relativamente às justificações positivas, algumas delas foram ao encontro da
ideia de serem recursos diferentes que podem tornar a aula mais apelativa, sendo
também uma forma de captar a atenção dos alunos. Podemos ler: “É uma maneira cria-
tiva de aprender.”. Ou então: “Os aluno/as interessam-se mais quando a aula não é tão monó-
tona.”. Repare-se que estamos perante duas respostas que vão totalmente de encon-
tro à resposta anterior, demonstrando assim a heterogeneidade de opiniões.
Uma outra resposta que vai ao encontro do que foi levantado anteriormente
refere que os Super-Heróis:
“São exemplos concretos, apesar de as personagens não serem reais, os ce-
nários em que se passa a ação têm um fundo de verdade. Penso que é quase
como falar dos temas de forma criativa e descontraída.”
Uma outra resposta chamou a atenção para a questão dos eventuais erros his-
tóricos que possam existir, sendo que podemos (e devemos!) incumbir a tarefa de cor-
reção ao Professor:
“Eu acho que seria muito interessante e nos iria ajudar a prestar atenção e a
lembrar das coisas e é uma maneira mais fácil para aprendermos história
desde que ocasionalmente se corrija os erros históricos que todos os filmes
têm.”
As duas questões seguintes prendiam-se com a criatividade e com a perceção
dos alunos sobre esta competência. A primeira questão neste tópico foi concebida à
luz da escala de Likert, e ia de “Discordo plenamente (1)” a “Concordo plenamente
(5)”, existindo as respostas intermédias de “Discordo (2)” e “Concordo (4)”. O terceiro
patamar dizia respeito ao “Neutro”, ou seja, uma resposta que não revelava qualquer
posição e opinião dos inquiridos (Gráfico 6).
80
Todas as respostas foram positivas, convergindo na ideia de que a criatividade
deve ser explorada em sala de aula. A maioria dos alunos (80%) tem uma posição
forte, na medida em que “concordam plenamente”. Apenas 20% das respostas (dois
alunos) se situam no quarto patamar, que diz respeito à opção “Concordo”. Podemos
talvez assumir estas 20 respostas como algo característico da turma em apreço, visto
que é um grupo de alunos muito participativo, que exige bastante em termos de pre-
paração científica e se revela sempre muito aberto a novas experiências.
Tendo avaliado a perceção da turma face ao desenvolvimento da criatividade
em aula, passou-se para uma questão que analisasse o método com que os alunos
mais gostariam que esta fosse desenvolvida (Gráfico 7).
2
18
0
5
10
15
20
Discordoplenamente (1)
Discordo (2) Neutro (3) Concordo (4) Concordoplenamente (5)
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Grau de concordância
A criatividade deve ser explorada em sala de aula.20 respostas
10
48 10
15
2
05
101520
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Áreas de interesse
De que forma gostavas que a tua criatividade fosse explorada nas aulas de História?20 respostas
Gráfico 6 - Distribuição das respostas à questão "A criatividade deve ser explorada em sala
de aula.".
Gráfico 7 - Distribuição das respostas à questão "De que forma gostavas que a tua cria-
tividade fosse explorada nas aulas de História?".
81
Antes da análise dos resultados desta questão, é importante referir que podiam
ser escolhidas várias opções, de forma a ser possível os discentes escolherem as áreas
que mais gostavam. De facto, as respostas foram bastante distribuídas e as opções que
menor percentagem obtiveram foram Escultura, com 20% das escolhas, e Moda, com
10%. Relativamente às opções com mais votos, e numa análise crescente, os alunos
manifestaram maior interesse nas áreas da Escrita (40%), da Pintura (50%) e Dramatiza-
ção (50%). A Música foi a área com a maior percentagem, contabilizando 75% das esco-
lhas, o que equivale a um total de 15 discentes, num universo das 20 respostas subme-
tidas.
Ainda nesta questão, houve uma resposta que não foi inserida no gráfico da
Gráfico 8. Uma das respostas foi mais longe do que as seis opções dadas e, no campo
“Outros”, escreveu: “Um jogo… embora seja um pouco difícil.”.
A última questão do inquérito era uma questão de resposta aberta, onde os
alunos tinham a hipótese de referir os temas em que mais gostariam de ver a aplicação
de recursos relacionados com Super-Heróis (Gráfico 8).
6
10
4
Não sei
Guerra
Todos
0 2 4 6 8 10 12Dis
trib
uiç
ão d
os
tem
as
Número de respostas
Em que temas de História gostarias que fossem utilizados Super-Heróis como um recurso de ensino-aprendizagem?20 respostas
Gráfico 8 - Distribuição das respostas à questão "Em que temas de História gostarias que fos-
sem utilizados Super-Heróis como um recurso de ensino-aprendizagem?".
82
Convém referir que estes três grupos (“Todos”, “Guerra” e “Não sei”) foram cri-
ados com base nas respostas dos discentes, de forma a facilitar a análise dos dados.
Apesar de estarmos perante uma questão de opinião, seis respostas foram va-
gas, no sentido em que não deram uma opinião concreta (“Não sei“). Neste sentido
também podemos inserir as quatro respostas que se inserem no grupo “Todos”, conta-
bilizando, deste modo, 10 respostas vagas. As restantes 10 referiram ter interesse em
ver temas relacionados com guerras abordados através de Super-Heróis (sobretudo a
Primeira e a Segunda Guerra Mundial) (Gráfico 8).
83
3. Descrição das trincheiras… UPS! Quer dizer, das intervenções
pedagógicas
Este terceiro capítulo tem em si subjacente a explicação da metodologia, ou seja,
do processo de chegada a esta (audaciosa?) ideia de utilizar recursos alusivos a Super-
Heróis na aula de História. Por outro lado, e ainda neste capítulo, as intervenções pe-
dagógicas construídas à luz desta temática serão exploradas e relatadas, tanto no que
diz respeito ao seu processo de construção, como à sua aplicação.
3.1. “Coisas do arco-da-velha”: a metodologia
Mesmo antes da entrada no Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do En-
sino Básico e no Ensino Secundário, já estava familiarizado com a necessidade da reda-
ção de um Relatório de Estágio, que deveria ter subjacente uma temática específica e
que fosse desenvolvida ao longo do ano de Estágio. Não minto que esta ideia me ator-
mentou o pensamento durante umas boas semanas, essencialmente entre o final do
1.º ano do Mestrado e o início do 2.º.
Começou o 2.º ano e eu tinha a mente vazia, sentindo-me quase a entrar numa
crise existencial por não conseguir encontrar um tema que fosse inovador... Até que,
numa leitura de um artigo relacionado com ideias prévias, tive uma epifania e pensei
em desenvolver um Relatório relacionado com a exploração de ideias tácitas dos alu-
nos sobre conceitos estruturantes. Não é uma má ideia, certo? Fica aqui uma proposta
para eventuais alminhas que se encontrem no limbo para escolher um tema. Não têm
de agradecer…
Estava já eu mergulhado de corpo inteiro em bibliografia relacionada com as te-
máticas referidas anteriormente, até que, numa aula de Seminário Integrador, às 8h30
de uma sexta-feira chuvosa, alguém se dirige a mim e diz “Encontrei isto e lembrei-me de
ti. Se calhar podias fazer algo semelhante, mas melhor”. Neste momento, abriu-se a minha
84
“caixinha de Pandora”. Essa pessoa, a quem desde já agradeço imensamente, mos-
trou-me uma Dissertação de Mestrado do Instituto de História da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, de título Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões
didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula.169
Esta abordagem da Professora Cláudia tinha uma razão de ser. No ano anterior,
na Unidade Curricular de Aplicações Didáticas em História, preparámos duas aulas:
uma para o Ensino Básico e outra para o Ensino Secundário. Para o Ensino Secundário
optei pela construção de uma aula subordinada ao tema da Guerra Fria, a aplicar num
12.º ano de História A. Pensei em inúmeras estratégias que tornassem a aula dinâmica
e criativa e uma dessas estratégias foi ao encontro da rentabilização de uma das mi-
nhas paixões: comics. A estratégia passou por utilizar personagens fictícias; neste caso,
Super-Heróis. Estranho? Hum… sim… Exequível? Decididamente!
De forma a ilustrar o conflito político-ideológico característico daquele período
da História Europeia e Mundial, optei por utilizar as personagens do Capitão América, de
forma a “personificar” os Estados Unidos, e do Guardião Vermelho, para o lado soviético.
De facto, estas duas personagens têm um contexto de criação muito próprio: o Capitão
América é criado em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial; o Guardião Vermelho,
nasceu em 1967 e foi uma espécie de resposta soviética ao Capitão América. No en-
tanto, e curiosamente, ambas as personagens foram criadas por norte-americanos.
Depois desta ideia aplicada na U.C. de Aplicações Didáticas em História, e face à
proposta da Professora Cláudia, decidi aceitar o desafio e meter as “mãos na massa”.
Para além de me basear na bagagem pessoal que já tinha sobre este tema, pesquisei
intensamente, de forma a encontrar outros recursos e a fundamentar ideias que pode-
riam ser utilizados neste sentido… E que bela pesquisa foi esta! Encontrei e consegui
169 GIBSON, Arthur – Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado.
85
fundamentar vários recursos que acabei por rentabilizar numa das intervenções peda-
gógicas, precisamente a subordinada ao mesmo tema que abriu caminho a esta
Stairway to Heaven (ou Highway to Hell, nem sei bem): a Guerra Fria.
Como referido na Primeira Parte, relativa ao Enquadramento Teórico, a bibliografia
sobre esta questão dos Super-Heróis é praticamente inexistente, pelo que tentarei ex-
plorar e relatar todo o processo de preparação das intervenções realizadas, assim
como as suas aplicações na aula de História.
ATENÇÃO: deixo aqui um aviso de que os seguintes subcapítulos podem conter spoilers!
3.2. “Mulher Maravilha”: as consequências da Primeira Guerra Mundial
A primeira intervenção foi aplicada apenas na turma 9.º D.C. (em regime de En-
sino @ Distância) e consistiu na utilização de excertos do filme “Mulher Maravilha”
(2017), numa regência subordinada às consequências da 1.ª Guerra Mundial (e cujos
planos de aula podem ser consultado nos Anexos (Cf. Anexo 3 Carregue aqui). Esta intervenção
apenas foi aplicada nesta turma e nos dias 4 e 9 de março de 2021, pois o tema que
sustenta este Relatório de Estágio surgiu já após ter lecionado a mesma aula numa ou-
tra turma (relembro que História e Geografia são lecionadas em regime de semestrali-
dade).
De acordo com o documento das Aprendizagens Essenciais (2018), esta aula/in-
tervenção insere-se no Domínio “A Europa e o Mundo no limiar do Século XX”, tendo
como Subdomínio “Hegemonia e Declínio da Influência Europeia”. Nesta aula, o obje-
86
tivo principal era “Analisar as alterações políticas, sociais, económicas e geoestratégi-
cas decorrentes da rutura que constituiu a I Guerra Mundial”. Os conceitos eram: Ulti-
mato, Paz Precária, Fordismo, Taylorismo, Estandardização e Inflação.170
Os diapositivos referentes a esta intervenção serão disponibilizados nos Anexos
(Cf. Anexo 4 Carregue aqui), embora no decorrer do texto se encontrem alguns exemplos.
Depois de ter analisado a dissertação de Gibson e de ter visto o filme em refe-
rência duas vezes (uma por entretenimento, na altura do seu lançamento, e outra para
uma análise mais aprofundada), concluí que, de facto, ele poderia ser utilizado em
aula, no contexto da 1.ª Guerra Mundial. Existem vários aspetos que podem ser abor-
dados e/ou relembrados: algumas das consequências do conflito, os cenários da
Guerra das Trincheiras e da “terra de ninguém” ou mesmo a emancipação feminina
(ou os primeiros passos, após a revolução das mentalidades iniciada pelos movimentos
sufragistas e o surgimento de um novo tipo de mulher decorrente das exigências do
terrível conflito, mais ativa e autónoma).
O filme em análise estreou em 2017 e é baseado na Banda Desenhada171 da
mesma franquia, cujos direitos pertencem à Detective Comics (D.C.). O Mulher Maravi-
lha contou com um orçamento de 149 milhões de dólares (121,75 milhões de euros) e
conseguiu receitas superiores a 800 milhões de dólares (superior a 653,67 de euros)172.
Os filmes da Mulher Maravilha, assim como as bandas desenhadas, relatam a
história de Diana, uma mulher que nasceu e cresceu na ilha de Themyscira, terra natal
de uma raça de mulheres guerreiras, as Amazonas. Estas são criadas com o propósito
de defender a Terra contra Hares, o deus grego da guerra, que acaba por derrotar
Zeus, seu pai (boas referências históricas, certo?). Zeus, antes de morrer, deixa as suas
últimas forças numa espada, que é entregue às Amazonas, a God Killer. Apesar de se
170 ME/DGE – Aprendizagens Essenciais – 9.º Ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Edu-cação/Direção-Geral de Educação, 2018. 171 A Banda Desenhada da Mulher Maravilha foi criada por William Marston (ou Charles Moulton) e pu-blicada, pela primeira vez, em dezembro de 1941. 172 Dados retirados de: https://bit.ly/3yxIFmc.
87
acreditar que Hares nunca mais irá atacar a Terra, Diana quer treinar e aprender a lu-
tar. A imersão na mitologia grega, normalmente associada ao domínio do masculino, é
o primeiro passo na criação desta original personagem.
A situação avança no tempo quando o aeroplano de Steve Trevor, um piloto da
Força Aérea americana, se despenha perto da ilha de Themyscira e é perseguido por
soldados alemães. Estes acabam por ser derrotados pelas Amazonas e Steve por ser in-
terrogado por Hipólita, mãe de Diana e Rainha das Amazonas. Steve confessa que a
Grande Guerra fora espoletada; e neste sentido Diana é incumbida de ir para os Esta-
dos Unidos com Steve, com o propósito de derrotar Hares, que considerava estar por
detrás do conflito. Os principais antagonistas e vilões, pelo menos no filme, são a Dr.ª
Poison, que tenta desenvolver uma versão aprimorada e mais letal do famoso gás mos-
tarda, impelida pelo próprio Hares, e o General Erich Ludendorff173, que ganhou pode-
res sobre-humanos depois de ter inalado um gás especial desenvolvido pela Dr.ª Poi-
son.
A intervenção em aula começou, em jeito de motivação, com a análise de uma
tira da Banda Desenhada intitulada Charley's War, embora esta saísse do tópico dos Su-
per-Heróis (Figura 1). Esta tira, de forma muito sucinta, retratava as condições desuma-
nas pelas quais os soldados tinham de passar nas trincheiras. O intuito desta estratégia
consistiu na utilização de outros recursos, ainda que no campo da Banda Desenhada,
que não fossem só essencialmente de Super-Heróis.
173 Esta personagem foi baseada na figura real com o mesmo nome. Erich Ludendorff (1865-1937) foi um general alemão que se destacou pela sua exemplar liderança durante a Primeira Guerra Mundial.
88
Com a análise desta tira, os alunos rapidamente chegaram à conclusão de que
os soldados, quer da Tríplice Aliança quer da Tríplice Entente, foram considerados he-
róis pelos seus compatriotas, embora sem poderes sobre-humanos: homens reais, ca-
pazes dos atos mais corajosos e intrépidos. Aliás, o aluno Estrela Vermelha chegou a
afirmar o seguinte: “Os soldados, independentemente de qualquer guerra, são sempre heróis
porque estão a defender o seu país.” A isto, o #2D.C. acrescentou: “É como o filme do Ha-
cksaw Ridge, em que ele é um herói por não ter usado armas.”.
Depois deste momento inicial, foi apresentado um bilhete de cinema criado na
plataforma Canva (Cf. Anexo 4 Carregue aqui), com o intuito de introduzir a estratégia à
turma e de forma a contextualizar o que iriam analisar. Apesar de alguns terem refe-
rido que já tinham visto o filme não souberam explicar a história da personagem da
Mulher Maravilha, pelo que foi necessário proceder a uma breve contextualização.
Esta contextualização foi idêntica à que fora apresentada anteriormente neste subca-
pítulo sem, no entanto, revelar algumas informações que pudessem enviesar as estra-
tégias concebidas.
Posto isto, passou-se para a apresentação de quatro questões simples, que fo-
ram anotadas nos cadernos diários para que os discentes respondessem – e que iam
Figura 1 - Diapositivo utilizado.
89
ao encontro da visualização de um pequeno excerto do filme Mulher Maravilha, que se
encontra disponível na plataforma Youtube174.
As questões eram as seguintes:
• Onde decorre a ação inicial?
• O que era a “terra de ninguém” (no man’s land )?
• Que consequências consegues identificar neste excerto?
• Que simbologia terá a presença de Diana (Mulher Maravilha ) na frente de bata-
lha?
As questões formuladas exigiam uma análise atenta do excerto do filme que iria
ser visualizado, assim como um feedback de conteúdos lecionados anteriormente,
como, por exemplo, a definição do conceito de “trincheiras” e “terra de ninguém”,
abordados numa das aulas da Orientadora Cooperante.
Das quatro questões, a que suscitou maior interesse por parte dos discentes, a
julgar pelas várias intervenções, foi a última. O #16D.C. começou por responder que “As
mulheres também tinham o direito de representar e defender o seu país na guerra, talvez seja
essa a simbologia.”. Esta ideia não deixa de ser pertinente. No entanto, foi necessário
relembrar que, à época, as mulheres não se podiam alistar no exército, salvo raras ex-
ceções que viriam a ser referidas posteriormente pelo Professor.
Uma outra resposta foi dada pelo #23D.C., que referiu que, “Apesar de as mulhe-
res não poderem participar na guerra de forma direta, se calhar podiam ajudar os soldados ou
então tratar daquilo que ficava pendente nas cidades, por exemplo.”. De facto, era isto que
acontecia, por exemplo com as enfermeiras da Cruz Vermelha, que auxiliavam os con-
tingentes militares na frente de batalha; ou com as chamadas “Municionistas”, na
174 Excerto disponível na plataforma YouTube. Disponível em: https://www.you-tube.com/watch?v=pJCgeOAKXyg.
90
França, que trabalhavam na indústria bélica, na construção de munições para o arma-
mento. No entanto, estas ideias só foram reveladas posteriormente na aula, no con-
texto das consequências sociais.
Neste sentido, penso que seja pertinente expor o comentário do discente
Sniper Desconhecido, que acrescenta que “As mulheres, mesmo não sendo reconhecidas,
tiveram papéis fundamentais na guerra.”. Todavia, tendo em conta que a resposta deste
discente foi um pouco vaga, questionei-o sobre esses “papéis fundamentais”, ao que o
#2D.C. respondeu o seguinte:
“Cuidar das casas, das cidades, preparar alimentação para os soldados, ocu-
parem os lugares nos hospitais. Eu acho que, com a guerra, as mulheres con-
seguiram tornar-se mais independentes, tanto socialmente como economi-
camente.”
Esta ideia levantada pelo aluno foi importante pertinente para a aula e acabou
por ser, por questões de tempo, o fim do diálogo horizontal que se estabeleceu entre a
turma cujo meu papel, enquanto Professor, foi o de lhes dar a palavra, organizando a
participação e acrescentando algumas ideias. Não foram necessárias correções às mui-
tas intervenções: primeiro, porque estávamos perante respostas de opinião; segundo,
porque, na sua generalidade, as respostas, do ponto de vista científico, não estavam
de todo erradas.
Terminado este momento e depois de uma análise das consequências demo-
gráficas do conflito, passou-se para uma breve análise do que foram as consequências
físicas, sobretudo para os soldados na frente de batalha. Esta análise foi realizada atra-
vés de um conjunto de imagens da época, passando por outras questões normalmente
não referidas nos manuais: os massacres das populações civis (como, por exemplo, o
Genocídio Arménio, tantas vezes esquecido); ou os milhões de mortos, nos quais se in-
cluem as vítimas da denominada Gripe Espanhola. Antes da referida análise foram uti-
lizadas duas imagens retiradas do filme, que permitiam aos discentes a identificação
91
dos problemas vividos pelos soldados nas frentes de combate durante a guerra das
trincheiras (Figura 2).
De forma espontânea, os discentes identificaram consequências físicas (como
perda de membros) e psicológicas sentidas no pós-guerra. No entanto, houve uma in-
tervenção que deve ser aqui identificada pela sua pertinência, a intervenção de #9D.C.:
“Ó stor, não podemos dizer que uma das consequências para os soldados eram os ferimentos das
armas, tipo das baionetas e dos gases como o mostarda?”.
Relativamente a esta intervenção, a referência às baionetas (sobretudo as serri-
lhadas, como o discente acaba depois por referir) e aos gases tóxicos (neste caso o gás
mostarda) foi um feedback de conteúdos lecionados anteriormente sobre o arma-
mento utilizado durante a 1.ª Guerra Mundial. Depois de questionado sobre quais se-
riam os efeitos da utilização destes dois tipos de armamento (um já muito anterior ao
conflito e o outro nele surgido pela primeira vez), um aluno utilizou uma expressão
muito peculiar, referindo-se às baionetas serrilhadas, afirmando que estas “rasgavam”
os corpos. Já sobre o gás mostarda, a ideia que acabou por expressar foi a de “corro-
são”. Esta conclusão teve de ser desmistificada mais uma vez, pois o gás mostarda não
“corroía”, mas provocava terríveis lesões pulmonares que levavam à asfixia e à morte
ou, na “melhor” das hipóteses, a uma sobrevivência curta e com limitações respirató-
rias que acabavam também por provocar, precocemente, a morte.
Figura 2 - Diapositivo utilizado.
92
A seguinte parte da intervenção prendia-se com a abordagem das consequên-
cias sociais da Primeira Guerra Mundial, que estavam intrinsecamente ligadas às con-
sequências demográficas, abordadas no início da aula. Neste ponto foram tratadas
questões como a desorganização da estrutura familiar e a necessidade de as mulheres
ocuparem trabalhos que foram deixados vazios devido ao recrutamento massivo de
homens para o conflito. Sob o mote Homens ausentes, Mulheres independentes, fez-se
uma pequena analogia entre Diana (Mulher Maravilha) e as mulheres reais que, apesar
de não terem uma espada deixada por um deus, desempenharam papéis fundamen-
tais durante a ausência masculina, não deixando parar os seus países e amortizando
danos que seriam inevitáveis. Elas foram também guerreiras: não nos campos de bata-
lha, mas na luta pela sobrevivência das suas famílias.
No seguimento desta ideia, foram analisados dois pequenos cartazes, retirados
de um manual175, que diziam respeito à necessidade que os países tinham de empre-
gar mulheres em setores produtivos que até aí não eram habituais. O primeiro era um
cartaz de propaganda francês, datado de 1918, que apelava à necessidade do trabalho
feminino na indústria. No cartaz podia-se ler o seguinte: “São precisos mais aviões.
Mulheres venham ajudar! Treino gratuito e subsídios de manutenção.”. O segundo car-
taz, norte-americano, era um cartaz de propaganda para o recrutamento de mulheres
para apoio ao exército na retaguarda.
A penúltima parte desta intervenção estava relacionada com uma das conse-
quências sociais e económicas da Primeira Guerra Mundial: a questão dos deslocados
(ou refugiados). Através de quatro imagens retiradas do pequeno excerto que a turma
tinha analisado na primeira parte desta intervenção, os discentes foram questionados
sobre um dos problemas que surgiram como consequência do conflito. Estes foram ca-
pazes de identificar que, de facto, um dos grandes problemas socioeconómicos deste
175 CIRNE, Joana; HENRIQUES, Marília – Viagem na História 9. Porto: Areal Editores, 2020. ISBN: 978-989-767-052-7. P. 27.
93
conflito foi a deslocação de civis que, no meio de uma guerra, ficavam sem as suas ha-
bitações, sendo obrigados a sair da sua terra natal e/ou a viver em condições miserá-
veis, até mesmo como mão-de-obra gratuita dos países ocupantes (Figura 3).
Por fim, a última questão
abordada através da utilização de
excertos do filme Mulher Maravi-
lha estava relacionada com as
consequências materiais do con-
flito. O objetivo desta estratégia
era levar os alunos, a partir da
análise da imagem, a identificar
consequências materiais do conflito (Figura 4).
Mais uma vez, e tendo em conta o perfil da turma em questão, esta estratégia
foi concluída de forma muito assertiva. Os alunos rapidamente identificaram, por
exemplo, a destruição das cidades. Senti a necessidade de levá-los a analisar mais
aprofundadamente as imagens, para delas retirarem outras ilações/conclusões. Depois
de questionados se apenas as cidades tinham sido destruídas, o aluno #4D.C. refere
que “Também os campos foram destruídos.”. E não poderia estar mais correto. De facto,
campos, cidades e aldeias foram destruídos pelos obuses dos canhões e, sobretudo,
Figura 3 - Diapositivo utilizado.
Figura 4 - Diapositivo utilizado.
94
por terem sido o palco dos longos e extenuantes anos de combates da guerra das trin-
cheiras. Para além da identificação destas consequências, os alunos foram motivados a
fazer uma análise mais detalhada, tentando identificar consequências menos objetivas.
Neste sentido, o aluno Sniper Desconhecido foi o primeiro (e único) a identificar a
destruição de infraestruturas como igrejas, escolas e fábricas. Esta intervenção permi-
tiu-me acrescentar outras possibilidades de resposta, como a destruição de hospitais,
ferrovias, pontes, estradas; e acrescentar a ideia de que os campos agrícolas, por
exemplo, foram destruídos com a construção das trincheiras e os combates que nelas
se desenrolaram, comprometendo durante décadas a produção agrícola.
A intervenção terminou aqui. Porém, a aula continuou com a análise das conse-
quências económicas, com a abordagem da Conferência de Paz e com a ascensão dos
Estados Unidos face ao declínio económico europeu.
Como conclusão, registo que esta não foi uma estratégia muito “sofrida”, pois
tive a ajuda da dissertação de Gibson, como referi logo de início. Penso que esta estra-
tégia teve impacto positivo nos alunos, não só a julgar pela grande adesão em aula
(que já era uma característica da turma), mas também tendo em consideração a opi-
nião que os alunos manifestaram no questionário final que será analisado no Capítulo 4.
3.3. “Capitão América”: Segunda Guerra Mundial e Nazismo
Esta intervenção, ao contrário da anterior, foi aplicada nas duas turmas já men-
cionadas. Na turma 9.º Marvel, foi aplicada no dia 10 de dezembro de 2020; enquanto
na turma 9.º D.C., foi aplicada no dia 6 de maio de 2021, ambas em aulas da Orienta-
dora Cooperante. Esta intervenção, que consistiu na utilização da comic do Capitão
América para abordar conteúdos relacionados com o Nazismo (sobretudo o conceito
de Eugenia), foi mais complexa, no sentido em que não existiam referências explícitas
nos recursos utilizados (excertos da comic), pelo que foi necessária uma contextualiza-
ção mais aprofundada, se compararmos com a primeira intervenção descrita. Não que
95
na primeira não tenha sido realizada uma contextualização digna, atenção! É impor-
tante referir que esta intervenção se baseou também na dissertação de Gibson, já re-
ferida neste capítulo.
De acordo com o documento das Aprendizagens Essenciais (2018), esta interven-
ção insere-se no Domínio “Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial”, tendo
como Subdomínio “As dificuldades económicas dos anos 30. Entre a Ditadura e a Demo-
cracia”. O objetivo principal desta aula era “Descrever as principais características dos
regimes totalitários”, focando sobretudo o regime Nazi. Já no que diz respeito a concei-
tos, nesta aula seriam explorados o Antissemitismo e a Eugenia176 177.
A Banda Desenhada do Capitão América foi criada por Jack Kirby e Joe Simon, e
foi publicada pela Timely Comics178, em março de 1941, ou seja, em plena Segunda
Guerra Mundial, mas anterior à intervenção americana no conflito179. Da adaptação da
Banda Desenhada ao mundo cinematográfico surgiram vários filmes, sob o nome da
personagem principal (e outros, como, por exemplo, Os Vingadores). Esta comic relata
a história de Steve Rogers, nascido a 4 de julho de 1922. Steve, um jovem com proble-
mas de saúde (asma, raquitismo, problemas de coração, sinusite), era filho de imigran-
tes irlandeses e sempre manifestara o interesse de se alistar no exército e ajudar o seu
país. Steve chega a inscrever-se no exército americano; porém, a sua candidatura é re-
jeitada devido às patologias que apresentava.
176 ME/DGE – Aprendizagens Essenciais – 9.º Ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da
Educação/Direção-Geral de Educação, 2018. 177 O conceito de Eugenia, apesar de explorado em sala de aula, não faz parte das Aprendizagens Essenci-ais. 178 Em meados de 1960, a Timely Comics adota o nome Marvel, como é atualmente conhecida. 179 Será interessante referir que ela surge ainda num período de alguma hesitação dos políticos norte-americanos: embora muitos fossem favoráveis a uma intervenção imediata no conflito, por considerarem Hitler como uma espécie de incarnação do mal, o sofrimento ainda muito presente sobre a participação na Grande Guerra e a propaganda nazi (que criara raízes nos EUA entre as duas guerras e crescera após a eclosão da Segunda Guerra Mundial), dominava os media. Como se sabe, foi o ataque a Pearl Harbour, em dezembro de 1941, que justificaria, definitivamente a intervenção americana, tão desejada por Roo-sevelt.
96
Depois dessa rejeição, Steve toma conhecimento de uma experiência desenvol-
vida pelo Dr. Reinstein (ou Abraham Erskine), um judeu alemão que trabalhava para a
Alemanha nazi e que fugira para os EUA. Essa experiência tinha como objetivo desen-
volver aquilo que seria considerado o “Super-Soldado”, a melhor e mais eficaz arma
americana contra as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Steve submete-se a
revolucionários procedimentos médicos e é dotado de uma força sobre-humana, tor-
nando-se útil e a arma principal do exército que tanto queria servir.
Esta história está aqui muito resumida, para facilitar o entendimento da criação
da personagem, para enquadrar a leitura deste relatório por um eventual leitor desco-
nhecedor deste tipo de Banda Desenhada. Em contexto de aula, tudo foi diferente,
pois iniciou-se o tema questionando a turma sobre se alguém conhecia a história do
Capitão América e, caso conhecessem, se a poderia explicar aos colegas.
No 9.º Marvel, apenas o Atomic Patriot se mostrou conhecedor da história e dis-
ponível para a apresentar, embora a sua explicação se revelasse bastante superficial –
pelo que foi necessário, posteriormente, fazer alguns esclarecimentos e acrescentar
outros pormenores. Por outro lado, no 9.º D.C., o aluno Estrela Vermelha foi o voluntá-
rio que, permitam-me dizer, brilhou! Explicou a história com um pormenor extraordi-
nário, não tendo escapado nada. Não esperava isto, confesso. Apenas me limitei a re-
sumir tudo o que tinha dito.
De seguida passou-se à análise da
capa do primeiro número da Banda Dese-
nhada do Capitão América, publicado em
março de 1941 (Figura 5). A tarefa foi reali-
zada com grande facilidade por ambas as
turmas. Diga-se que a atividade era muito
intuitiva e, tendo em conta o panorama
geral dos dois grupos, era esperado que
fosse realizada de forma rápida e eficaz, identificando, desde logo, a cena principal: o
confronto entre Steve Rogers (ou Capitão América) e Hitler.
Figura 5 – Diapositivo utilizado.
97
No entanto, a análise não ficou por
aqui. Com a chamada de atenção do Pro-
fessor para possíveis pormenores, os alu-
nos conseguiram identificar nesta capa al-
guns desses detalhes como, por exemplo,
os “planos de sabotagem dos E.U.A.” que
podem ser observados atrás da figura de
Hitler (Figura 6). Relativamente aos porme-
nores, a turma 9.º Marvel foi mais eficiente, identificando-os quase de imediato. Já na
turma 9.º D.C., essa identificação foi retirada a “saca-rolhas”, que é como quem diz,
com maior dificuldade.
Uma outra componente analisada foi a data de publicação deste primeiro nú-
mero: março de 1941. No 9.º Marvel, o Atomic Patriot levantou uma questão que pode-
mos considerar cabal neste contexto: “Ó stor, os Estados Unidos não entraram na guerra em
agosto?”. Errando no mês, o aluno tinha, no entanto, a perceção de que a Banda Dese-
nhada era, efetivamente, anterior aos acontecimentos de Pearl Harbour. É importante
referir que num universo de 58 alunos, somente um colocou esta questão; e, a partir
dela, e ainda na turma supramencionada, foi perguntado se alguém conseguiria res-
ponder à questão do colega, sendo que o Pacificador das Nações respondeu o seguinte:
“O presidente americano era favorável à guerra, talvez seja por isso que foi publicada em
março.”.
Apesar desta questão da entrada dos Estados Unidos já ter sido referida em au-
las da Orientadora Cooperante, e face ao “esquecimento” geral observado, foi então
realizada uma exposição, por parte do Professor, para relembrar que, de facto, os Esta-
dos Unidos da América só tinham entrado oficialmente no conflito em dezembro de
1941, depois do ataque japonês a Pearl Harbour. Este acontecimento deu origem à in-
tervenção direta no conflito, já que governo norte-americano, presidido por Franklin D.
Roosevelt, era favorável a essa participação, levando de imediato a uma propaganda
Figura 6 - Diapositivo utilizado.
98
de apelo à participação na guerra e ao alistamento dos jovens nas forças militares. E
sim, as “teorias da conspiração” face ao episódio de Pearl Harbour não tardaram a ser
abordadas: os norte-americanos sabiam ou não da aproximação da ameaça nipónica?
Outros aspetos explorados no Capitão América foram as simbologias:
a) a vestimenta do Capitão América, que o #2D.C. identificou como sendo
uma referência à bandeira americana, pormenor também identificado e
evidenciado por vários alunos na turma 9.º Marvel. Em jeito de brinca-
deira, os discentes Atomic Patriot, da turma 9.º Marvel e #9D.C., da turma
9.º D.C., identificaram o Capitão América como sendo o “Capitan Puerto
Rico”, pela semelhança entre as bandeiras dos Estados Unidos e de
Porto Rico;
b) a data de nascimento de Steve: 4 de julho de 1922. Depois de questio-
nados sobre o significado do 4 de julho, a maioria dos alunos da turma
9.º Marvel identificou-a como sendo a data da independência dos Esta-
dos Unidos da América. Na turma 9.º D.C. apenas um aluno respondeu à
questão, num universo de 28 estudantes (embora me parecesse que o
resto da turma não se manifestou por não estar completamente segura
e temer errar – competitivos como eram, preferiam não se pronunciar,
a arriscar). A análise do evento referido nesta alínea serviu, em certa
medida, de feedback dos conteúdos lecionados no ano anterior (8.º
ano), subordinados à Revolução Americana.
Depois deste primeiro momento de análise de alguns particularismos simbóli-
cos do Capitão América, e que serviram igualmente de enquadramento ao cenário his-
tórico nele refletido, passou-se à análise dos efeitos da experiência do “Super-Sol-
dado”. A esta altura, os alunos já estavam familiarizados com o facto de a experiência
ter sido desenvolvida por um doutor alemão, judeu, que tinha fugido da Alemanha
Nazi.
99
Foi-lhes pedido para descreverem
as alterações do corpo do Steve após a ex-
periência. Rapidamente, os alunos identi-
ficaram o corpo atlético como sendo a ca-
racterística mais óbvia, a mais visível (Fi-
gura 7). No entanto, a análise ia para além
deste óbvio.
Foi referido que Steve, para além
de ser loiro e possuir, depois da experiência, um corpo atlético, tinha também olhos
azuis. Logo o Sniper Desconhecido, do 9.º D.C., fez questão de afirmar que “parece um ale-
mão”.
A partir daqui, passou-se para uma
exploração e elucidação dos conceitos de
ariano perfeito e eugenia, neste caso em
concreto, eugenia nazi (Figura 8). Neste
ponto, o único conceito explorado em
aula tinha sido o de ariano perfeito, numa
das aulas da Orientadora Cooperante.
Desta forma, explorou-se o conceito “eu-
genia”, depois do levantamento de ideias
prévias sobre o seu possível significado, embora em nenhuma das turmas os alunos o
recordassem.
Passou-se para uma breve explicação destes conceitos e de como estavam liga-
dos à ideologia nazi. Também se abordou a forma com que estes ideais foram inseri-
dos nas políticas raciais alemãs e postas em prática neste contexto. Para além da ques-
tão das perseguições a minorias e a opositores do regime, já referidas em aulas anteri-
ores, foram abordadas as “Leis de Nuremberga”, para exemplificar os métodos com os
quais se aplicava a ideia do aperfeiçoamento de uma raça (a ariana) e da pureza racial
Figura 7 – Diapositivo utilizado.
Figura 8 - Diapositivo utilizado.
100
que culminaria no genocídio de cerca de 6 milhões de seres humanos considerados in-
feriores: os judeus. A imposição da “pureza rácica”, no entanto, não se limitou a este
grupo, já que outros povos foram também enviados para o extermínio (ciganos) ou
considerados sub-humanos (russos, por exemplo).
De forma a completar a temática, a Professora Orientadora chamou a atenção
para dois conceitos importantíssimos: Holocausto e Memoshoá. Explicitou a diferença
entre ambos e o seu significado literal, concluindo sobre a preferência atual pela utili-
zação da segunda denominação.
Por fim, foi proposta uma atividade prática às duas turmas: no 9.º Marvel foi
uma tarefa no campo da oralidade; e no 9.º D.C. o trabalho seria realizada por escrito.
O desafio obedecia ao seguinte mote:
Desde já gostava de identificar a razão pela qual o modelo de trabalho pro-
posto nas duas turmas foi diferente. O objetivo deste desafio era levar os discentes a
assumirem uma posição e a fundamentarem a sua opinião. Ora, de forma oral isto é
exequível, embora alguns alunos acabem por não conseguir manifestar as suas opini-
ões por timidez; ou porque, na continuidade da participação oral, as opiniões podem
ser enviesadas por ouvirem os comentários e/ou exposições dos que participaram pri-
meiro. Por outro lado, uma certa Professora sempre nos disse que “nós só pensamos
quando escrevemos”, e de facto é verdade.
Relativamente ao 9.º Marvel, a atividade foi de oralidade. Tayslani voluntariou-
se a responder e identificou logo que um dos motivos das referências se prendia com a
Ilustração 2 - Cabeçalho retirado da folha de resposta do aluno #22D.C, da
turma 9.º D.C.
101
propaganda. Questionado sobre o propósito, respondeu o seguinte: “Para ganhar apoio
social e denegrir a imagem do Hitler.”. Na turma, ninguém mais se manifestou e/ou acres-
centou algo ao que fora dito. Na generalidade, concordaram com a resposta dada.
Na turma 9.º D.C., as respostas foram bastante interessantes. E a grande maio-
ria dos discentes conseguiu mobilizar os conhecimentos não só adquiridos através
desta intervenção, mas também de aulas anteriores. Todas as respostas podem ser
consultadas nos Anexos de forma anónima, pois os nomes foram cobertos (Cf. Anexo 6 Carregue aqui). A grande maioria das respostas refere a questão da propaganda e assume
estas referências na Banda Desenhada como uma forma de ridicularizar o regime nazi
e os seus representantes; e também como uma forma de incentivar a população ame-
ricana a apoiar a entrada do país no conflito, visto que apenas o Governo era favorável
a essa participação.
Em 27 respostas entregues, 22 apresentaram a propaganda contra o regime nazi com
o intuito de o ridicularizar. Também foi referido, em algumas respostas, que o objetivo
da propaganda era a participação americana no conflito, com o objetivo de angariar
apoio da sociedade para essa mesma intervenção. Em algumas respostas podemos ob-
servar a presença de uma ideia maniqueísta e conflituosa entre o bem e o mal, o que
acaba por ser interessante, pois demonstra uma certa sensibilidade face à situação his-
tórica que serviu de cenário à criação do Capitão América. Temos, como exemplo, a se-
guinte resposta:
“Eu penso que os criadores do Capitão América usaram referências nazis nas
suas histórias pois queriam mostrar ao povo o que estava a acontecer do ou-
tro lado do mundo e que nada daquilo era correto [...].”
Como fora referido anteriormente, algumas respostas foram também ao en-
contro da justificação das referências da Banda Desenhada em questão: a de ser pro-
paganda contra a ideologia nazi, com o intuito de ridicularizar o regime e a sua figura
principal, Adolf Hitler. Por exemplo, uma das respostas afirmava que “Os criadores do
102
Capitão América utilizaram referências do Nazismo na sua história porque queriam ridicularizar
ditadores como Hitler e os seus aliados [...].”.
Há uma resposta que considero merecer destaque pelas ideias expressas, e por
ter sido a única a referir e a salientar a importância da propaganda e do Cinema (à
época não apenas forma de lazer, mas igualmente um meio de difusão de notícias e
propaganda, através dos documentários que antecediam as projeções dos filmes):
“Sendo a propaganda algo tão influente, ou até mesmo o cinema, esta era
uma forma de criticar o Nazismo e mostrar aos seus apoiantes que seria um
inimigo para a nação, causar estragos e que o melhor seria tirar Hitler do po-
der [...].”
Destas 28 respostas escritas, três referiram como possível motivo a necessidade
de demonstração da superioridade norte-americana em relação à Alemanha. Por exemplo,
numa das respostas pode ler-se o seguinte:
“Os criadores do Capitão América utilizaram as referências ao Nazismo na
sua história para demonstrarem ou passarem a mensagem aos nazis de que
eram igualmente bons e que eram um povo perfeito e pronto para os derro-
tar assim demonstrando que eram pró-guerra.”
Posteriormente, no Capítulo 4, serão analisadas as opiniões dos alunos relativa-
mente a esta intervenção, que considero ter sido significativa. Pelo benefício de estar-
mos em turmas semestrais, tive a oportunidade de alterar aquilo que considerei que
poderia ter sido diferente na primeira aplicação, de modo a melhorar a segunda expe-
riência. Esta alteração prendeu-se sobretudo com o modelo de realização da atividade
proposta: ela passou da expressão oral para a expressão escrita.
103
3.4. A Guerra Fria através dos Super-Heróis
Esta foi a última intervenção concebida à luz das temáticas que dizem respeito
a este Relatório de Estágio e foi aplicada nas duas turmas, sendo que no 9.º Marvel foi
aplicada no dia 11 de fevereiro de 2021, à distância, e no 9.º D.C. foi aplicada no dia 15
de junho de 2021, presencialmente. Estas duas intervenções tiveram o estatuto de re-
gências, ambas de 45 minutos.
De acordo com o documento das Aprendizagens Essenciais (2018), estas duas au-
las inserem-se no Domínio “Do Segundo Pós-Guerra aos Desafios do Nosso Tempo”,
tendo como Subdomínio “Da II Guerra à Queda do Muro de Berlim”. Neste sentido, o
principal objetivo da lecionação era “Compreender a Guerra Fria como resultado das
tendências hegemónicas dos EUA e da URSS, dando origem à formação de blocos mili-
tares e a confrontos”.180
Todos os exercícios realizados nestas intervenções foram orais, sendo que os
registos das respostas, em ambas as turmas, foram realizados pelo Professor Estagiário
durante e após o término das aulas em que lecionou o tema. Também a apresentação
PowerPoint elaborada poderá ser consultada nos Anexos. Ao longo deste subcapítulo
serão utilizadas algumas reproduções dessa mesma apresentação e excertos das co-
mics que foram analisadas. Todavia, apenas os que foram considerados mais pertinen-
tes estarão presentes no texto, sendo, portanto, aconselhada, em alguns casos, a con-
sultada dos Anexos (Cf. Anexo 7 Carregue aqui).
180 ME/DGE – Aprendizagens Essenciais – 9.º Ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da
Educação/Direção-Geral de Educação, 2018.
104
Das três intervenções esta foi, indubitavelmente, a que mais trabalho exigiu,
por não existir um modelo de referência como, por exemplo, a dissertação de Gib-
son181. Todavia, foi aqui que confluíram os bons frutos de uma pesquisa intensiva so-
bre comics e da decisão de apresentá-las como um meio de propaganda sobretudo no
período da Guerra Fria e de que forma poderiam ser utilizadas com o intuito de enten-
der o contexto. Esta pesquisa demorou “[...] dias e dias, e meses [...]”. Vá, mais uma
referência a uma música que esperei anos para poder fazer. Mas enfim, “os fins justifi-
cam os meios” e “quem corre por gosto, não cansa”.
A grande diferença entre esta intervenção e as duas anteriores é o facto de não
se focar apenas numa só personagem, numa só história. Talvez por este mesmo mo-
tivo, esta seja, na minha opinião, a intervenção mais rica do ponto de vista de informa-
ção e de recursos que, por questões de tempo (infelizmente), não puderam ser explo-
rados de forma mais aprofundada.
Esta intervenção, nas duas turmas, iniciou-se com a exposição de uma questão-
orientadora, a mesma que serviu de base ao desenrolar das respetivas aulas: De que
forma os Super-Heróis podem ser considerados instrumentos de propaganda?
Esta questão não era nova para os discentes, pois na intervenção que teve por
base a utilização do Capitão América (intervenção descrita no Subcapítulo 3.3), estes já
tinham encontrado as respostas. Todavia, e tendo em conta tudo o que seria abordado
nesta aula, a resolução da questão-orientadora deveria apresentar um nível mais com-
plexo e, até, ser mais extensa.
Servindo-me da ideia de que numa aula é necessária uma contextualização de
praticamente tudo, foi realizado um breve contexto histórico dos conteúdos a serem
lecionados: a Guerra Fria. No caso do 9.º Marvel, este contexto foi um feedback de
conteúdos lecionados anteriormente pela Orientadora Cooperante, na aula anterior
(em CLIL). Já no 9.º D.C. praticamente não foi necessária uma contextualização, pois a
181 GIBSON, Arthur – Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado.
105
aula foi lecionada no segundo bloco de 45 minutos de uma aula de 90 minutos, sendo
que o primeiro bloco foi apresentado pela Orientadora Cooperante e dizia precisa-
mente respeito à Guerra Fria (igualmente no âmbito do projeto CLIL). A única dificul-
dade poderia prender-se com a capacidade de os alunos conseguirem fazer o devido
translanguaging182 para o novo contexto de aprendizagem.
De forma a enquadrar os discentes naquilo que iriam analisar, procedeu-se à
análise de uma muito breve cronologia da Guerra Fria (Cf. Anexo 7 Carregue aqui). Esta estra-
tégia foi concebida para demonstrar que, nesse período, podem ser identificadas 4 fases
distintas:
• Guerra Fria;
• Coexistência Pacífica;
• Desanuviamento;
• Guerra Fresca.
Não foram apresentadas datas concretas por não existir consenso no seio da
comunidade científica.
Uma das novidades exploradas em sala de aula, em ambas as turmas, foi a divi-
são das comics em períodos, à semelhança da divisão da História por épocas. Consi-
dero importante referir que, num universo de 58 discentes, ninguém tinha noção desta
divisão (o que também era esperado, por ser um conhecimento muito específico e diri-
gido a um nicho de versados em Banda Desenhada). Podemos dividir a história das co-
mics em 4 períodos:
• Golden Age (1930 – 1950);
182 O translanguaging aplica-se ao falante multilingue, no uso de diferentes línguas (neste caso o Portu-guês e o Inglês) num sistema integrado de comunicação. No ensino, a expressão implica que os discentes usem ambas as línguas de forma a construir sentido e produzir conhecimento sobre os conteúdos lecio-nados (independentemente da língua utilizada nesse processo).
106
• Silver Age (1950 – 1970);
• Modern Age (1970 – 1980);
• Early Modern Age (1980 – Presente).
Apesar das comics pertencentes a cada um destes períodos poderem, efetiva-
mente, ter relações com o período histórico em que são concebidas, nestas interven-
ções focou-se apenas a relação entre a Silver Age das comics com o período da Coexis-
tência Pacífica, da Guerra Fria. Estes dois períodos, em conjunto, podem ser considera-
dos como uma verdadeira “fábrica” de Super-Heróis, sobretudo pela mão da Marvel,
que soube aproveitar este período muito específico da História e adaptar as suas histó-
rias.
A primeira parte das intervenções estava subordinada à análise de comics per-
tencentes à atual Marvel, que adquire esta nomenclatura em meados da década de
1960 (o primeiro nome da companhia foi Timely Comics) (Cf. Anexo 7 Carregue aqui). A abor-
dagem à história da companhia foi breve, com o objetivo de apresentar algumas curio-
sidades às turmas, embora no Enquadramento Teórico do presente Relatório de Está-
gio esta questão se encontre devidamente desenvolvida (subcapítulo 3.2).
É essencial referir aqui, assim como foi referido em sala de aula, que todas as
comics analisadas são norte-americanas e que, por esse mesmo facto, são permeáveis
a princípios ideológicos evidentes (e que dispensam apresentações). Esta questão foi
também levantada e aprofundada no Enquadramento Teórico (Capítulo 3, subcapítulo
3.2).
107
Como não poderia deixar de ser,
começou-se por uma nova abordagem ao
Capitão América, desta vez conhecido como
Commie Smasher. Foi analisada, de forma
breve, a capa do número 78 desta comic,
publicado em setembro de 1954 (Figura 9).
Depois de alguns problemas relacionados
com as baixas taxas de venda, os criadores
de Steve Rogers tiveram de readaptar a sua história a um novo tempo, o do embate
ideológico entre capitalismo e comunismo, entre os Estados Unidos da América e a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É precisamente a partir desta necessidade
de readaptação que surge este seu novo estatuto de “destruidor de comunistas”, per-
feitamente enquadrado no período do macartismo183.
Tendo em conta as terminologias usadas à época, a turma foi questionada so-
bre o significado do termo Commie. Porém, só na turma 9.º Marvel é que o Atomic Pa-
triot se manifestou ao dizer que era o mesmo que “Comunistas”. E estava correto. Foi
ainda frisada a ideia de que ao longo da aula este termo iria aparecer várias vezes.
Continuámos com a análise da capa, sendo que a atenção dos discentes foi
atraída, de imediato, para alguns pormenores, tal como a presença da foice e do mar-
telo, referência óbvia à URSS, o “inimigo”: no facto de uma espécie de criatura extra-
terrestre que atacava o Capitão América; na farda do militar que está a ser er-
guido/vencido pelo Capitão América; e, finalmente, nos bonés dos soldados que se
aproximam, atacando o protagonista (Figura 10).
Deixamos o Capitão América e passamos para uma personagem e para uma his-
tória que não podíamos deixar de parte: o Homem de Ferro. De facto, a personagem e a
183 O período conhecido por macartismo estendeu-se de 1950 a 1957. Criado pelo senador Joseph McCarthy, este foi um movimento político-cultural de forte cariz anticomunista, que apelava ao patrio-tismo para a denúncia dos traidores a soldo dos soviéticos. Tristemente conhecido também como “caça às bruxas”, marcaria profundamente o mundo artístico e científico dos EUA dessa década.
Figura 9 - Diapositivo utilizado.
108
história criadas, por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, em 1963, têm como
base o Vietname, local de um dos mais longos e devastadores conflitos indiretos da
Guerra Fria: a Guerra do Vietname (1955-1975). Aliás, foi precisamente com o objetivo
de levar os alunos a compreender as linhas deste conflito que foi utilizada uma capa da
comic em análise.
Questionados sobre se alguém conhecia a história da personagem, nenhuma
das turmas souberam responder efetivamente (embora alguns tivessem afirmado que
sabiam “por alto”). Considerando este aspeto, foi realizada uma contextualização da
personagem e da história de Tony Stark, um jovem engenheiro mecânico que, aos 21
anos, assumiu a liderança da companhia do seu pai. Convidado para ajudar e assistir a
testes de desenvolvimento de novas tecnologias para a construção de armamento,
Tony acaba por ser capturado por viet-congs184 e obrigado a trabalhar para eles
Utilizando a capa do número 78 da comic do Homem de Ferro, publicada em
setembro de 1975, foi realizada uma breve exposição sobre o conflito entre o Viet-
name do Norte, apoiado pela China e pela União Soviética, e o Vietname do Sul, apoi-
ado pelos Estados Unidos (Figuras 10 e 11).
184 Em português, “vietcongues” são os guerrilheiros comunistas da Frente Nacional para a Libertação do Vietname, que combateram o Vietname do Sul e os seus aliados, durante a Guerra do Vietname (1955-1975). Os vietcongues lutaram primeiro contra os franceses, os antigos colonizadores (I Guerra da Indo-china); mas os EUA envolveram-se cada vez mais ao longo da década de 1960 e, mobilizando centenas de milhares de jovens, lideraram as forças anticomunistas na região.
Figura 10 - Diapositivo utilizado. Figura 11 - Diapositivo utilizado.
109
Questionadas as turmas sobre se conheciam algo sobre este conflito, mais uma
vez, na turma 9.º Marvel, o Atomic Patriot já estava familiarizado com ele. Na turma 9.º
D.C. foi o aluno #9D.C. que se voluntariou para partilhar o seu conhecimento. O Ho-
mem de Ferro acaba por ser a personificação dos Estados Unidos no desenvolver desta
guerra que acabou por ser uma marca negra na história militar do país.
Para concluir esta questão relacionada com a Guerra do Vietname, foi explorada a gri-
tante semelhança entre as cores das bandeiras do dois Vietnames (Norte e Sul) e do
Homem de Ferro, que pode ser uma mera coincidência. (Figura 11). Repare-se que o
próprio Stan Lee assumiu que algumas das suas personagens, como o Homem de
Ferro, foram um veículo de transmissão de ideias e conhecimentos.
Para além deste primeiro exemplo com o Homem de Ferro (sim, porque vai ha-
ver outro), levei para as aulas um outro exemplo de uma comic mais “séria” – The Nam.
Publicada pela Marvel (em 1986), explora o conflito de uma forma menos romanceada
e mais crua; e, através de uma das capas desta comic (Cf. Anexo 7 Carregue aqui), para além
de possibilitar às turmas um outro recurso para estudarem e compreenderem o con-
fronto, foi possível proceder a uma exposição sobre os viet-congs a partir da bandeira
deste grupo, presente no Vietname do Norte, à semelhança do que é visível na Figura
11.
Com mais uma capa de um nú-
mero do Homem de Ferro, desta vez o nú-
mero 276, publicado em janeiro de 1992,
foi possível abordar não só o embate ide-
ológico entre as duas potências, mas tam-
bém a escalada armamentista (Figura 12).
Começámos, desde logo, pela aná-
lise da sinopse deste número em especí-
fico, que fala do perigo iminente de o Mundo entrar numa “Terceira Guerra Mundial”.
Em ambas as turmas, de forma muito rápida, chegaram à conclusão de que esta nova
Figura 12 - Diapositivo utilizado.
110
guerra mundial seria uma referência à Guerra Fria. Aqui passou-se pela questão do pe-
rigo de estalar um conflito oficial entre as duas potências (Estados Unidos e União So-
viética), já que, até àquele momento, estas apenas se defrontavam naquilo que conhe-
cemos como conflitos indiretos localizados ou proxy war (guerra por procuração).
Num segundo momento, foi pedido às turmas para identificarem, na capa, ca-
racterísticas da Guerra Fria. A principal característica levantada pelo Capitão Bacalhau
no 9.º Marvel, e pelo #23D.C., no 9.º D.C., foi o embate ideológico entre os Estados Uni-
dos e a União Soviética, referindo a presença das bandeiras destes dois países. É ne-
cessário referir que a questão do embate ideológico foi sustentada por uma explora-
ção das histórias das duas personagens presentes na capa (Figura 12). A história da per-
sonagem Homem de Ferro dispensou apresentações, pois já tinha sido observada pre-
viamente.
A novidade aqui prende-se com a história da personagem Viúva Negra (ou
Black Widow), uma das suas principais antagonistas. Trata-se de Natasha Romanoff,
nascida na União Soviética e treinada como espia pelos serviços secretos soviéticos
(KGB) e que, depois de ingressar no projeto “Black Widow”, se tornara uma das princi-
pais “armas” do regime. Relativamente às origens de Natasha, na Banda Desenhada in-
sinua-se que poderá ser descendente dos Romanov, a última dinastia russa, desapare-
cida em 1918. Mas o que se assegura como certo é que Natasha fora salva por um sol-
dado soviético aquando do ataque alemão a Estalinegrado.
Apesar de inquiridos acerca de outras características, no 9.º Marvel, mais ne-
nhum aluno respondeu. Por outro lado, no 9.º D.C., o #16D.C. identificou a “corrida ao
armamento”, identificando a presença dos foguetes no campo inferior esquerdo.
111
De forma a fundamentar a questão da escalada armamentista levantada pelo
#16D.C., e como um Professor tem de estar sempre preparado, fiz proveito de uma ta-
bela já existente num manual de 12.º ano de História A185, com o intuito de levar aos
discentes informação concreta, nomeadamente sobre a necessidade que ambas as po-
tências tinham de possuir engenhos atómicos, que se constituíam como verdadeiros
arsenais de destruição massiva (Figura 12).
É curioso um comentário que se ouviu no 9.º D.C., do #9D.C.: “Para quê se não as
usavam?”. A este comentário, o #2D.C. respondeu: “Para meter medo.”. De facto, a posse
destes arsenais era uma manobra de dissuasão de ambos os lados, conscientes do ter-
rível potencial atómico, experimentado pela primeira vez em Hiroxima e Nagasaki, a 6
e 9 de agosto de 1945.
Deixamos definitivamente para trás o Homem de Ferro e agora é a vez do Hulk,
uma personagem criada por Stan Lee e Jack Kirby, pulicada em 1962 (Cf. Anexo 7 Carregue
aqui). Esta comic conta-nos a história de Bruce Banner, um físico nuclear que é destacado
para supervisionar o projeto da construção de uma nova arma pelo exército ameri-
cano, a Bomba Gama, uma arma nuclear de destruição massiva. Coincidência com os
pontos anteriores? Talvez. A base dos testes e deste projeto é no Novo México.
A análise desta história focou-se precisamente no local de teste: o Novo Mé-
xico. Não era a primeira vez que os discentes, em ambas as turmas, ouviam o nome
deste local. Na turma 9.º Marvel, o Atomic Patriot referiu que “Foi aí que foram realizados
os primeiros testes nucleares pelos Estados Unidos.”. Este comentário, na turma 9.º D.C., foi
levantado pelo Sniper Desconhecido. Neste local, no Novo México, foram de facto reali-
zadas as primeiras experiências com bombas atómicas pela mão dos Estados Unidos, a
185 COUTO, C. P.; ROSAS, M. A. M.; MEA, E. C. A. – Um Novo Tempo da História: 12. Parte 2. Porto: Porto Editora. p. 60.
112
célebre Experiência Trinity (16 de julho de 1945), como fora referido numa das aulas
da Orientadora Cooperante.
Antes de concluir esta parte, foi lançada uma questão particular às duas turmas
e que pretendia apurar a opinião dos alunos sobre a possível mensagem implícita
nesta comic. Em ambas, os contributos foram semelhantes, convergindo todos na ideia
de “medo” e “insegurança” que a posse das armas nucleares suscitava nas populações.
Por fim, a atenção dos discentes foi chamada para o facto de, no meio de per-
sonagens e histórias fictícias – e tendo em conta o que havia sido analisado até ao mo-
mento – há sempre um contexto subjacente, há sempre uma “pitada” de História que,
por vezes, passa despercebida, mas a estes alunos já não.
Uma outra história abordada foi a comic do Quarteto Fantástico, criada por Stan
Lee e Jack Kirby, e publicada em novembro de 1961. Conta-nos a história de Reed Ri-
chards, Sue e Johnny Storm e Ben Grimm que, depois de uma viagem ao espaço que
foi antecipada e, por os preparativos ainda não estarem prontos, não corre como espe-
rado e acabam por ganhar poderes sobre-humanos.
O estudo desta comic começou, desde logo, com a análise da data de publica-
ção do primeiro número: 1961. Foi precisamente neste ano, em abril, que a União Sovi-
ética, colocou no espaço, a bordo da Vostok I, o primeiro ser humano: Yuri Gagarin. A
partir deste dado histórico, foi possível estabelecer a ponte com a corrida espacial en-
tre as duas nações rivais – e que seria abordada, de forma aprofundada, no decorrer
da aula.
Foi utilizado um excerto do primeiro número desta comic, publicado a 1 de no-
vembro de 1961 (Ilustração 3). Este excerto foi apresentado em inglês e não foi tradu-
zido por estarmos perante duas turmas CLIL e também por ser uma linguagem consi-
derada acessível e adequada. Este excerto apresenta-nos, de forma breve, os motivos
que levaram Reed a antecipar a viagem, sendo que um dos principais motivos foi a
pressão exercida por políticos e militares, para evitar que fossem os soviéticos a chegar
primeiro ao espaço.
113
Considerando a
apresentação do cenário
histórico da Banda Dese-
nhada e a informação ex-
pressa no excerto em ques-
tão, foi colocada uma ques-
tão a ambas as turmas: De
acordo com este excerto, qual
foi o motivo da antecipação da
viagem?
As respostas não variaram muito nas duas turmas. Por exemplo, no 9.º Marvel
as respostas foram mais diretas, sendo que os discentes que participaram para respon-
der à questão levantada apresentaram respostas como “pressão internacional”, “pressão
comunista” e “necessidade de superar a União Soviética”. No 9.º D.C., as respostas foram
mais ambíguas e os alunos que participaram, demonstraram algumas dificuldades na
análise do excerto apresentado, assim como na defesa das suas ideias186. Não obs-
tante, as ideias dos discentes que participaram nesta turma (4, em 28) confluíam todas
numa ideia de “superioridade americana”, no sentido em que a viagem terá sido anteci-
pada para mostrar à URSS que os americanos conseguiam chegar primeiro ao espaço –
embora os pioneiros tenham sido, efetivamente, os soviéticos.
À semelhança do que havia sido realizado com a tabela referente aos engenhos
atómicos no contexto da abordagem do Homem de Ferro, com o Quarteto Fantástico
foi utilizada uma cronologia referente à corrida espacial das duas potências, presente
186 Apesar do excerto desta comic ter sido apresentando em inglês, assim como outros ao longo da aula, os alunos não tinham de responder em inglês. As dúvidas de vocabulário inglês foram também esclareci-das.
Ilustração 3 - Excerto do primeiro número da comic Quarteto Fantás-
tico (1961).
114
também num manual de 12.º ano de História A (Cf. Anexo 7 Carregue aqui)187. A partir da aná-
lise desta cronologia, foi possível levar os alunos a compreenderem que a sucessão de
conquistas é contínua e praticamente ininterrupta e que o pioneirismo esteve quase
sempre no seio soviético, como atrás ficou registado.
Por fim, e ainda utilizando a comic do Quarteto Fantástico, procedemos a uma
análise de um dos principais vilões da História: Dr. Doom. Victor von Doom, posterior-
mente conhecido como Dr. Doom, governava de forma autoritária a região de Dooms-
tadt, uma pequena região que se localiza na Europa de Leste.
Com a apresentação de um mapa referente à localização de Doomstadt (Cf.
Anexo 7 Carregue aqui), os discentes foram interpelados com a seguinte questão: Doomstadt é
um Estado encravado no meio de que países?. Não houve dúvidas na resposta a esta ques-
tão sendo que, em ambas as turmas, os discentes responderam prontamente, afir-
mando que era um território que estava encravado no meio de países pertencentes ao
bloco soviético. E estavam corretos! Houve, no entanto, uma resposta à qual confesso
que achei uma certa piada e que utilizei para chamar a atenção para um pequeno por-
menor, corrigindo-o. O #9D.C. respondeu o seguinte: “Está no lado dos russos!”. Bem,
completamente errado não estava. Mas aproveitei esta intervenção para, mais uma
vez, chamar a atenção da turma para o facto de que neste período não nos podemos
referir à Rússia como tal, sendo que a designação correta é União Soviética (ou União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Logo, deveria referir-se “soviéticos” e não “rus-
sos”.
Todavia, a análise não ficou por aqui. Foi colocada uma outra questão às tur-
mas: Que crítica estava implícita no facto de Dr. Doom governar de forma autoritária Dooms-
tadt ?. Esta questão, já com outro grau de dificuldade, exigia uma opinião fundamen-
187 COUTO, C. P.; ROSAS, M. A. M.; MEA, E. C. A. – Um Novo Tempo da História: 12. Parte 2. Porto: Porto Editora. P. 63.
115
tada por parte dos discentes. Nas duas turmas, apesar de ser uma questão que eu con-
siderava difícil, rapidamente os alunos concluíram que a principal crítica implícita era o
modelo de governo dos países “satélites” da União Soviética, que estavam subjugados
ao domínio de Moscovo. Nas palavras do aluno #23D.C., a crítica implícita consistia na
demostração de que “Os Estados Unidos e os países pertencentes ao chamado Bloco Ocidental
tinham governos livres e democráticos.”.
Um outro pormenor que mereceu destaque foi a própria vestimenta de Dr.
Doom: um manto verde e uma armadura de ferro. Aqui, o que parecia desprovido de
qualquer sentido, foi interpretado como uma “personificação” da célebre “Cortina de
Ferro”, proclamada por Winston Churchill a 5 de março de 1946, num discurso Fulton,
no Estados Unidos. No 9.º Marvel, apenas o Atomic Patriot e o Pacificador das Nações co-
nheciam este discurso, enquanto no 9.º D.C. ninguém manifestou conhecê-lo.
Churchill então afirmava que “De Estetino, no Báltico, até Trieste, no Adriático,
uma cortina de ferro desceu sobre o Continente [...]”. E de facto, Doomstadt locali-
zava-se no lado soviético dessa mesma “cortina” e onde, de acordo com o Presidente
Truman, “a vontade da minoria era imposta à força sobre a maioria”. Daí a referência,
na Banda Desenhada, ao governo autoritário de Dr. Doom.
Desta forma, foi-nos possível abordar várias das questões relativas à Guerra
Fria a partir de pequenos excertos e ideias presentes numa comic que, à priori, parecia
estar desprovida de qualquer conteúdo histórico e ser apenas uma ficção e fruto da
imaginação dos seus autores.
Deixámos as comics da Marvel de parte e passámos para alguns exemplos per-
tencentes à Detective Comics, criada em 1934, embora só tenha adquirido essa desig-
nação em meados de 1937 (março).
Neste sentido, começámos por analisar um excerto do número 447 do Batman,
publicado em maio de 1990 (Ilustração 4). Depois de uma breve contextualização da
personagem e da história que diz respeito a Bruce Wayne, personagem principal, foi
apresentada uma tira que nos apresenta um dos vilões: Gregor Dosynski. Gregor era um
116
acérrimo defensor dos ideais Leninistas-Marxistas e o seu principal objetivo era refor-
mar a União Soviética, fazendo-a retomar os antigos princípios do Comunismo188. Mais
uma vez, o excerto foi apresentado em inglês, sem tradução.
Esta tira apresenta-nos um discurso bastante nacionalista e radical por parte de
Gregor, que defendia a ideia de que os próprios soviéticos tinham sido os culpados
pela sua própria decadência política, por se terem aproximado dos ideais capitalistas.
Tendo em conta este aspeto, foram realizadas duas questões às turmas que iam ao en-
contro da análise da tira em exposição (Ilustração 9). Primeiro, foi pedido às turmas
para caracterizarem o discurso de Gregor. Depois desta caracterização, foi pedido para
apontarem as principais críticas tecidas ao regime soviético.
Relativamente à primeira questão, em ambas as turmas os discentes que parti-
ciparam oralmente caracterizaram o discurso de Gregor como sendo “nacionalista” e
“agressivo”. Já sobre a segunda questão, a principal crítica é claramente a aceitação
dos ideais ocidentais no seio das hostes políticas soviéticas, que se traduzem na ação
188 Recorde-se que em 1985, com a subida ao cargo de Secretário-Geral do PCUS e Gorbatchev, fora in-
troduzida a Perestroika, uma reestruturação económica da URSS que, juntamente com a Glasnost (transpa-
rência), pretendia reorganizar a economia e a sociedade. A adoção destas políticas reformadoras iria con-tribuir para os acontecimentos que apressariam o fim do regime e, mais tarde, da própria União Soviética e do seu bloco.
Ilustração 4 - Excerto do número 447 da comic Batman (1990).
117
política governativa de Mikhail Gorbatchev189. O desvirtuar dos ideais soviéticos tradu-
ziu-se na aplicação da Perestroika, no campo económico, e da Glasnost, no campo polí-
tico. As respostas dos discentes à segunda questão, apesar de variadas, confluem to-
das na mesma ideia principal. No conjunto das turmas, as respostam foram as seguin-
tes: “incompetência dos políticos”, “aproximação do ocidente” e “fracasso do comunismo”.
No 9.º Marvel, o Capitão Bacalhau colocou a seguinte questão: “Ó stor, ele ali no
segundo balão está a falar da Alemanha e de fugas. Está a falar das pessoas que fugiam pelo
Muro de Berlim?”. Foi uma questão bastante pertinente, pois permitiu abordar a questão
do Muro de Berlim, construído pelos soviéticos entre 12 e 13 de agosto de 1961, como
forma de evitar as fugas de alemães de Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. No 9.º
D.C. esta questão foi levantada pelo professor estagiário, pois ninguém na turma iden-
tificou este pormenor.
Por fim, optei por levar às turmas
um excerto do número 3 da comic Batman:
The Dark Knight Returns, publicada em
1986. Esta comic, que tem o estatuto de
série limitada190, é da autoria de Frank
Miller (Figura 13). Para além de retratar os
problemas com os habituais inimigos de
Bruce Wayne, este número, em concreto,
aborda também as tensões que se faziam sentir entre a União Soviética e os Estados
Unidos – aqui numa localização fictícia, a do governo comunista de Corto Maltese, que
enfrentava um grupo de rebeldes apoiados pelos norte-americanos.
189 É essencial referir que o próprio Gorbatchev, enquanto figura histórica, é uma personagem importante no desenrolar da história desta comic. 190 Uma “série limitada” é, por definição, uma comic que está destinada a ter um pequeno número de edições (números) e que, por vezes, pode ser uma história paralela à história principal.
Figura 13 - Diapositivo utilizado.
118
No seguimento deste tema, a tarefa proposta às turmas foi a de analisarem e
comentarem o discurso do presidente americano, Ronald Reagan (Figura 13) (Cf. Anexo 7 Carregue aqui). Trata-se de um discurso profundamente nacionalista e patriótico, que de-
monstra uma certa ideia de superioridade sobre os restantes povos.
De facto, foram estas as características levantadas pelos discentes em ambas as
turmas, que observaram o discurso do presidente americano como demonstração de
uma atitude “passivo-agressiva” da sua parte. Confirmando esta posição, houve um co-
mentário que me chamou a atenção – e que me foi colocado pelo #2D.C., que afirmou
o seguinte: “Se tirassem isso deste contexto e atribuíssem a um ditador como o Hitler, acho que
passava bem por ser um discurso dele. Parece muito um daqueles discursos em Nuremberga.”.
Estou autorizado a dizer que fiquei boquiaberto com a reflexão? É que fiquei mesmo.
Com este comentário, o discente não só revelou uma boa capacidade de análise e in-
terpretação, como também acabou por mobilizar os conhecimentos adquiridos em au-
las anteriores. Por outro lado, o aluno demonstrou também um sentido de consciência
e empatia históricas ao conseguir compreender um ideal de continuidade e seme-
lhança entre passado e presente, assim como demonstrou a presença de um espírito
crítico face ao que lhe foi/é apresentado.
3.5. Mãos à obra! – “O Mundo precisa de Super-Heróis”
Indo ao encontro da temática levantada no presente Relatório de Estágio e de
forma a colocar em prática o que havia sido analisado nas intervenções didáticas des-
critas anteriormente, e também com o objetivo de desenvolver a criatividade dos dis-
centes, foi proposto um trabalho de carácter opcional e individual em ambas as turmas
(Cf. Anexo 8 Carregue aqui). Apesar de opcional, e depois de combinado com a Orientadora
Cooperante, o trabalho iria ser um elemento de avaliação formativa.
119
Apesar de ir contra as noções defendidas por Vygotsky191 e Munari192 no que
concerne à ideia de não se estipular qualquer tipo de limitação para se desenvolver a
criatividade de uma criança/jovem, optei por estabelecer um conjunto de regras que
orientassem os discentes na execução deste projeto que fez soar o “pânico” nas tur-
mas e soltou os típicos comentários “Ei, ó ‘stor, eu não tenho jeito para isso.”.
O trabalho proposto consistia na conceção de um Super-Herói, sendo que os
discentes poderiam optar, na caracterização da sua personagem, por desenhar ou redi-
gir um pequeno texto ficcional. Tinham também a opção de realizar ambos, embora
isso não os beneficiasse de forma a tornar a avaliação rigorosa e acessível a todos os
alunos. Independentemente da via que optassem (desenho ou texto), tinham obrigato-
riamente de atribuir um nome e um superpoder (ou arma) à personagem criada, refe-
rindo o seu modo de utilização. Para além disto, tinham também de explicitar o seu
background histórico, integrando-a num dos conteúdos lecionados ou por lecionar, no
9.º ano. Neste sentido, era obrigatória a construção de uma narrativa (por texto ou dese-
nho) que procurasse explicar de que forma a personagem criada desempenharia um
papel na sociedade e no contexto (tempo) da sua criação.
Como pontos opcionais, os alunos podiam ainda referir a inspiração para a per-
sonagem criada e deviam justificar as cores e o superpoder ou as armas escolhidas.
Relativamente a prazos, no 9.º Marvel o trabalho foi proposto no dia 12 de ja-
neiro de 2021 e tinha como data-limite de entrega o dia 31 de janeiro. No 9.º D.C., o
trabalho foi proposto no dia 1 de junho e tinha como data final o dia 20 do mesmo mês
(já fora do tempo letivo, visto que as aulas acabavam no dia 18).193
191 VYGOTSKY, Lev Semenovitch – Imaginação e criatividade na infância: ensaio de psicologia. Lisboa: Di-nalivro, 2012. ISBN: 978-972-576-616-3. p. 136. 192 MUNARI, Bruno – Fantasia. Lisboa: Edições 70, 2015. ISBN: 978-972-44-1357-0. p. 124. 193 A opção da data surgiu da perceção de que os aluno já estavam muito sobrecarregados com trabalhos das diversas disciplinas, bem como com vários momentos de avaliação formal e decisiva. Apesar de se perceber a dificuldade de cumprimento da tarefa, ela surgiu igualmente para permitir que, pelo menos alguns, mais entusiastas, não fosse impedida a realização de algo que também fora proposto à turma do primeiro semestre.
120
Esta tarefa tinha subjacente dois objetivos.
O primeiro era espicaçar a capacidade criativa dos alunos através da elaboração
de uma narrativa histórica com o intuito de os fazer mobilizar conhecimentos e aplicar
a terminologia específica da disciplina ou, no campo da criação plástica, a construção
de um desenho, mostrando outras capacidades para além da escrita (embora esta úl-
tima fosse basilar e transversal aos dois tipos de trabalho sugeridos).
O segundo objetivo era desenvolver o sentido de empatia e consciência históri-
cas dos alunos que, no caso das duas turmas em estudo, era e continuará a ser bas-
tante visível (quero eu acreditar). Neste sentido, um dos pilares deste trabalho era le-
var os discentes a “calçarem os sapatos” de um criador de comics, levando-os a com-
preender as dificuldades enfrentadas, seja relativamente ao processo de criação (que
pode, por vezes, ser sofrido), seja a cedência a tendências político-ideológicas (sobre-
tudo no período estudado na última intervenção, a da Guerra Fria, que acabou por ser
um exemplo muito pragmático da cedência a estas tendências).
De forma a finalizar este ponto, considero importante justificar que o facto de
colocar o ónus na capacidade da escrita se deve à pretensão de ir ao encontro de uma
das temáticas levantadas neste Relatório: a narrativa histórica. Se a construção de uma
narrativa escrita se afigura como uma tarefa com um certo grau de dificuldade, cons-
truir uma narrativa através de outras formas pode-se revelar um desafio colossal para
os alunos. Aliás, eles próprios seguem um estereótipo, um estigma de que uma narra-
tiva é, obrigatoriamente, um texto. Será caso para dizer que “a escola mata o génio”?
Recordo que, para além da escrita, também foi dada a possibilidade de os alunos cons-
truírem a sua narrativa através do desenho (embora, nesta segunda opção, fossem
obrigatórias as referências escritas).
121
3.5.1. A tarefa hercúlea de avaliar
Mesmo tendo um carácter opcional, ao trabalho proposto iria ser atribuída
uma classificação – e aqui é que tudo fica mais complicado. Avaliar é uma tarefa que
quase precisa de um curso de especialização na NASA (a piada não é minha, mas achei
pertinente).
Apesar do trabalho colocar um certo ónus na capacidade criativa dos discentes,
não era isto que se pretendia avaliar. Aliás, se avaliar já é difícil por si, avaliar a “criati-
vidade” ainda mais difícil é por ser algo que varia de sujeito para sujeito, como se viu
previamente no Capítulo 1 do Enquadramento Teórico.
A avaliação (toda ela), por mais que sejam específicos os critérios, tem sempre
um q.b. de subjetividade – e, no que toca a avaliar criatividade, este q.b deixa de ser
um quanto baste e passa a ser um “eu é que sei”. O que para alguém é bonito, feio, cri-
ativo, não criativo, para outra pessoa pode ser o oposto.
Para avaliar os trabalhos foram elaborados critérios que procuraram ser o mais
abrangentes possível. Os critérios podem ser consultados nos Anexos (Cf. Anexo 9 Carregue
aqui). Estes, que confluem num total de 100 pontos, são constituídos por dois grandes Pa-
râmetros, que se subdividem:
A. Componente Científica, com um total de 50 pontos. Aqui encontram-se
contempladas a contextualização histórica, a mobilização de conheci-
mentos e a utilização da terminologia específica da disciplina de Histó-
ria;
B. Apresentação, também com um total de 50 pontos. Aqui estão presentes
a apresentação estética do trabalho, a pertinência do tema escolhido e
a narrativa construída.
Como se pode ver através dos Critérios presentes no Anexo 9, cada Parâmetro
possui vários níveis de desempenho, sendo que também existe sempre (ou quase sem-
pre) um nível intermédio, concebido com o objetivo de tornar os critérios abrangentes,
122
de forma a não levantar dúvidas no momento de atribuir classificações. Mesmo assim,
as dúvidas aparecem.
A capacidade criativa dos discentes, apesar de não se encontrar explícita nos cri-
térios acima descritos, está presente e diluída no Parâmetro B, onde são avaliadas ques-
tões como a narrativa e a apresentação do trabalho que, por si, pressupõem a constru-
ção/criação de algo mais pessoal.
Aquando da apresentação da proposta de trabalho presente no Anexo 8, havia
um diapositivo dedicado exclusivamente à apresentação da avaliação, dando a conhe-
cer os parâmetros que iriam reger as classificações atribuídas. Questionados quanto a
eventuais dúvidas sobre a avaliação, em nenhuma das turmas os alunos se manifesta-
ram ou se opuseram aos critérios estipulados.
3.5.2. A exteriorização dos génios: os trabalhos
Num universo de 58 discentes, 34 entregaram trabalhos. Na 9.º Marvel, em 30 dis-
centes, foram entregues 28 trabalhos; enquanto na 9.º D.C., em 28 discentes, somente
foram entregues 6194. Dos 34 trabalhos, 17 possuíam componente gráfica, ou seja, de-
senho. Todos (com a exceção de um) possuíam componente escrita. Refiro, mais uma
vez, que a componente gráfica não era obrigatória, embora o cuidado com a apresen-
tação do trabalho fosse um critério em conta na avaliação. Todavia, mesmo sem a
componente gráfica, sem o desenho, poderia ser um trabalho cuidado a nível estético.
Todos os trabalhos entregues podem ser consultados nos Anexos, sendo que o anoni-
mato dos discentes será assegurado e respeitado (Cf. Anexo 10 Carregue aqui e Cf. Anexo 11 Carre-
gue aqui).
194 É importante referir, mais uma vez, que o trabalho foi proposto num mês em que os alunos já estavam sobrecarregados com várias atividades e momentos de avaliação nas restantes disciplinas.
123
No que diz respeito aos conteúdos escolhidos pelos discentes para realizarem a
contextualização histórica (obrigatória) podemos referir que foram variados, embora
exista uma predominância, como podemos aferir através da Gráfico 9.
Todavia, é fundamental referir que existem alguns grupos que abrangem um
maior número de temas, como por exemplo o grupo 1.ª e 2.ª Guerras Mundiais, que
abarcam os conflitos entre o seu começo e o respetivo pós-guerra. Também o grupo
que diz respeito aos conteúdos referentes ao Nazismo aglomera vários trabalhos que
abordaram, por exemplo, a Memoshoá (ou Holocausto) e não se cingiram somente a
questões políticas. Por sinal, como se pode também reparar com a análise da Gráfico 9,
é nestes dois grupos que se situa o maior número de trabalhos, contabilizando-se 10 e
6, respetivamente.
Dentro da categoria “Outros”, encontram-se trabalhos que dizem respeito, por
exemplo, a conteúdos dos anos letivos anteriores, como a Grécia Antiga e os Descobri-
mentos. Ora, apesar de terem entregado os trabalhos, estes alunos foram penalizados
no descritor Pertinência do Tema, pois não foram ao encontro de um dos critérios
obrigatórios, que consistia na integração da personagem e da narrativa num dos con-
2
7
3
1
6
12
1
3
1 11
5
0
2
4
6
8
9.º Marvel 9.º D.C.
Nú
me
ro d
e t
rab
alh
os
Turmas
Distribuição dos temas do trabalho proposto34 trabalhos
Emancipação Feminina 1.ª e 2.ª Guerras Mundiais Fascismo Italiano
Nazismo Estado Novo Estalinismo
Guerra Civil Espanhola Grande Depressão Outros
Gráfico 9 - Distribuição, por turma, dos temas escolhidos para o trabalho proposto.
124
teúdos do 9.º ano. Para além disto, alguns trabalhos também não atenderam a obriga-
toriedade de criar uma personagem original, limitando-se a escolher uma personali-
dade já existente e a (re)imaginá-la.
Dentro da totalidade dos trabalhos entregues, existem alguns que merecem
destaque pela sua qualidade, tanto em termos de apresentação e execução, como re-
lativamente à escolha do tema e da narrativa construída.
No grupo 1.ª e 2.ª Guerras Mundiais podem ser destacados dois trabalhos. O
primeiro, é o trabalho realizado pelo Pacificador das Nações, da turma 9.º Marvel (Ilustra-
ção 5)(Cf. Anexo 10 Carregue aqui). Esta personagem tem o seguinte contexto de criação:
“Ele nasceu pouco antes da 1.ª Guerra Mundial, logo viveu uma vida marcada
pela guerra e pela crise. Por isso, inscreveu-se na ONU aquando da sua forma-
ção em 1945, de modo que mais ninguém tivesse de morrer devido a conflitos
inúteis.”
A narrativa construída em torno desta personagem demonstrou uma sensibili-
dade particular relativamente a vários dos temas abordados na sala de aula. Por exem-
plo, a principal missão do Pacificador das Nações, um Super-Herói pertencente à Organi-
zação das Nações Unidas (O.N.U.) era zelar “[...] pela paz no mundo, pela igualdade de direi-
tos e pela luta contra as alterações climáticas.”. No entanto, o que mais me chamou a aten-
ção neste trabalho foram os poderes atribuídos e as suas justificações. Veja-se o se-
guinte excerto:
“Os seus poderes são a super força (que representa a valentia e a determina-
ção), a capacidade de voar (que representa a liberdade) e a capacidade de
curar as pessoas (símbolo da compaixão) que ele usa para ajudar pessoas por
todo o mundo.”
Estamos perante um claro exemplo de um aluno que é capaz de mobilizar co-
nhecimentos e aplicar a terminologia específica da disciplina, ao mesmo tempo que
Ilustração 5 - De-
senho realizado pelo Pacificador das Nações, da turma 9.º Mar-vel.
125
consegue ser criativo, caldeando o conhecimento específico da disciplina com a fanta-
sia presente na sua mente e exteriorizada na sua narrativa.
Outro trabalho pertencente a este
grupo é o de Warfath, também da turma 9.º
Marvel Ilustração 6) (Cf. Anexo 10 Carregue aqui).
Aqui, o que mais me chamou a atenção foi a
semelhança do desenho concebido pelo dis-
cente (com uma pintura que havia sido apre-
sentada aquando de uma regência subordi-
nada às consequências da 1.ª Guerra Mundial,
contexto no qual é criada a personagem.
Achei estranha a semelhança e, por isso,
questionei o aluno se a inspiração para o de-
senho tinha sido a pintura a óleo intitulada
Gaseados, da autoria de John Singer Sar-
gent195. E a resposta foi afirmativa, que uma
das influências para o desenho tinha sido não só essa pintura, mas todas as outras ima-
gens exibidas na aula.
No grupo do Nazismo gostaria também de destacar dois trabalhos. Em primeiro
lugar, o trabalho de um discente da turma 9.º Marvel, que apesar de não ter criado
uma personagem como fora pedido (não foi penalizado), apresentou Aristides de
Sousa Mendes como um Super-Herói, o Herói do Holocausto, como o apelidou (Ilustração
7) (Cf. Anexo 10 Carregue aqui).
195 A pintura em apreço pode ser consultada através do seguinte link: https://bit.ly/2WpfkgT.
Ilustração 6 - Desenho realizado pelo Warfath,
da turma 9.º Marvel.
126
Para além de ter realizado uma contextualização correta, mobilizou conheci-
mentos adquiridos na aula e na sua própria pesquisa, acabando por dar uma volta de
180 graus à proposta realizada. Atrevo-me a dizer que este é um claro caso da utiliza-
ção da criatividade na resolução de um problema, encontrando alternativas. Curiosos
são também os superpoderes e as armas que lhe foram atribuídos, entre os quais en-
contramos três qualidades e princípios: Humanismo, Coragem e Generosidade. Por outro
lado, uma das armas atribuída foi a “concessão de vistos” que, de facto, era a “arma”
que estava à mão de Aristides de Sousa Mendes, e que permitiu a fuga para a liber-
dade de milhares de judeus.
Estamos perante um aluno que mostrou sensibilidade e sentido de empatia his-
tórica, pelo menos tendo em conta a definição concebida por Edacott e Sturtz196, refe-
ridos no Capítulo 1 do Enquadramento Teórico.
No entanto, este caso não foi único. Outros discentes acabaram por (re)imagi-
nar outras figuras, como por exemplo Estaline e Hitler, sendo que alguns dos trabalhos
apenas se limitaram a referi-los como vilões. Um caso interessante nesta linha de pen-
samento, foi o de um discente que apresentou uma distopia (Cf. Anexo 10 Carregue aqui), na
qual a Alemanha vence a Segunda Guerra Mundial e onde a personagem principal é
196 ENDACOTT, Jason; STURTZ, John – Historical empathy and pedagogical reasoning. Journal of Social Studies Research, n.º 39, 2015. Pp. 1-16.
Ilustração 7 - Excerto do trabalho realizado pelo Herói do Holocausto,
da turma 9.º Marvel.
127
encarregue de disseminar ideias fascistas na população, com o fim de salvar a pátria.
Veja-se o seguinte excerto da narrativa construída pelo Hitler Man, da turma 9.º Marvel:
“Num universo paralelo onde tudo é caos e destruição, a Alemanha vence a II
Guerra Mundial. O ar estava cheio de poeira e gases tóxicos, o que fez com
que muita gente se transforma-se […], mas no herói Nazi estes gases reagi-
ram de uma forma diferente […]. Este começou a sentir a necessidade de aju-
dar os outros derrotando todos os seus inimigos.”
Como fora referido, o trabalho proposto consistia na construção de um Super-
Herói e na construção de uma pequena narrativa. Porém, o #24D.C. do 9.º D.C. foi mais
longe. Muito mais longe! Criou uma comic completa em inglês (constituída por 14 pági-
nas), intitulada That Dude With Powers Yah! But it’s Kinda Useless! (Cf. Anexo 11 Carregue aqui) (Ilus-
tração 8). Este trabalho conta-nos a criação de um Super-Herói cuja missão é destruir a
Memoshoá e todos aqueles que a engendraram, tendo viajado no tempo para esse
feito. É de destacar que o discente utilizou a expressão Memoshoá e não Holocausto,
uma diferença de conceitos que havia sido explorada em aula.
Ilustração 8 - Excerto do trabalho realizado pelo #24D.C da turma 9.º D.C.
128
#24D.C. conseguiu desconstruir a ideia de que uma narrativa tem de ser algo ex-
clusivamente escrito. Conseguiu narrar a sua história através da expressão plástica,
com a inclusão da componente escrita, como é obrigatório numa comic. É importante
referir que, apesar de eu não ser um especialista e tendo em conta as regras explicita-
das sobre as componentes de uma comic no decorrer do Capítulo 2 do Enquadramento
Teórico, este discente respeitou-as todas!
Muito embora revele grande originalidade na construção da narrativa plástica
(em jeito de Banda Desenhada), este trabalho peca por defeito na Componente Cientí-
fica, não tendo mobilizado conhecimentos ou aplicado terminologia específica da disci-
plina e não tendo enquadrado, devidamente, a narrativa.
No grupo Estado Novo, destacaria o trabalho de Adversarius, da turma 9.º D.C.,
que colocou o destaque no papel da mulher nesta época. Segundo a narrativa do dis-
cente, esta personagem “[...] é uma super-heroína que, no tempo de Salazar, foi opositora ao
regime.”.197 Este aluno criou uma narrativa em torno de uma mulher que cria precisa-
mente um movimento de oposição, que apelida de Movimento Opositor. De dia, esta
mulher desempenhava as funções que de certo modo lhe eram impostas (tarefas do-
mésticas), na escuridão, aproveitava a calada da noite para reunir apoiantes para o seu
movimento, cujo objetivo era derrubar o Estado Novo (Cf. Anexo 11 Carregue aqui).
Sobre a Guerra Civil Espanhola, podemos referir o trabalho de Sniper Desconhe-
cido, da turma 9.º D.C., que enquadrou a sua personagem no contexto deste conflito,
entre 1936 e 1939 (Cf. Anexo 11 Carregue aqui). Este trabalho destaca-se pela qualidade da
narrativa construída (embora com erros no campo da ortografia) e pela qualidade da
mobilização de conhecimentos e da utilização da terminologia específica da disciplina.
É, no entanto, um trabalho que peca por defeito no que diz respeito à componente
197 Por falta de tempo letivo (esta turma foi prejudicada por vários e sucessivos feriados nacionais), foi apenas aflorada a questão do MUD e da candidatura de Norton de Matos, e só explorada a candidatura de Humberto Delgado, em 1958.
129
“Apresentação”, aspeto ao qual o aluno poderia ter dedicado um pouco mais de es-
forço.
Destacou-se, pela positiva, o diálogo que o discente construiu entre um grupo
de soldados republicanos, no qual um soldado desconhecido engendra um plano que
acabaria por atrasar o ataque dos nacionalistas. De acordo com a narrativa construída
pelo discente “A população, com um pior armamento, tentava arranjar ideias para conseguir
segurar os nacionalistas que, infelizmente, estavam muito bem armados.”.
Através deste excerto podemos observar uma mobilização de conhecimentos
por parte do aluno que, apesar de poder ter construído uma narrativa mais fundamen-
tada (por exemplo, referindo que os Nacionalistas tinham o apoio da Alemanha Nazi e
da Itália Fascista) acaba por ser suficiente para a compreensão da história que envolvia
a personagem criada.
Um outro trabalho que se destacou pela sua narrativa e apresentação foi o de
Blitz, do 9.º Marvel, que apresentou uma personagem criada no contexto da Grande
Depressão (Ilustração 9) (Cf. Anexo 10 Carregue aqui). De forma a justificar o nome da persona-
gem, o discente explica o seguinte:
“Criei um vilão chamado Blitz, que traduzido do alemão significa “
relâmpago”, o que acho que se identifica com o tema no qual me inspirei “
The Wall Street Crash”, que aconteceu no dia 24 de outu-
bro de 1929, de noite para o dia, literalmente. E por causa
disto o nome Blitz, porque um relâmpago cai em milé-
simas de segundo, e esta tragédia económica da Histó-
ria também ocorreu “num abrir e fechar de olhos.”
Importa salientar que, apenas com este pequeno excerto, podemos afirmar que
o discente mobilizou os conhecimentos adquiridos – mobilizou o conceito de Blitz e a
questão do Crash da Bolsa foram abordados em aula (apesar do crash da bolsa em
1929 ser uma tempestade já há muito tempo em formação) – mas também utilizou de
Ilustração 9 - Desenho realizado pelo
Blitz, da turma 9.º Marvel.
130
forma adequada a terminologia específica da disciplina de História, apresentado um
trabalho de grande qualidade.
3.5.3. A avaliação do (pouco) especialista
Como uma obra de arte é submetida a uma avaliação e análise por parte de es-
pecialistas, também as “obras de arte” entregues pelos alunos foram avaliadas, mas
não por um especialista. Foram avaliadas por um principiante nestas andanças. Mas
com sangue, suor e lágrimas, tudo se faz. Afinal de contas possuía uma ajuda preciosa,
os critérios de correção que foram já referidos anteriormente.
A média das classificações dos 34 trabalhos entregues foi de 58.8%.
A média de classificações na turma 9.º Marvel foi 56.1%. Nesta turma as classifi-
cações foram muito heterogéneas: num universo de 28 trabalhos entregues, 14 tiveram
classificação negativa.
Como se pode ver através da Figura 14, as classificações negativas flutuaram en-
tre os 14% e os 49%. Penso que uma justificação possível para este grande número de
classificações negativas se deve ao facto de ser uma atividade diferente daquelas que
os alunos estavam habituados e alguns não se esforçaram (nem sequer a levaram a sé-
rio), o que acaba por se notar em algumas componentes como a Apresentação (do tra-
balho) ou a Contextualização Histórica. Nesta turma, apenas um trabalho obteve 100%,
ou seja, com a pontuação total, enquanto 3 obtiveram pontuações entre os 94% (um)
e 95% (dois), como se pode observar de acordo com os dados presentes na Figura 14.
Já na turma 9.º D.C., a média de trabalhos assenta nos 71.5%. No entanto, é pre-
ciso ter em conta que apenas foram entregues 6 trabalhos, e que a pontuação mais
alta foi 81% e a mais baixa 64%, não se contabilizando, portanto, qualquer classificação
negativa (Figura 15). Poucos, mas motivados e bons, acrescentaria…
131
Figura 14 - Excerto da tabela Excel preenchida com dados referente aos trabalhos da turma 9.º Marvel.
Figura 15 - Excerto da tabela Excel preenchida com dados referente aos trabalhos da turma 9.º D.C.
132
Em termos qualitativos, optou-se por adotar a seguinte escala cuja distribuição
de resultados pode ser observada a partir da Gráfico 10:
• Muito insuficiente (0%-25%);
• Insuficiente (25%-49%);
• Suficiente (50%-69%);
• Bom (70%-89%);
• Muito Bom (90%-100%).
Apesar de um grande número de classificações negativas (14 e todas numa
mesma turma, como foi referido), em contrapartida temos 11 trabalhos que se situam
no patamar “Bom” e 4 no “Muito Bom”, o que acaba por equilibrar as classificações no
conjunto das duas turmas.
4
10
5
11
4
0
2
4
6
8
10
12
MuitoInsuficiente
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom
Nú
me
ro d
e t
rab
alh
os
Escala de classificações qualitativa
Distribuição qualitativa das classificações nas duas turmas em conjunto34 trabalhos
Gráfico 10 - Distribuição, por turma, dos resultados dos trabalhos entregues.
133
4. “Línguas de perguntador”: recolha de informação final
Tendo sido realizadas as intervenções pedagógicas, procedemos a uma recolha
de informação que procurasse aferir a opinião dos alunos. A análise dos dados será re-
alizada respeitando o seu anonimato.
É importante referir que, mais uma vez, a recolha de informação procedeu-se
de duas formas distintas. Depois de uma reflexão permitida por se estar perante duas
turmas de semestralidade, chegou-se à conclusão de que a informação recolhida na
turma 9.º Marvel foi insuficiente e, por isso, optou-se por pela construção de um mé-
todo de recolha de informação mais concreto na turma 9.º D.C, sobretudo relativa às
quatro intervenções descritas no Capítulo 3.
4.1. Turma 9.º Marvel
Nesta turma, aquando da apresentação da proposta de trabalho, estava clara a
questão à qual os discentes teriam de responder: Consideras que esta tarefa foi útil para o
desenvolvimento do teu conhecimento histórico? Justifica.
Apesar de ter sido proposto que os alunos respondessem por escrito num do-
cumento Word, algumas respostas foram entregues aquando do envio do trabalho por
email. Num universo de 28 trabalhos entregues, apenas 15 dos seus autores responde-
ram à questão acima citada. Das 15 respostas submetidas, uma foi inconclusiva, na
medida que considerou que a tarefa proposta não foi produtiva sendo incoerente e
acrescento que afinal tinha sido produtiva (Cf. Anexo 12 Carregue aqui). As restantes 14 consi-
deraram a tarefa produtiva e, ao mesmo tempo, interessante. Destas 14, 11 referiram-
se a este trabalho como sendo criativo, no sentido em que consideraram que foi uma
tarefa que, para além de lhes ter suscitado interesse e de ter sido produtiva no que diz
respeito à compreensão dos conteúdos abordados, os obrigou a dar asas à sua imagi-
nação, aspeto a que não estão muito habituados, como podemos ver com a seguinte
resposta:
134
“Apreciei a tarefa e achei-a criativa e produtiva para desenvolver o meu co-
nhecimento histórico, pois de que relembrar o vestuário feminino dos anos
20 e procurar inspiração para a história de Giovanna Moretti. Também consi-
dero esta tarefa inovadora visto que nunca me tinham solicitado algo pare-
cido.”
Uma resposta que me interessou bastante foi a seguinte:
“Eu gostei muito da realização deste trabalho, não só por ter dado asas à mi-
nha imaginação e ter ajudado na parte da criatividade, como também me
ajudou a ver com outro ponto de vista este homem.”
O “homem” a que a resposta se refere é Josef Stalin, personagem principal do
trabalho deste aluno (Cf. Anexo 10 Carregue aqui). A resposta é bastante curiosa porque, para
além de focar o desenvolvimento da capacidade criativa que era exigida, assume tam-
bém que, com a realização do trabalho, lhe foi possível construir e fundamentar novas
conceções sobre a figura de Stalin. De acordo com o pensamento de Rüsen, o aluno
acabou por desenvolver um tipo específico de consciência histórica: crítica. Como se
viu, este tipo de consciência caracteriza-se por uma demarcação e afastamento das
ideias tradicionalmente transmitidas e dos conhecimentos históricos aprendidos (em
sala de aula ou fora desta).
4.2. Turma 9.º D.C.
Para recolha de informação nesta turma optou-se pela construção de um in-
quérito por questionário sendo que este foi formulado tendo em consideração as
135
ideias defendidas por Tuckman.198 O inquérito por questionário, que tinha como obje-
tivo compreender as opiniões dos discentes face às intervenções aplicadas (quatro, no
total), pode ser consultado nos Anexos (Cf. Anexo 13 Carregue aqui) ou digitalmente através do
link disponível aqui.
Num universo de 28 discentes, somente foram submetidas 17 respostas. Já no
inquérito inicial a adesão não fora total, visto que apenas responderam 20 discentes. O
inquérito esteve disponível entre os dias 15 e 20 de junho de 2021 (trata-se da turma
do segundo semestre, já referida na nota de rodapé 34). Este inquérito por questioná-
rio final, anónimo, era composto por 10 itens, dos quais sete eram de resposta rápida.
Destes 10, três exigiam uma justificação. Mais uma vez, questões relativas à idade e ao
género foram excluídas por ser informação dada a todos os docentes do Conselho de
Turma no início do ano letivo.
A primeira questão procurou resolver uma lacuna do inquérito inicial. Apesar
de terem sido exploradas as ideias prévias dos alunos relativamente à Banda Dese-
nhada, Cinema e Super-Heróis, e sobre a utilização destes recursos em aula, não foi ex-
plorada a relação dos alunos com a disciplina de História. Posto isto, foi colocada uma
questão muito simples que pretendia aferir, de forma rápida, a relação dos alunos com
a disciplina. Todas as respostas (17) foram positivas, o que não é de admirar pois esta
foi sempre uma turma que demonstrou um grande interesse pela disciplina e um em-
penho notório.
198 TUCKMAN, Bruce W. – Manual de investigação em educação: metodologia para conceber e realizar o processo de investigação científica. 4.ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. ISBN 978-972-31-1434-8.
136
A segunda questão ia ao en-
contro de uma das temáticas basila-
res do presente Relatório de Estágio:
Super-Heróis. Procurou-se aferir a
opinião dos alunos relativamente à
aplicação de recursos subordinados a
esta temática em aula – neste caso
nas aulas de História. As respostas a
esta questão, comparativamente com
a anterior, já são mais dispersas e,
como se pode observar através do
Gráfico 11, cinco respostas (29.4%) não
consideraram útil estas referências, sendo que, as restantes 12 (70.6%), responderam
de forma positiva à questão.
A terceira questão focava-se na justificação da resposta anterior. As justifica-
ções podem ser consultadas nos Anexos (Cf. Anexo 14 Carregue aqui). Comecemos a análise
pelas respostas negativas, cinco no total. Ora, destas cinco respostas, quatro delas uti-
lizaram um adjetivo que acabou por justificar a resposta anterior: confuso. Por não gos-
tarem ou por não verem filmes ou lerem comics de Super-Heróis, estes consideraram
confuso aprender História através destes recursos.
As respostas positivas acabam por focar, quase exclusivamente, a questão de
que os novos recursos suscitaram o interesse dos alunos, tornando a aula mais diver-
tida e dinâmica (fazendo proveito de algumas expressões utilizadas). Podemos ler algu-
mas respostas neste sentido, como por exemplo: “Torna as aulas muito mais apelativas e
interessantes para os recetores que, neste caso, são os alunos”.
As próximas quatro questões procuraram apurar a opinião dos discentes no
que se refere às três intervenções que tiveram por base a aplicação de recursos subor-
dinados aos Super-Heróis. Três delas, construídas com base na escala de Likert, tinham
12
5
Consideraste útil a referência aSuper-Heróis nas aulas deHistória?17 respostas
Sim Não
Gráfico 11 - Distribuição das respostas à questão "Consi-
deraste útil a referência a Super-Heróis nas aulas de His-tória?".
137
uma escala de 5 níveis, partindo de “Nada interessante (1)” até ao “Muito interessante
(5), com três opções intermédias.
Por fim, neste quarteto de questões, a última era reservada a uma tomada de
posição: pretendia-se saber, entre as três intervenções, qual a que os alunos gostaram
mais (tendo, obviamente, de justificar a opção apresentada).
Das três questões formuladas com base na escala de Likert, a primeira dizia res-
peito à primeira intervenção: a utilização de excertos do filme Mulher Maravilha, numa
aula subordinada às consequências da 1.ª Guerra Mundial. Com base nos dados pre-
sentes na Gráfico 12, poderão ser tecidos alguns comentários que são pertinentes.
Relativamente aos patamares 1 e 2 (“Nada interessante” e “Pouco interes-
sante”, respetivamente), podemos contabilizar 4 respostas, duas em cada um deles.
Não me parece que estejamos perante uma coincidência (e eu não sou de intrigas),
mas na terceira questão deste questionário, 4 respostas foram negativas, já que consi-
deraram as referências aos Super-Heróis nas aulas como algo “confuso”. Serão os mes-
mos quatro discentes? Diria que sim. Mas é um mistério mais misterioso do que o Mis-
tério da Estrada de Sintra.
2 2
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadainteressante (1)
Poucointeressante (2)
Neutro (3) Interessante (4) Muitointeressante (5)
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre aMulher Maravilha e a 1.ª Guerra Mundial.17 respostas
Grau de interesse
Gráfico 12 - Distribuição das respostas à questão "Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção
sobre a Mulher Maravilha e a 1.ª Guerra Mundial".
138
Relativamente às restantes respostas, como podemos observar através do Grá-
fico 15, seis (35.5%) consideraram “Interessante” esta intervenção; e sete alunos
(41.2%) consideraram-na “Muito interessante”.
Neste conjunto de três questões, a segunda dizia respeito à opinião dos alunos
sobre a intervenção relativa à utilização de excertos da comic do Capitão América na
abordagem a conteúdos relacionados com o Nazismo. Os resultados podem ser obser-
vados através do seguinte gráfico (Gráfico 13).
Os resultados aqui não são muito distintos dos dados analisados anterior-
mente. Como podemos ver através do Gráfico 13 existem quatro discentes que conside-
raram esta intervenção “Nada interessante”. As restantes respostas são exatamente
iguais à questão anterior. Destas 17, seis dizem respeito ao patamar “Interessante” e
sete ao “Muito interessante”.
4
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadainteressante (1)
Poucointeressante (2)
Neutro (3) Interessante (4) Muitointeressante (5)
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre oCapitão América e o conceito de Eugenia Nazi.17 respostas
Grau de interesse
Gráfico 13 - Distribuição das respostas à questão "Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção
sobre o Capitão América e o conceito de Eugenia Nazi".
139
A terceira questão estava subordinada à intervenção aplicada no âmbito da le-
cionação do tema da Guerra Fria. Mais uma vez, e tendo em conta as opiniões sobre as
intervenções anteriores, os dados são homogéneos no sentido em que as opiniões,
face às outras intervenções, não variam muito, como podemos observar através do
Gráfico 14.
As opiniões face a esta intervenção são praticamente semelhantes às anterio-
res, com a exceção de uma redução do “Muito Interessante” que até aqui contou com
sete respostas e, neste caso em concreto, apenas contou com seis. De novo, quatro
respostas caracterizaram esta intervenção como “Nada interessante”.
Fazendo uma breve ponte com o inquérito inicial aplicado, podemos concluir
que do início do ano para o fim duplicaram as reservas face à aplicação deste tipo de
recursos em sala de aula (ainda que com resultados residuais). Recordo que no inqué-
rito inicial existia uma questão que pretendia apurar a opinião dos alunos face à possi-
bilidade de aplicação de recursos subordinados a Super-Heróis em sala de aula: nesse
momento, responderam negativamente 2 discentes. Não existe a possibilidade de rea-
lizar qualquer tipo ligação entre estas respostas, tendo em conta o caráter anónimo
dos questionários. Mas seria interessante poder analisar, em concreto, a opinião dos
4
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadainteressante (1)
Poucointeressante (2)
Neutro (3) Interessante (4) Muitointeressante (5)
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre aGuerra Fria através dos Super-Heróis.17 respostas
Grau de interesse
Gráfico 14 - Distribuição das respostas à questão "Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção
sobre a Guerra Fria através dos Super-Heróis".
140
discentes, de forma a compreender se houve, ou não, uma alteração de opinião e pen-
samento. E entender o porquê.
Como foi referido, sentiu-se a necessidade de que intervenção gostaram mais.
Neste sentido, as opiniões centraram-se, salvo duas exceções, em duas intervenções,
como podemos observar a partir do Gráfico 15. De referir que não existia a opção “Ne-
nhuma das anteriores”, pois o objetivo era o de levar os discentes a tomarem uma po-
sição, justificando-a.
Como é possível compreender através da análise dos dados presentes no Grá-
fico 15, as duas intervenções que suscitaram mais interesse nos alunos foram as que ti-
veram por base a utilização de recursos da Mulher Maravilha e do Capitão América,
contabilizando-se sete respostas em cada uma (41.2% em cada).
Contrariando um preconceito meu, a intervenção aplicada no contexto da lecio-
nação da Guerra Fria contou com apenas três “votos”. Confesso que considerei que
esta seria a intervenção mais interessante, pela variedade de recursos explorados e
apresentados. Todavia, também considero que, por esse mesmo facto, pelo vasto le-
que apresentado, pode ter sido uma intervenção mais “pesada” para a turma (perdido
o sentido de novidade?).
7
7
3
Das três intervenções, qual foi a que mais gostaste?17 respostas
Mulher Maravilha e 1.º Guerra Mundial Capitão América e Eugenia Nazi
Guerra Fria através dos Super-Heróis
Gráfico 15 - Distribuição das respostas à questão "Das três intervenções, qual foi a que mais gos-
taste?".
141
Relativamente às justificações das escolhas, os alunos foram bastante pragmá-
ticos. No conjunto das 17 respostas (Cf. Anexo 15 Carregue aqui), podemos identificar quatro gru-
pos distintos de justificações, construídos com base numa análise das respostas dadas.
Estes quatro grupos, assim como a sua distribuição numérica, podem ser observados
através do Gráfico 16.
Estes quatro grupos foram concebidos à luz de uma breve análise de conteúdo
das justificações dadas pelos discentes da resposta à questão anterior. De facto, como
podemos observar, sete alunos justificaram a sua escolha através do fator interesse, ou
seja, gostaram mais de uma determinada intervenção por, simplesmente, a considera-
rem mais interessante. Por outro lado, o gosto pelo conteúdo a ser lecionado foi tam-
bém um fator de justificação: podemos contabilizar cinco respostas neste sentido.
Contabilizando um total de três respostas, temos o campo da compreensão, que é o
mesmo que dizer que os discentes justificaram a sua opção por ter sido a intervenção
que lhes permitiu compreender melhor os conteúdos. Neste sentido, uma das respos-
tas é relativa à intervenção da Guerra Fria: “Uma vez que haviam muitos mais exemplos,
fiquei a perceber melhor.”.
As duas últimas respostas vão ao encontro de um dos objetivos das interven-
ções, o de demonstrar que, por vezes, a propaganda surge em personagens fictícias
7
5
32
0
2
4
6
8
Interesse Gosto peloconteúdo/tema
Compreensão Novidade: propaganda
Nú
me
ro d
e r
esp
ost
as
Justificação à questão "Das três intervenções, qual foi aque mais gostaste?"17 respostas
Agrupamento de questões
Gráfico 16 - Distribuição, por grupos, das justificações à resposta da questão anterior.
142
que à partida estão desprovidas de qualquer sentido crítico e histórico. Dois alunos jus-
tificaram as suas opções com o fator novidade, visto que nunca pensaram que estas
personagens poderiam ter implícitas mensagens propagandísticas, de cariz político-
ideológico.
A última questão buscou estabelecer uma ponte entre as intervenções aplica-
das e a relação dos discentes com a disciplina de História, para procurar eventuais alte-
rações de gosto face à mesma.
Como podemos ver pelo Grá-
fico 17 (Cf. Anexo 16 Carregue aqui), seis dis-
centes afirmaram que estas ativida-
des não promoveram o desenvolvi-
mento de um maior interesse e gosto
pela disciplina, por várias razões. Ao
analisar as justificações a esta res-
posta, desde logo pelo menos em 2
respostas os alunos afirmaram que,
por não gostarem de Super-Heróis,
em nada estas intervenções implica-
ram um maior gosto pela disciplina.
Em contrapartida, alguns alunos optaram pelo “Não” por já gostarem muito da
disciplina. Por exemplo, um dos alunos afirma que “[...] por mais que tenha sido interes-
sante, não considero tão relevante ao ponto de influenciar a minha opinião sobre a disciplina,
que é já é boa.”.
Relativamente às justificações do “Sim”, que contabilizou 11 respostas, encon-
tramos opiniões variadas. Podemos destacar uma destas respostas, onde se registam
alguns dos pontos positivos das intervenções aplicadas:
11
6
Estas aulas e o trabalho que foiproposto fizeram com quegostasses mais da disciplina deHistória?17 respostas
Sim Não
Gráfico 17 - Distribuição das respostas à questão "Estas
aulas e o trabalho que foi proposto fizeram com que gostasses mais da disciplina de História?".
143
“É uma forma inovadora e que eu nunca tinha pensado. Para além disso, tal
como já tinha dito anteriormente, é muito mais apelativo para os aluno/as o
que, consequentemente, fará com que os aluno/as estejam mais atentos,
pois estamos a relacionar assuntos que gostamos com a matéria.”
Uma outra resposta de um aluno afirma que passou a gostar mais da disciplina
de História (o que me deixa de coração cheio, não nego). Pode ler-se: “Estes trabalhos
acabaram por tornar as aulas mais divertidas e não tão secantes, o que fez com que gostasse
mais das aulas e até mesmo da disciplina!”.
Gostava ainda de destacar outra resposta que, de certo modo, foca um dos
objetivos destas intervenções, a lecionação da disciplina de História através de recur-
sos inovadores: “Sim, eu senti que as aulas fizeram com que eu gostasse mais de História por-
que nunca tinha pensado desta maneira em relação à disciplina.”.
144
“Vou embora! Dou a vez a outro!”: Considerações finais
Chegamos ao finis terrae do presente Relatório de Estágio que é o culminar de
3+2 anos de esforço, dedicação e paciência. O ponto de chegada de um processo que
contou com inúmeras dores de cabeça (que valeram a pena) a preparar aulas e inúme-
ras horas a formatar um texto que ficava às avessas sempre que alterava uma imagem
ou um tipo de letra. Mas, na onda do “não importa sol ou sombra”, palavras cantadas
por Fernando Tordo, em 1973, o processo foi sendo realizado passo a passo… e que
bem que sabe chegar a este ponto final. Apesar do processo demorado e que apenas
causou “danos de espera” a algumas alminhas (desculpem, Pais), já dizia Simone de
Oliveira, em 1969, que “Quem faz um filho, fá-lo por gosto”. E por filho entenda-se
este Relatório, atenção!
Esta terceira e última parte do Relatório de Estágio está dividida em dois mo-
mentos: em primeiro lugar, tecemos algumas considerações relativamente ao que foi
discutido no Enquadramento Teórico; num segundo momento, é a vez do Enquadra-
mento Prático. Em jeito de síntese, os prós e os contras, tendo por base as atividades
concebidas e aplicadas ao longo do Estágio e os dados recolhidos em ambas as turmas
sobre essas mesmas atividades.
Fazendo aqui um “dois em um”, é possível sintetizar as ideias levantadas no En-
quadramento Teórico fazendo uma ponte com as cinco questões de partidas propostas
no início do presente Relatório. De facto, este Relatório coloca, em certa medida, um
ónus na competência da Criatividade, cuja definição suscita discussão na comunidade
científica.
Independentemente das diferenças relativamente à sua definição, o que é
certo é que, no contexto escolar, esta capacidade reveste-se de grande importância. A
Criatividade pode ser desenvolvida através de inúmeras formas sendo o elemento-
chave o carácter desafiador que deve ser incutido nas tarefas propostas. Só com estes
desafios é que os alunos vão conseguir superar-se e conseguir criar novos esquemas
mentais inovadores e criativos.
145
Em suma podemos assumir que a Criatividade, enquanto competência trans-
versal no Ensino, é algo imprescindível ao desenvolvimento pessoal e cognitivo dos es-
tudantes.
Todavia, este desenvolvimento só é proporcionado se o Professor o permitir.
De facto, a Criatividade, assim como a Empatia e Consciência históricas – competências
que ocupam um lugar de destaque no presente Relatório –, só podem ser desenvolvi-
das se o Professor aplicar atividades desafiadoras e que consigam colocar em prática
outras componentes associadas ao ensino da História, como a multiperspetiva relativa-
mente às fontes históricas e a interdisciplinaridade. Por outro lado, o Professor tem a
tarefa de estabelecer um ambiente propício a esse mesmo desenvolvimento.
Uma outra componente analisada no Enquadramento Teórico prendeu-se com
os recursos/meios para se atingir os fins propostos – neste caso, a utilização de recur-
sos alusivos a Super-Heróis (Banda Desenhada e Cinema) com o intuito de desenvolver
e aprofundar a Criatividade, a Empatia e a Consciência histórica. Como se viu no Capí-
tulo 2, a Banda Desenhada cujas origens podem recuar à Pré-Histórica, também no
que toca à sua definição levanta algumas questões controversas. Todavia, a breve
abordagem realizada a esta Arte permitiu compreender que a Nona Arte é um ótimo
recurso para ser aplicado no processo de ensino-aprendizagem por desenvolver duas
literacias: literária e visual.
A questão complicou-se aquando da abordagem desta Arte aplicada a uma te-
mática peculiar – os Super-Heróis. Por insuficiência de bibliografia sobre este tópico, a
componente teórica que o sustenta é lacunar. Como foi possível observar, existem vá-
rias comics cujo background de criação é impresso no desenvolvimento da sua história,
o que dota estes recursos de um cariz que vai para além do entretenimento, passando
pelo cariz informativo. Como qualquer outro recurso, o Professor deve analisar previa-
mente de modo a conseguir tirar o maior proveito desses recursos, ao mesmo tempo
que deve permitir que os alunos compreendam os conteúdos a ser lecionados.
146
Relativamente ao Enquadramento Prático, existem algumas questões que de-
vem ser tidas em consideração neste ponto. Desde logo, podemos começar por desta-
car um dos problemas dos recursos aqui identificados – têm uma utilização (muito)
restrita –, podendo ser aplicados em anos escolares onde se abordem as questões as-
sociadas à 1.ª e 2.ª Guerras Mundiais e à Guerra Fria199. Todavia, esta questão não
torna estes recursos desprovidos de valor no processo de ensino-aprendizagem na dis-
ciplina de História. Pelo contrário! É possível concluir que estes recursos se revestem
de um grande valor científico (e histórico) e valorizados pelos alunos pelo seu cariz
“inovador” e lúdico.
Uma outra questão que pode ser aqui revisitada prende-se com os métodos de
recolha de informação inicial e final aplicados nas duas turmas em apreço. Como se
viu, os métodos foram diferentes em ambas as turmas e tal deveu-se à reflexão que
está intimamente ligada ao processo de “investigação-ação”. De facto, sentiu-se a ne-
cessidade de alterar os métodos entre a primeira turma e a segunda, por se terem de-
tetado lacunas na informação recolhida. Todavia, o que à primeira vista pode ser visto
como “incoerente” ou “desigual”, na realidade reveste-se de um grande sentido de
oportunidade e reflexão – à falta de dados concretos e em número (reflexão) aliou-se a
oportunidade de se estar perante duas turmas de semestralidade o que permitiu a al-
teração, a tempo, do método de recolha de informação.
Há ainda a noção de que os recursos escolhidos e utilizados poderiam ter sido
utilizados de uma forma mais intensiva e extensiva. Intensiva porque poderiam ter
sido realizados mais exercícios, de forma a rentabilizar os recursos. Extensiva porque
foram utilizados somente alguns excertos. No entanto, esta escolha prendeu-se com
questões de gestão do tempo letivo. Por exemplo, não foi possível aplicar testes seme-
lhantes aos Torrance Tests of Creative Thinking, tidos por uma grande margem de teó-
ricos como o método mais eficaz para se avaliar a criatividade, por exigirem muito
tempo para a sua aplicação. Também não foi possível a análise de comics completas
199 História no 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico, História A no 12.º ano Ensino Secundário, História B no 11.º ano no Ensino Secundário.
147
em sala de aula e realização de outro tipo de atividades que focassem essa mesma
análise por falta de tempo letivo.
Não obstante, apesar de uma boa aplicação e análise (modéstia à parte), isto
leva-nos a outra questão. Durante o processo aqui relatado foram analisados peque-
nos excertos. Neste sentido, há esperança (é a última a morrer, não é?) que este Rela-
tório possa servir de ponto de partida a outros estudos que consigam não só aplicar os
mesmos recursos em sala de aula, mas também que consigam ir mais além na rentabi-
lização dos mesmos – utilização integral de comics, analisando-as de forma mais pro-
funda e relacionando com outros recursos e outras fontes de informação; construção e
aplicação de estratégias e atividades que foquem a criatividade e a empatia histórica
dos alunos (por exemplo, estratégias baseadas em role-play que aliem fantasia, diver-
são e conhecimento), construção de narrativas e de personagens ao longo do ano (ou
semestre) de forma a construir um portefólio que permita criar uma equipa de Super-
Heróis históricos, dando um foco especial à avaliação formativa…
Enfim.
É deixar a criatividade de cada um fluir.
148
Referências Bibliográficas
AFONSO, Joana – Metodologias na banda desenha: realização de um álbum de
BD. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2015. Dissertação de
Mestrado.
AIKEN, Katherine – Superhero History: Using comic books to teach U.S. History.
OAH Magazine of History, [em linha], 2020. [Consult. a 19/07/2021]. Disponível em:
https://bit.ly/3t0q1m7.
ALMEIDA, Cristiana – O Desenvolvimento da Empatia História em Alunos do 7.º
ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, 2019. Dissertação de Mestrado.
ANGOLOTI, Carlos – Cómics, títeres y teatro de sombras: Tres formas plásticas
de contar historias. Madrid: Ediciones de La Torre, 1990.
AZEVEDO, Ivete; MORAIS, Fátima – Avaliação da criatividade como condição
para o seu desenvolvimento: um estudo português do Teste de Pensamento Criativo e
Torrance em contexto escolar. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio
en Educación, 2012. Vol. 10, N.º 2.
AZINHEIRO, Vasco – A Utilização da Banda Desenhada nas Aulas de História e
Geografia do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Escola
de Educação, Administração e Ciências Sociais da Universidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologias, 2014.
BOURDÉ, Guy – As Escolas Históricas. 3ª ed. Mem Martins: Europa América,
2012. (Fórum da história).
CARDOSO, Pedro – O cinema como recurso de aprendizagem em História.
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2020. Dissertação de Mestrado.
149
CARVALHO, Magda – A criação artística autêntica contra o estéril culto da pala-
vra – uma luta anteriana. In CASTRO, Gabriela; CARVALHO, Magda (COORD.) – A Criati-
vidade na Educação. Actas do Colóquio: A Criatividade na Educação. Ponta Delgada:
Universidade dos Açores. Centro de Estudos Filosóficos, 2006.
CIRNE, Joana; HENRIQUES, Marília – Viagem na História 9. Porto: Areal Editores,
2020. ISBN: 978-989-767-052-7.
COSTA, Pedro – A Caixa-Forte do Ensino: Aprender Divertida(mente). Porto: Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto, 2019. Dissertação de Mestrado.
COUTO, C. P.; ROSAS, M. A. M.; MEA, E. C. A. – Um Novo Tempo da História: 12.
Parte 2. Porto: Porto Editora.
CROPLEY, David; CROPLEY, Arthur – Functional Creativity. "Products" and Gene-
ration of Effective Novelty. Inglaterra: Cambridge University Press, 2010. pp. 2-3.
DIAS, Carla – Criatividade no Ensino Básico: um olhar sobre as representações
de alunos e professores em escolas públicas e privadas. Braga: Instituto de Educação
da Universidade do Minho, 2014.
DUARTE, Duarte – O Ensino da História para o século XXI: Uma perspetiva sus-
tentada na teoria das Inteligências Múltiplas. Porto: Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto, 2019. Dissertação de Mestrado.
EGAÑA, Eva; BEDOYA, Margarita – El comic como recurso didactico: una reflexi-
on coeducativa. Espanha: Ediciones Universidad de Valladolid, 1989.
EISNER, Will – Comics & Sequential Art. Florida: Poorhouse Press, 1985.
ENDACOTT, Jason; BROOKS, Sarah – An Updated Theoretical and Pratical Model
for Promoting Historical Empathy. Social Studies Research And Practice (SOCSTRPR)
[em linha]. 2003, Vol. 8, N.º 1. [Consult. 21 jul 2021]. Disponível em:
https://bit.ly/3itvduS.
FERREIRA, Clarisse – O papel da empatia histórica na compreensão do outro. In
BARCA, Isabel; SCHMIDT, Auxiliadora (ORG.) – Educação Histórica. Investigação em
Portugal e no Brasil. Actas das Quintas Jornadas Internacionais de Educação Histórica.
150
Braga: Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educação. Instituto de Edu-
cação e Psicologia, 2009.
FIGUEIREDO, Sérgio – “O Cinema e a História” – A utilização do cinema no pro-
cesso de ensino-aprendizagem da História Contemporânea. Lisboa: Universidade de
Lisboa, 2018.
FILHO, Edson – Quadradinhos Marvel nos anos sessenta durante a Guerra Fria.
Brasil: Universidade Estadual Londrina, 2017.
FLEITH, Denise; ALENCAR, Eunice – Escala sobre o clima para criatividade em
sala de aula. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2005. 2(3), pp. 85-91.
FONSESA, A. Fernandes da – A Psicologia da Criatividade. Porto: Universidade
Fernando Pessoa, 2007. 3.ª Edição. ISBN 978-972-8830-85-4.
FRONZA, Marcelo – O significado das histórias em quadrinhos na educação his-
tórica dos jovens que estudam no Ensino Médio. Brasil: Curitiba, 2007. Dissertação de
Mestrado.
GAITANO, George – The “religion” of comic books’ superheroes: a modern reli-
gious trend or a political propaganda? Albânia: Universidade Logos-Tirana, 2014.
GARDNER, Howard – Mentes que criam. Uma anatomia da criatividade obser-
vada através das vidas de Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham e Gandhi.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
GIBSON, Arthur – Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual: sugestões
didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. Brasil: Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado.
GONZÁLEZ, Rodrigo Muñoz – Masked Thinker? Politics and Ideology in the Con-
temporary Superhero Film. Finlândia, 2017.
GROENSTEEN, Thierry – O Sistema dos quadradinhos. Brasil: Marsupial Editora,
2015.
151
GROENSTEEN, Thierry – The Current State of French Comics Theory. Scandinavi-
an Journal of Comics Art (SJoCa). [em linha]. 2012, Vol. 1. [Consult. a 12/08/2021]. Dis-
ponível em: https://bit.ly/2WuBBdr.
HARKINS, Anthony – Commies, H-Bombs, and the National Security State: the
Cold War in the Comics. EUA: Universidade de Kentucky, 1997. pp. 12-32.
KAUFMAN, James; BEGHETTO, Ronald – Beyond Big and Little: The Four C Mo-
del of Creativity. Review of General Psychology 13, 2009. n.º 1.
KLIMENKO, Olena – La creatividad como un desafío para la educación del siglo
XXI. Educación y Educadores [Em linha]. 2008, 11(2). PP. 191-210. [Consult. a
16/07/2021]. ISSN: 0123-1294. Disponível em: https://bit.ly/3mJ3bhF.
LEE, Peter – Nós fabricamos carros e eles tinham que andar a pé. Compreensão
das pessoas do passado. In BARCA, Isabel – Educação Histórica e Museus. Actas das Se-
gundas Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: Universidade do Minho.
Centro de Investigação em Educação. Instituto de Educação e Psicologia, 2003.
Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei n.º 46/86. Diário da República, n.º
237/1986, Série I de 1986-10-14.
LÓPEZ, Olivia – Enseñar creatividad: el espacio educativo. Bolivia: Universidad
Nacional de Jujuy. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2008,
n.º 35, pp. 61-75.
MAINARDI, Patricia – The invention of comics. Nineteenth Century Art World-
wide [em linha], 2007, Vol. 6. [Consult. 12/07/2021]. Disponível em:
https://bit.ly/3ztDEg0.
MARCOS, Napolitano – Como usar o Cinema na sala de aula. São Paulo: Editora
Contexto, 2003.
MCCLOUD, Scott – Making Comics. Storytelling Secrets of Comics, Manga and
Graphic Novels. Nova Iorque: Harper, 2006.
MCCLOUD, Scott – Understanding Comics: The Invisible Art. Nova Iorque: Har-
per, 1994.
152
ME – Currículo Nacional do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação,
2001.
ME/DGE – Aprendizagens Essenciais: 9.º Ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lis-
boa: Ministério da Edu-cação/Direção-Geral de Educação, 2018.
ME/DGE – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Lisboa: Minis-
tério da Educação/Direção-Geral de Educação, 2017.
ME/DGE – Programa de História do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministé-
rio da Educação/Direção-Geral de Educação, 1991. Vol. 1.
MIETTINEN, Mervi – Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American
Identity. Finlândia: Escola de Línguas, Tradução e Estudos Literários da Universidade de
Tampere, 2011. Dissertação de Licenciatura.
MIRANDA, Júlia – A criatividade no ensino de música: estratégias de desenvolvi-
mento da criatividade nas aulas de contrabaixo. Castelo Branco: Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2020. Dissertação de Mes-
trado.
MOCELLIN, Renato – O Cinema e o Ensino da História. Curitiba: Nova Didática,
2002. Idem.
MONFORT, Neus González, et al. – El aprendizaje de la empatía histórica (eh) en
educación secundaria análisis y proyecciones de una investigación sobre la enseñanza
y el aprendizaje del conflicto y la convivencia en la Edad Media. In RUIZ, Rosa María;
BORGHI, Beatrice; MATTOZZI, Ivo – L'educazione alla cittadinanza europea e la forma-
zione degli insegnanti. Un progetto educativo per la "Strategia di Lisbona": atti XX Sim-
posio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales: I Convegno Internazionale
Italo-Spagnolo di Didattica delle Scienze Sociali. Bolonha, 2009. ISBN 978-88-555-3022-
4. pp. 283-290.
MORAN, Seana – The roles of creativity in society. In KAUFMAN, J.C.; STERN-
BERG, R.J. – The Cambridge Handbook of Creativity. Inglaterra: Cambridge University
Press, 2010. pp. 74-90.
153
MOREIRA, Rafaela – A multiperspetiva em História – um estudo com alunos do
Ensino Secundário Recorrente. Braga: Instituto de Educação da Universidade do Mi-
nho, 2020. Dissertação de Mestrado.
MOSER, Vera – A Criatividade. A necessidade da promoção da atividade cria-
dora no Pré-Escolar. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Instituto Superior de Educação e
Ciências, 2015.
MOUZON, Cecília – A criatividade na educação. Enquadramento Curricular e Es-
tratégias de facilitação na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Açores:
Departamento de Ciências da Educação da Universidade dos Açores, 2014. Dissertação
de Mestrado.
MUNARI, Bruno – Fantasia. Lisboa: Edições 70, 2015. ISBN: 978-972-44-1357-0.
NACHTIGALL, Lucas – Super-heróis na década de 1960: Guerra Fria e mudanças
sociais nos comics norte americanos. Faces da História, vol. 1, n.º 2, 2017.
NAPOLITANO, Marcos – Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Editora
Contexto, 2003.
NASCIMENTO, Aparecida – Os Super Heróis e o Ensino da História. Brasil [em li-
nha], 2018. [Consult. a 17/07/2021]. Disponível: https://bit.ly/3zqiAqy.
PAIS, José Machado – Consciência História e Identidade. Os jovens portugueses num
contexto europeu. Oeiras: Celta Editora, 1999.
PALHARES, Marjory – História em quadradinhos: uma ferramenta pedagógica
para o ensino de História. Brasil [em linha], [s.d.]. [Consult. a 19/07/2021]. Disponível
em: https://bit.ly/38rVGn0.
PEREIRA, Juliana – A Banda Desenhada e o Cartoon no processo de ensino-
aprendizagem de História e Geografia. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, 2017. Dissertação de Mestrado.
PESSOA, Alberto – Histórias em quadradinhos: um meio intermediático. Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie [em linha], 2008. [Consult. a 11.08.2021]. Disponível
em: https://bit.ly/3yA8jXO.
154
POTIER, Leda; POTIER, Robson – Consciência Histórica, ensino de História e ori-
entações no tempo para a vida prática: o uso produções cinematográficas no desenvol-
vimento de conhecimento histórico. Brasil: XXVII Simpósio Nacional de História, 2013.
QUENTAL, Antero de – Bom-senso e bom-gosto: carta ao excellentissimo se-
nhor Antonio Feliciano de Castilho. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1865. 3.ª edi-
ção.
REBOCHO, Carolina – A Criatividade em Contexto Escolar – Avaliação da Criati-
vidade, Características Individuais e Competências Socioeconómicas em crianças do 1.º
Ciclo. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, 2020. Dis-
sertação de Mestrado.
REIGADA, Tiago – Ensinar com a Sétima Arte: O espaço do cinema na didática
da História. Porto: CITCEM/Edições Afrontamento, 2015.
RIBEIRO, Cláudia; ALVES, Luís Alberto – Uso do Cinema na didática da História.
In ALVES, Luís Alberto; GARCÍA, Francisco García; ALVES, Pedro (coord.) – Aprender del
cine: narrativa y didáctica. Madrid: Icono14 Editorial, 2014.
RIBEIRO, Gustavo – Um entretenimento para os tempos de guerra: representa-
ções e propaganda ideológica em Captain America Comics (1941-1943). Brasil: XXVIII
Simpósio Nacional de História [em linha]. 2015. [Consult. a 12/08/2021]. Disponível:
https://bit.ly/3jsYHK1.
ROCHA, Everton – Representações da Guerra Fria na História em Quadradinhos.
Batman – O Cavaleiro das Trevas. Brasil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.
ROSA, Elsa – Representação do conceito de criatividade dos pré-adolescentes
nas Artes Visuais. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade de Lisboa, 2009.
RÜSEN, Jorn – Aprendizado Histórico. In SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA,
Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (ORG.) – Jörn Rüsen e o Ensino de História. Curi-
tiba: Editora da UFPR, 2011.
155
RÜSEN, Jörn – Razão Histórica. Brasil: Editora Universidade de Brasília, 2001.
SÁ, Cristina – A Banda Desenhada: uma linguagem narrativa ao serviço do en-
sino do Português (língua materna). Aveiro: Universidade de Aveiro, 1995. Dissertação
de Doutoramento. Vol. 1.
SANTOS, Paulo – O Romance Histórico. Madeira: Universidade da Madeira,
2015. Dissertação de Mestrado.
SCOTT, Cord – Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in
American Cultural History From World War II Through the Iraq War. Chicago: Loyola
University Chicago, 2011. Dissertação de Doutoramento.
SEABRA, Joana – Criatividade. Psicologia.pt – O Portal dos Psicólogos. [Em li-
nha]. 2007. [Consult. a 10.08.2021]. Disponível em: https://bit.ly/3zxN4a9.
SERRA, António – A utilização da Banda Desenhada no ensino da História e Geo-
grafia de Portugal. Setúbal: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Se-
túbal, 2016. Dissertação de Mestrado.
SILVA, Mariana – A Empatia como estratégia para o Ensino-Aprendizagem em
História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018. Dissertação de
Mestrado.
SILVA, Talita; NAKANO, Tatiana – Criatividade no contexto educacional: análise
de publicações periódicas e trabalhos de pós-graduação na área da psicologia. Educa-
ção e Pesquisa, 2012, 38(3), PP. 743-759.
SOLÉ, Glória – A consciência histórica e a significância histórica em alunos por-
tugueses: um estudo de caso longitudinal com alunos do 1.º CEB. Braga: LAPEDUH,
2013.
SOUZA, Polyana; SOARES, Valter – Cinema e Ensino da História. Brasil: XXVII
Simpósio Nacional de História, 2017.
TUCKMAN, Bruce W. – Manual de investigação em educação: metodologia para
conceber e realizar o processo de investigação científica. 4.ª ed. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2012. ISBN 978-972-31-1434-8.
156
VIEIRA, Diana – A Banda Desenhada como recurso para estimular a aprendiza-
gem da gramática nas aulas de línguas estrangeiras. Dissertação de Mestrado. Porto:
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch – Imaginação e criatividade na infância: ensaio de
psicologia. Lisboa: Dinalivro, 2012. (Razões de sobra). ISBN 978-972-576-616-3.
158
Anexo 1 – Inquérito por questionário inicial aplicado na turma 9.º D.C.
Os Super-Heróis nas aulas de História
O presente formulário tem como objetivo conhecer os hábitos de leitura de banda dese-
nhada, a importância dos Super-Heróis e a sua utilização em sala de aula. O questionário é
anónimo!
*Obrigatório
1. Tens o hábito de ler banda desenhada? *
Marcar apenas uma oval.
Sim Pular para a pergunta 2
Não Pular para a pergunta 3
Frequência
2. Com que frequência lês? *
Marcar apenas uma oval.
Uma vez por semana.
Duas a quatro vezes por semana.
Uma vez por mês.
Outro:
Experiência
3.Já tiveste alguma experiência com banda desenhada na sala de aula? *
Marcar apenas uma oval.
159
Sim.
Não. Pular para a pergunta 6
Opinião
4. Em que disciplina? *
5. Consideraste útil essa experiência? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
Super-heróis
6. Tens o hábito/interesse de ver filmes subordinados a Super-Heróis? Se sim,
quais? *
7. Consideras possível aprender História através da utilização de Super-Heróis em
sala de aula? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
160
8. Justifica a tua resposta anterior. *
9. A criatividade deve ser explorada em sala de aula. *
Marcar apenas uma oval.
1 2 3 4 5
10. De que forma gostavas que a tua criatividade fosse explorada nas aulas de Histó-
ria? * Seleciona uma ou mais opções. Se considerares pertinente outra opção, podes acrescentar.
161
11. Em que temas de História gostarias que fossem utilizados Super-Heróis como
um recurso de ensino-aprendizagem? *
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
Formulários
Voltar ao texto principal.
162
Anexo 2 – Justificações apresentadas à resposta à questão “Consideras possível aprender His-
tória através da utilização de Super-Heróis em sala de aula?”
Considero possível que se aprenda com super-heróis porque penso que seja uma forma dife-rente de cativar os alunos para as aulas visto que a maior parte deles aprecia super-heróis.
O stor fêz referência á Wonder-Woman quando falamos da 1ª Guerra Mundial, por isso... acho que sim.
Ajuda-nos a entender melhor a situação falada.
Porque não são reais
Sim, pois pode motivar quem gostar do tema.
Sim pois alguns super heróis representam deuses antigos
São exemplos concretos, apesar de as personagens não serem reais, os cenários em que se passa a ação têm um fundo de verdade. Penso que é quase como falar dos temas de forma criativa e descontraída.
É mais ludico.
Sim pois muitos super herois usam assuntos da realidade como objetivos a cumprir como guer-ras, crimes etc...
Os filmes de super-heróis ou o próprio personagem podem abordar temas muito importantes para a História.
É uma maneira criativa de aprender
Pois, os super-heróis podem tem um passado ou estar a "viver" em momentos históricos.
Os alunos interessam-se mais quando a aula não é tão monótona.
Eu acho que seria muito interessante e nos iria ajudar a prestar atenção e a lembrar das coisas e é uma maneira mais fácil pra aprendermos história desde que ocasionalmente se corrija os erros históricos que todos os filmes têm
Os heróis podem fazer história mais emocionante e fácil de entender
Sim porque existem vários super-heróis em épocas diferentes .
Se aprendermos as historias de Super-heróis ou ver filmes relacionados aos mesmos, podemos aprender coisas relacionadas a todas as disciplinas praticamente. Principalmente relacionado a História!
Sim, porque há espaços importantes onde decorre a ação.
O único motivo, pelo qual eu vejo coisas relacionados a Super-Heróis é o entretenimento, então eu acho que perderia a atenção da aula.
Voltar ao texto principal.
163
Anexo 3 – Plano de aula referente à Regência subordinada à 1.ª Guerra Mundial/Mulher Maravilha
PLANO DE AULA
Regência n.º 16 Ano: Turma: Duração: 90 min. Data: 04/03/2021
Domínio: A Europa e o Mundo no limiar do Século XX.
Subdomínio: Hegemonia e Declínio da Influência Europeia.
Sumário:
As consequências da 1.ª Guerra Mundial.
O Tratado de Versalhes e a criação da Sociedade das Nações.
Situação-problema Não foi utilizada.
Indicadores de aprendizagem
1. Identifica as consequências sociodemográficas, materiais e económicas da 1.ª
Guerra Mundial?
164
(Alunos)
2. Explica de que forma o Tratado de Versalhes e a Sociedade das Nações contri-
buíram para uma nova ordem geopolítica.
Motivação Visionamento e análise de um excerto do filme “Mulher Maravilha”200, de 2017.
Conceitos
Paz precária; Inflação; Tratado de Versalhes; Diktat, Sociedade das Nações.
Aprendizagens
essenciais
Indicadores de
aprendizagem
Estratégias de
Aprendizagem Avaliação
1.
Identificar quais
foram as conse-
1.1. Visionamento e análise de um excerto do filme “Mulher Maravilha”,
de forma a que os alunos:
a) identifiquem algumas das consequências do conflito;
b) compreendam (a partir de uma personagem ficcional) a importância
200 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pJCgeOAKXyg&t=13s.
165
Analisar as al-
terações políti-
cas, sociais,
económicas e
geoestratégi-
cas decorren-
tes da rutura
que constituiu
a I
quências socio-
demográficas,
materiais e eco-
nómicas da 1.ª
Guerra Mundial.
2.
do papel da mulher neste conflito.
1.2. Leitura e análise de uma tabela, com o intuito de possibilitar aos
alunos o elaborarem conclusões sobre as perdas humanas causadas
pela 1.ª Guerra Mundial.
1.3. Análise de várias imagens para que os alunos concluam sobre:
a) sequelas físicas para os civis e militares;
b) os custos materiais;
c) as consequências sociais do conflito.
1.4. Exposição oral do professor (com base na informação presente no
Power-Point) para permitir aos alunos a identificação das consequências
económicas da guerra.
2.1. Análise de três mapas (presentes no Power-Point), para que os alu-
nos:
a) identifiquem as mudanças geopolíticas decorrentes da Conferência
de Paz e da assinatura do Tratado de Versalhes;
b) concluam sobre algumas das mudanças iriam estar, intrinsecamente,
• Participação oral (espontâ-nea e/ou diri-gida);
• Qualidade das intervenções;
166
Guerra Mun-
dial.
Explicar de que
forma contribuí-
ram o Tratado de
Versalhes e a
Sociedade das
Nações para o
surgimento de
uma nova ordem
geopolítica.
ligadas ao espoletar da 2.ª Guerra Mundial.
2.2. Análise de uma caricatura e visualização de um vídeo201 de forma
que os alunos:
a) identifiquem as principais decisões estipuladas no Tratado de Versa-
lhes;
b) justifiquem o facto do tratado ser considerado, pelos alemães, um
“diktat”.
2.3. O professor introduz a Sociedade das Nações com base na informa-
ção presente no Power-Point, de forma a levar os alunos a explicarem
os principais objetivos da criação desta organização internacional.
2.4. Análise de um documento iconográfico (caricatura sobre a ausência
dos EUA na SDN), para que os alunos infiram sobre as principais causas
do fracasso da Sociedade das Nações.
• Realização das atividades pro-postas ao longo da aula;
BIBLIOGRAFIA
DUROSELLE, Jean-Baptiste – História das Relações Internacionais. De 1919 a 1945. Texto & Grafia, 2013.
HOBSBAWM, Eric J. – A Era dos Extremos. História breve do século XX. Presença, 1996.
201 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM.
167
RÉMOND, René – Introdução à História do Nosso Tempo [...]. Gradiva, 2003.
ROBERTS, J.M. – História do Século XX. Editorial Teorema, 2007.
MANUAL ESCOLAR E OUTROS
DINIZ, Maria Emília.; TAVARES, Adérito; CALDEIRA, Arlindo M.; HENRIQUES, Raquel P. – História Nove. Lisboa: Raiz Editora, 2020. [Manual adotado].
Ministério da Educação e Ciência – Aprendizagens essenciais. 9.º ano – 3.º Ciclo do Ensino Básico. História. 2018. [S. l.: s. n.].
Ministério da Educação e Ciência – Organização curricular e programas – Ensino Básico: 3.º Ciclo. 1998. [S. l.: s. n.].
RECURSOS ÁUDIO E MULTIMÉDIA
Excerto do filme “Mulher Maravilha”, de 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pJCgeOAKXyg.
Vídeo sobre o Tratado de Versalhes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM .
Voltar ao texto principal.
168
Anexo 4 – Excertos da apresentação Power-Point referente à regência subordinada à 1.ª
Guerra Mundial/Mulher Maravilha
Voltar ao texto principal.
170
Anexo 5 – Apresentação Power-Point referente à intervenção alusiva ao Capitão América e ao
conceito de Eugenia Nazi
Voltar ao texto principal.
171
Anexo 6 – Respostas dos alunos à questão “Por que razão terão os criadores do Capitão Amé-
rica utilizado referências ao Nazismo na sua história?”
198
Anexo 7 – Apresentação Power-Point da Regência sobre a Guerra Fria através dos Super-Heróis
Voltar ao texto principal.
202
Anexo 9 – Critérios de Correção do trabalho proposto
A classificação final do trabalho resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um
dos seguintes parâmetros:
A) Componente científica – 50 pontos
• Contextualização histórica – 15 pontos;
• Mobilização de conhecimentos– 20 pontos;
• Utilização da terminologia específica da disciplina de História – 15 pontos;
B) Apresentação – 50 pontos
• Apresentação – 15 pontos;
• Pertinência do tema – 10 pontos;
• Narrativa – 25 pontos;
Critérios de correção do parâmetro A) Componente científica
Parâmetros
Níveis
Descritores de desempenho
Pontuação
6
Enquadra historicamente, de forma adequada e
completa, a personagem criada.
15
5
Nível intermédio.
12
203
Contextualização
histórica
4
Enquadra historicamente a personagem criada,
podendo apresentar falhas pontuais que não
comprometem a compreensão da contextualiza-
ção.
10
3
Nível intermédio.
8
2
Enquadra, de forma superficial, a personagem
criada, podendo apresentar anacronismos e erros
científicos que podem comprometer a compreen-
são da contextualização.
5
1
Enquadrada, de forma errada, a personagem cri-
ada.
2
6
Mobiliza, de forma adequada e sistemática, os
conhecimentos adquiridos em sala de aula ou
fora, sem apresentar qualquer tipo de erro.
20
5
Nível intermédio.
17
204
Mobilização de conhe-
cimentos
4 Mobiliza, de forma adequada e suficiente, os co-
nhecimentos adquiridos, podendo apresentar fa-
lhas que não comprometem a sua compreensão.
14
3
Nível intermédio.
10
2
Mobiliza, de forma superficial e insuficiente, os
conhecimentos adquiridos podendo, no entanto,
apresentar falhas que podem comprometer a sua
compreensão E/OU podendo apresentar erros
que não comprometem a sua compreensão.
6
1
Mobiliza, de forma errada e insuficiente, os co-
nhecimentos adquiridos, apresentando falhas
que comprometem a compreensão do texto E er-
ros científicos e anacronismos.
2
6
Utiliza, de forma adequada e sistemática, a ter-
minologia específica da disciplina, sem apresentar
qualquer tipo de erro na sua aplicação.
15
5
Nível intermédio.
12
205
Utilização da termino-
logia específica da dis-
ciplina de História
4
Utiliza a terminologia específica da disciplina de
forma adequada e suficiente, podendo apresen-
tar erros de aplicação que não comprometem a
sua compreensão.
10
3
Nível intermédio.
8
2
Utiliza, de forma superficial e insuficiente, a ter-
minologia específica da disciplina de História, po-
dendo apresentar erros na sua aplicação, que
comprometem a compreensão do texto.
5
1
Utiliza a terminologia específica da disciplina de
História de forma incorreta e insuficiente, apre-
sentando erros que comprometem a sua compre-
ensão.
3
Critérios de correção do parâmetro B) Apresentação
Parâmetros
Níveis
Descritores de desempenho
Pontuação
3
15
206
Apresentação
Apresenta, de forma criativa e cuidada, a perso-
nagem criada, podendo utilizar recursos para
além do Word.
2
Nível intermédio.
10
1
Apresenta, de forma pouco cuidada, a persona-
gem criada.
5
Pertinência do tema
2
O aluno escolhe um conteúdo que vai para além
dos principais temas abordados, focando-se num
tópico mais específico (ex.: sufragistas, bombas
atómicas, campos de concentração, …).
10
1
O aluno escolhe um tema que se foca apenas num
dos principais temas abordados (ex.: Guerras
Mundiais, Regimes Ditatoriais, …), abordando-o
de forma geral.
5
Constrói, de forma criativa, organizada e correta
do ponto de vista histórico, uma narrativa que
envolve a personagem criada.
207
Narrativa
8 Escreve um texto bem organizado, evidenciando
um bom domínio dos mecanismos de coesão tex-
tual.
25
7
Nível intermédio.
22
6
Constrói, de forma criativa e adequada, uma nar-
rativa que envolve a personagem criada, po-
dendo, no entanto, apresentar erros científicos
que não comprometem a compreensão do texto
redigido
Escreve um texto organizado, evidenciando um
domínio dos mecanismos de coesão textual, po-
dendo apresentar erros que não comprometem a
compreensão do texto.
18
5
Nível intermédio.
15
4
Constrói, de forma vaga e incompleta, uma nar-
rativa que envolve a personagem criada, apresen-
tando erros científicos que podem comprometer
a compreensão do seu texto.
12
208
Escreve um texto com uma organização pouco sa-
tisfatória, recorrendo a insuficientes mecanis-
mos de coesão ou mobilizando-os de forma ina-
dequada.
3
Nível intermédio.
10
2
Constrói, de forma incompleta e desinteressada,
uma narrativa que envolve a personagem criada,
apresentado erros científicos que comprometem
a compreensão.
Escreve um texto com uma organização insatisfa-
tória, recorrendo a insuficientes mecanismos de
coesão E/OU mobilizando-os de forma inade-
quada, compreendendo-se o texto construído.
8
1
Constrói, de forma muito incompleta e desinte-
ressada, uma narrativa que envolve a persona-
gem criada, apresentado erros científicos que
comprometem a compreensão.
Escreve um texto com uma organização muito in-
satisfatória, recorrendo a insuficientes mecanis-
mos de coesão E/OU mobilizando-os de forma
inadequada.
5
Voltar ao texto principal.
209
Anexo 10 – Trabalhos entregues: turma 9.º Marvel
Trabalho realizado por Pérola
Super-heroína A heroína que eu crie chama-se Pérola e eu escolhi este nome uma vez que apesar de ser delicado representa ao mesmo tempo a “força”, devido a resistência e durabilidade deste material orgânico. O tema de 9º ano que me inspirei para criar esta lutadora foi nas “Sufragettes”, que eram os membros de uma organização que tinha como objetivo estender o direito de voto para as mulheres. Durante o período de luta pelo direito feminino, estas poderosas e destemidas raparigas partiram janelas, queimaram coisas e tentaram invadir o parlamento visto que, as guerras, eram a única maneira de os homens lhes darem ouvidos. Esta batalha feita por elas foi muito importante uma vez que foram maltratadas, apedrejadas nas ruas e abusadas sexualmente de modo a que, todas as raparigas de hoje em dia tivessem o direito de votar! Por isso, a Pérola foi criada com objetivo de honrar e glorificar todas estas poderosas lutadoras que não ficaram caladas e nunca desistiram do seu sonho e direito até o conseguirem alcançar! O poder da minha super-heroína é criar uma barreira protetora de modo a que, quando estas mulheres saíssem a rua, ficassem protegidas de qualquer maldade que lhes quisessem fazer. Através do seu olhar, também conseguia hipnotizar uma pessoa com intuito de que esta fizesse o que ela lhe mandasse. O que ajudou muito as sufragettes naquela época!
211
Trabalho realizado por Super Fascista
Trabalho de História: O Mundo precisa de super-heróis.
O nome da personagem que eu desenhei é o Super-
Fascista. A personagem relaciona-se ao fascismo que
demos ao longo das aulas. Algumas referências que eu
pus foi o símbolo da Mocidade Portuguesa, a suástica, o
chapéu de Mussolini, o Fasces e a caneta azul da censura.
A minha personagem seria um herói para os fascistas,
pois incentivaria todos os jovens e crianças do mundo a
tornarem-se fascistas, pois mostra as características dos
principais líderes fascistas, e combatendo os opositores
ao regime.
212
Trabalho realizado por Nicole Argent
Super-heróis
Nome do super-herói: Heroína da justiça Nome da pessoa: Nicole Argent Nacionalidade: Francesa
Nicole desde pequena adorava o seu arco e flecha e era muito boa com ele. Também já desde essa altura sonhava em salvar o mundo e acabar com as injustiças. Em 1936 ela tinha 23 anos e partiu de França para a Guerra civil Espanhola nas brigadas internacionais, porém ela só foi acompanhar o marido e a sua função na guerra era apenas tentar corar os doentes. No entanto, um certo dia ouviu um cientista espanhol a dizer que tinha criado uma poção que hipnotizava as pessoas e assim elas faziam o que ele quisesse. Mas o homem não a pretendia usar, mas sim encontrar alguém para ir em missões usufruindo desta para espalhar o bem no mundo. Nicole, depois de muito o observar e perceber que este era realmente bom, ofereceu-se para o trabalho, e sugeriu colocar a poção na ponta das suas flechas. O homem, após ver a sua habilidade com o instrumento, aceitou. Ela lutou então na guerra ajudando bastante os liberais. Utilizou a poção também para combater muitas injustiças, por exemplo, fez com que muita gente não fosse para campos de concentração. A partir desse dia Nicole ficou conhecido como a heroína da justiça.
Inspiração: Eu inspirei-me nas brigadas internacionais para criar o super-herói porque acho que cada pessoa que pertencia a estas, vindo lutar num pais que não é seu e sem ninguém ter pedido, só para apoiar o “bem”, é sem dúvida um super-herói. Escolhi a sua nacionalidade como francesa só porque foi um dos principais países com pessoas das brigadas internacionais.
214
Trabalho realizado por Clona Donna
"O Mundo precisa de super-heróis"
Nome: Clona Donna aka Giovanna Vega Moretti
Background de criação: A tomada do poder por Mussolini, 1922
Quem te inspirou: Eu própria
1- De que forma a tua personagem iria desempenhar um papel,
ou função, no contexto em que criaste?
A minha personagem iria impedir a subida ao poder por Benito
Mussolini, durante a Marcha sobre Roma. Giovanna trabalhava como
secretária de Mussolini, mas vist o que era uma mulher, ningu ém
suspeitava que ela o tra ísse ou tivesse qualquer aptid ão para o
derrotar. Durante a marcha, Moretti usou várias armas e o seu poder
de se clonar, para confundir as tropas do inimigo.
Este seu super -poder levou os italianos a chamarem-lhe Clonna
Donna, nome que depois se espalhou pelo mundo. Infelizmente
Benito Mussolini voltou a atacar, alguns anos mais tarde,
estabelecendo o seu puder sobre It ália. Embora Clona Donna n ão
tenha conseguido proteger completamente It ália de Musso lini, ela
conseguiu adiar alguns anos a tragédia do Fascismo.
215
Trabalho realizado por Tança Uchila
Nome da personagem - Tança Uchiha
Background de criação – A minha personagem vai estar no universo de
Boruto, mas eu para o trabalho vou só falar de Naruto. Então, o nome da
minha personagem é Tança Uchiha, sendo assim do mesmo clã que o
sobrenome, e sendo também prima de Sarada. O mais recente namorado é
Shikadai Nara sendo eles todos chunin. Ela vai se tornar Hokage e tentar
impedir que existam mais guerras entre as vilas e inimigos de fora (é alusivo
aos temas sobre a I Guerra Mundial e II Guerra Mundial que demos em
aula).
Base de inspiração – Baseei-me num desenho que já tinha feito á alguns
anos atrás e no anime “Naruto”, uma vez que a personagem que criei
deverá simbolizar-me nesse universo. Pretendo espelhar algumas
personagens desta animação quanto ás suas características e frases
históricas, por exemplo:
Naruto - “Eu nunca volto atrás na minha palavra… esse é meu jeito ninja!”
(esta personagem tem várias frases marcantes ao longo do anime, mas esta
é a que mais me marcou ajudando-me a nunca desistir, a ser perseverante
e a nunca quebrar uma promessa feita a alguém).
Shikamaru – Evidencia que a inteligência é uma arma bem maior que força,
como demonstrou pelo ganho de batalhas sem necessidade de a usar.
Itachi - Este personagem foi considerado um vilão mas lá no fundo, sempre
foi um herói, apenas ninguém sabia o seu lado da história. Embora odiado,
não sabiam qual o intuito das suas loucas ações (morte do clã), o que evitou
uma possível Guerra Ninja (em analogia a uma Guerra Mundial).
Shisui – “Pra impedir a guerra é preciso sacrifício.”. (Este também se
empenhou para que não houvesse uma Guerra Ninja. Em vez de matar o
seu clã decidiu coloca-los num Justu de Ilusão. Não o conseguindo fazer,
pois Danzou (uma pessoa pertencente ao clã Shimura, que começou esta
possível guerra) roubou seu sharingan logo ele já não conseguiria usar o seu
“poder”.).
Hashirama – “O nosso trabalho é dar o nosso melhor enquanto estamos
vivos. E deixar que as futuras gerações terminem o que começamos.”. (Ele
nasceu e viveu durante a guerra então fez de tudo para que n houvesse
outra. Deixando o resto para os próximos Hokages (possível analogia ao
Presidente).
216
Rock Lee – “Com trabalho duro um fracassado consegue até superar um
génio.”. (Este personagem era considerado fraco, pois não conseguia usar
ninjutsu nem genjutsu. Mas, ele treinou muito para se puder superar a si
mesmo e aos outros.). Tendo outra frase marcante ao longo do anime “O
trabalho duro vence o talento natural.” (Mesmo que não sejas ninguém
importante, o que tens fazer é dar o teu melhor para que um dia possas
brilhar á frente daqueles que te diziam que não conseguirias nada.).
Sasuke – “Se você foi derrotado então você ainda não perdeu. Você só é um
perdedor quando desiste do que é seu” (Temos de lutar até ao fim, sem
nunca desistir, mesmo que isso implique mortes ou coisas piores, pois como
Madara Uchiha uma vez disse “Para salvar alguma coisa, você tem de
sacrificar alguma coisa.”).
1.De que forma a tua personagem iria desempenhar um papel (ou função)
no contexto em que o criaste?
R:. O objetivo dela seria virar Hokage, para poder impedir guerras e a
entrada e ataque de possíveis inimigos na vila. Logo o papel dela vai ser
muito importante, pois já algumas pessoas no decorrer do anime o
tentaram fazer. Então, ela aprenderá com o que os outros fizeram para não
cometer os mesmos erros e usá-los para tornar a vila mais forte.
217
Trabalho realizado por #7Marvel (Josef Stalin)
Escolhi Josef Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (1922-1953), pois
através dos seus ideais revolucionários, realizou inúmeras astrocidades. O que o fez a ser visto como
um monstro para muitas pessoas até aos dias de hoje.
Foi um ditador, ideologicamente ligado à interpretação marxista e leninista. Grande parte das suas
ações foram efetuadas por meio de roubos, sequestros e redes de poteção.
Por fim, entre diversos fatores, Stalin foi um dos maiores vilões da história, por isso a minha escolha
para este trabalho.
219
Trabalho realizado por Warfath
O meu super-herói chama se Warfath. Ele foi um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial e morreu nas trincheiras. Nesse mesmo dia, enquanto todos pensavam que ele estava morto ele ressuscitou com poderes e asas. Com o seu espirito corajoso ele utilizou esses poderes para salvar as pessoas e o mundo dos horrores ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazis tornando se numa das razoes pela qual a guerra não durou mais tempo. O meu super-herói que criei foi inspirado nos soldados que combateram nas guerras, os verdadeiros heróis.
Voltar ao texto principal.
222
1. De que forma a tua personagem
iria desempenhar um papel (ou
função) no contexto em que o
criaste?
A minha personagem seria uma soldada da segunda guerra
mundial, iria lutar pela sua pátria e ser sua defensora. Tayslani
sabia que poderia nem voltar da guerra, mas a sua prioridade era
tentar acabar com ela o mais rápido possível apesar de que as
suas ações pudessem também levar a perdas humanas. Era
inevitável não haverem essas perdas devido a situação em que ela
vivia.
223
Trabalho realizado por Capitão Esperança
1. De que forma a tua personagem iria desempenhar um papel (ou função) no contexto
em que o criaste?
A minha personagem relata em herói que transmite esperança e proteção, fazer o bem
e ajudar os mais fracos. Imagino a minha personagem como um super herói simpático
e que serve a humanidade com os seus super poderes. O meu herói vai ao encontro
dos meus desejos e, por isso, se torna uma inspiração para mim.
225
Trabalho realizado por Capitão Repressão
Trabalho realizado por Infante Tomás
Capitão repressão
O capitão repressão também conchecido por senhor tortura, era
conhecido na altura do estado novo porque era o criador da PIDE e Braço
direito de António de oliveira Salazar.
O capitão repressão era venerado por algumas pessoas porque tinha
invetado táticas de tortura que foram revolucionárias para o seu tempo como o
soro da verdade.
A inspiração do Capitão repressão foi Josef Mengele, támbem conhecido
por “ Anjo da morte “, era médico no campo de concentração de Auchwitz,
onde realizou várias experiências loucas.
1.O capitão repressão era muito importante no controlo do regime, para
controlar e impedir a difusão de ideias contrárias ao regime.
Nome da personagem – Infante Tomás
Inspiração – Infante D. Henrique
Questões cabais:
1. A minha personagem iria fazer a
igualdade em toda a população,
não descriminar ninguém, acabar
com o racismo.
226
Trabalho realizado por Capitão Bomba
“O Mundo precisa de Super-Heróis”
Personagem: O Capitão-Bomba. Um super-herói que viveu
durante sessenta anos sendo o seu objetivo a desativação das
bombas atómicas do fim da Segunda Guerra Mundial, e proteger
a população japonesa.
O seu poder foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ele era
imune a bombas/explosões e prometeu desde criança que
quando tivesse de agir agia, desativando todas as bombas que
conseguisse.
Inspiração: Esta personagem foi inspirada na destruição das
cidades japonesas, Nagazaki e Hiroshima pelas bombas atómicas.
Desempenho na Sociedade: O seu papel na sociedade era
desativar as bombas atómicas enviadas às cidades de Hiroshima e
Nagazaki para proteger a população civil japonesa. Para além
disso ele tentaria terminar a Segunda Guerra Mundial sem a
destruição do Japão, fazendo com que os japoneses se rendessem
antes do ataque dos Estados Unidos.
227
Trabalho realizado por Herói do Holocausto
Super-Herói histórico
Aristides de Sousa Mendes
Herói do Holocausto
No âmbito da disciplina de história, no estudo do tema, a 2º Guerra Mundial e a
perseguição e tentativa de extermínio feita pelos Nazis ao Judeus, visualizei o filme “O
Pianista”. O filme fez-me pensar que o mundo precisa de Super-Heróis para “salvar” as
pessoas da crueldade e do terror de ideologias extremistas perigosas, como foi o caso
do Nazismo Hitleriano.
Ocorreu-me assim, criar um Super-Herói que pudesse salvar os Judeus desse
acontecimento terrível, que foi o Holocausto. Foi então que descobri que houve um
Português “real” que foi um verdadeiro Super-Herói neste momento tão trágico da
Humanidade, que, com grande coragem e determinação, foi capaz de fazer a diferença
para muitos Judeus e muitas famílias perseguidas, ajudando-as a fugir. Exercendo a
função de Cônsul Português em Bordéus, contrariou as ordens de Salazar e sacrificou a
sua vida pessoal e familiar, concedendo vistos e albergando na sua casa, quer em
Bordéus, quer na sua terra natal, em Cabanas de Viriato, em Portugal, muitos
refugiados.
Julga-se que terá concedido cerca de 30 mil vistos a Judeus que lhes permitiram escapar
ao extermínio Nazi, entre eles, a título de curiosidade, o de Salvador Dalí e sua esposa.
Nome: Aristides de Sousa Mendes
Super-Herói: Herói do Holocausto
Data e local de nascimento: 19 de julho
de 1885|Cabanas de Viriato| Portugal
Data e local de falecimento: 3 de abril de
1954, em Lisboa
Profissão: Diplomata (Cônsul em Bordéus
na 2ªGM)
Superpoder: Humanismo e Coragem
Arma: Concessão de vistos| Generosidade
Voltar ao texto principal.
228
Trabalho realizado por Lady Lilith
Nome: Lady Lilith
Tempo e Espaço: Século XX em Inglaterra no universo de Meheri
“A minha personagem é uma mulher duma classe social elevada. O seu
pai era um homen importante então ela tinha muitas propostas de
casamento que acabava por recusar até que aparece uma proposta
inesperada de um princepe , ela vai para o castelo para conhecer Sir
Thomas, o princepe aparenta ser normal mas após alguns meses ela
descobre que ele só quer poder sobre o submundo então no baile anual de
mácaras, Lilith usa a sua Athame ( faca de rituais ) para apunhalar o seu
princepe e usa seu sangue para libertar as almas perdidas de suas antigas
esposas que ele apresionava em seu anel de prata. A partir desse momento
Lilith vira rainha do submundo e vive no castelho com as almas de suas
novas amigas e jura protejer os seus amados subditos. “
230
Trabalho realizado por Pacificador das Nações
O Pacificador das Nações
O Pacificador das Nações era um contingente da ONU
que, após ter salvo milhares de pessoas de um furacão
numa missão humanitária para que foi destacado, foi
reconhecido pelo seu trabalho meritório. Como tal, foram-
lhe atribuídos superpoderes, fazendo dele o super-herói da
ONU, que zela pela paz no mundo, pela igualdade de
direitos e pela luta contra as alterações climáticas.
Ele nasceu pouco antes da 1ª Guerra Mundial, logo viveu
uma vida marcada pela guerra e pela crise. Por isso,
inscreveu-se na ONU aquando da sua formação em 1945,
de modo a que mais ninguém tivesse de morrer devido a
conflitos inúteis.
Este super-herói foi inspirado por todos os militares das
Nações Unidas que intervêm em situações de conflito ou
em missões humanitárias por todo mundo para ajudarem as
pessoas e preservarem a paz.
O Pacificador das Nações está vestido como um “capacete
azul”, porque é um militar da ONU.
Os seus poderes são a super-força (que representa a valentia
e a determinação), a capacidade de voar (que representa a
liberdade) e a capacidade de curar as pessoas (símbolo da
compaixão) que ele usa para ajudar pessoas por todo o
mundo.
Questões cabais
1
O Pacificador das Nações iria desempenhar uma função
importante no contexto em que foi criado pois iria ajudar
as pessoas que tivessem sido vítimas de desastres naturais,
conflitos bélicos,… e preservaria a paz entre as Nações.
Seria também um ativista que luta contra as alterações
climáticas e contra a poluição e um defensor da igualdade
de direitos e da Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948) inspirada na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789) criada durante a Revolução
Francesa.
233
Trabalho realizado por Evert Spoon
EVERT SPOON
Era uma vez um rapaz que viveu no tempo entre 1930-1950 , o rapaz era vindo
de uma Familia Judaica e vivia no centro da cidade de Amsterdam nos Paises Baixos. Em
1933 tinha chegado ao comando do império Alemao , Adolf Hitler , onde foi designado
para servir de politico alemão para liderar o Partido Nazista. Evert Spoon (nome do rapaz judeu), na tomada de posse de Führer, tentaram
fugir de país para não serem apanhados , mas na interrogação sobre onde andavam
escondidos os judeus , la foram encontrados , mas o pequeno Evert consegui-se escon-
der dentro de um bau que tinha na casa , e enquanto estava la escondido viu seus pais
serem levados para os campos de concentração onde iriam ser levados para diferentes
para os separar , Jorni Spoon (Mae) foi levada para o campo de concentração de Ravens-
brück situado na Alemanha e seu pai Bryn Spoon foi levado para o campo de concentra-
ção de Auschwitz situado na Polónia.
Durante o tempo fechado nessa casa sem poder fazer barulho para não ser en-
contrado e para se tentar desenvolver tendo só ainda 8 anos, pegou numa câmera que
o seu pai tinha la em casa e foi gravando os horrores que via pela sua cidade á frente
dos seus olhos a serem concretizados pela Gestapo aos “terríveis”judeus e aos deficien-
tes encontrados e políticos que se opunham , começou a fazer uma especia de docu-
mentário onde todos os dias ia relatando as coisas que viria a acontecer diante de si.
Foi inspirado por uma rapariga da cidade de Amsterdam que também se tinha
escondido da Gestapo e como eram vizinhos, ele ia para tras da casa e ficavam a falar e
ela também ajudava a tomar conta dele visto q ela já tinha 16 anos e ele so 8 , numa
tarde o pequeno Evert foi já janela esperando sua amiga quando se deparou visto pela
janela de sua casa que a porta da casa dela estava arrombada e que ela já não se encon-
trava la , começou a chorar e voltou para dentro da arrecadação e ficou chorando a
perda de sua amiga , com isso ele começou a pensar no que ela lhe disse, que andava a
escrever um diário sobre os acontecimentos que lhe passava o dia todo e ele decidiu
entrar na casa dela com cuidado para que nada nem ninguém o visse , e foi a procura
desse tal Diario.
Atrás de uma estante secreta encontrou um esconderijo (onde Anne se escondia
) e encontrou la o seu diário , e antes de ler decidiu ler mas enquanto relatava com
imagens e vídeos, e la foi ele. Com o tempo a passar deparou se que tinha passado já 2
anos desde que sua amiga foi apanhada e 4 anos desde que seus pais foram capturados
, e quando em 1945 a Gestapo começou a acalmar e a deixar os Paises Baixos em paz ,
pois as forcas soviéticas atacaram no ano de 1945 levando Hitler a destituir-se do poder.
234
Quando finalmente, acabaram as guerras e o nazismo , ele foi a procura dos pais mas já
não estavam la pois segundo colegas deles dos campos eles foram levados para as câ-
meras de gás postas nos campos onde eles habitavam.
Entretanto com o tempo já em 1955 Evert decidiu publicar o seu documentário
com a ajuda de editoras mundialmente reconhecidas para o seu documentário ficar co-
nhecido e abrir os olhos de muitos alemaos hipnotizados por Führer para que eles vis-
sem os horrores que se passavam, e no final do seu documentário pos uma coisa que
ninguém esperava , que o que as pessoas pensavam foi que ele fosse por em homena-
gem aos seus pais que foram levados diante os seus olhos e os acontecimentos que ele
passou durante esse tempo, mas ele pos um texto a dizer ( Cara Anne Frank, ....).
1. De que forma a tua personagem iria desempenhar um papel (ou função) no contexto em
que o criaste?
O papel que o desegna é que como um rapazinho novinho que era consegui se aperceber do
que se estava a passar de uma maneira muito forte e que o documentou para todos os outros
verem o terror e horror que so se passava nas ruas porque ele nem tinha acesso aos campos
de concentração mas so nas ruas o que via já era um horror tremendo que so de pensar nos
campos de concentração devia ser horrível , e também demostra a maneira de que no meio
desta ditadura enorme o pequeno consegui fazer uma amizade enorme e que se tornou muito
amiga de uma rapariga quase sobrevivente ao holocausto.
237
Trabalho Realizado por Shadow Soldier
Super-heroína
Nome da personagem: Shadow Soldier
Background da criação: II Guerra Mundial (campos de concentração)
➢ Os campos de concentração nazistas foram construções desenvolvidas durante
a Alemanha nazista. Eles eram conhecidos por aprisionar e promover o
extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Quem me inspirou: as pessoas que ajudavam a esconderem por exemplo, judeus, nas
suas casas para eles não serem enviados para os campos de concentração
Cores utilizadas e armas/superpoder: Ela tem o cabelo castanho para conseguir
infiltrar-se na sociedade, embora as pontas do seu cabelo sejam verdes, já que os seus
olhos castanhos ficam um verde vibrante quando ela está a criar um portal.
Normalmente, os portais dela também são em tons de verde, porque esta cor está
ligada à esperança e à liberdade.
É isso que a minha heroína quer transmitir às pessoas que salva, esperança que elas
podem escapar dos nazis ao usarem os portais dela que as podem transportar para
qualquer sítio que a minha personagem desejar.
1. A minha personagem consegue criar portais que podem transportar qualquer
pessoa que passasse por eles para qualquer lugar que a minha heroína
quisesse. Com este super poder, a Shadow Soldier iria entrar nos campos de
concentração por um dos seus portais e tentar salvar o máximo de pessoas que
conseguisse. As pessoas presas nos campos de concentração só tinham de
atravessar um portal que ela criasse e estariam a salvo das torturas que tinham
que aguentar lá.
238
Trabalho realizado por Blitz
Criei um vilão chamado Blitz, que traduzido do alemão significa “relâmpago”, o que acho que se
identifica com o tema no qual me inspirei “The Wall Street Crash”, que aconteceu no dia 29 de outubro
de 1929, de noite para o dia, literalmente. E por causa disto o nome Blitz, porque um relâmpago cai
em milésimas de segundo, e esta tragédia económica da história também ocorreu “num abrir e fechar
de olhos”. Ele tem uns óculos de espiral devido ao facto de ser um hipnotizador, cuja função na história
foi hipnotizar os habitantes de Manhattan a irem todos ao mesmo tempo fazer empréstimos ao banco,
o que depois foi uma das principais causas da falência dos bancos.
No background, desenhei notas de zero dólares à volta do nome dele, que também podem ser lidas
como SOS, porque na altura todos tinham ficado sem dinheiro, e estavam sempre a pedir ajuda, mas
não havia ninguém que os pudesse socorrer, afinal, todos tinham sofrido graves consequências. Um
pouco mais abaixo desenhei um jornal de “The New York Times” a dar as notícias, ao longo do dia 29,
que o pânico dominava Wall Street, causado pela quebra das ações.
Do outro lado, está um arranha céus, com uma multidão no telhado, a causar uma confusão ainda
maior. E, por fim, desenhei um ex milionário a cometer suicídio, ao saltar do topo desse mesmo
arranha céus e a gritar “Where’s my moneyyy”, durante aquele tempo foram muito comuns os
suicídios de milionários, porque, acima de todos, perderam imenso dinheiro, e, para muitos deles, o
dinheiro era tudo, era a razão de eles viverem.
Voltar ao texto principal.
239
Anexo 11 – Trabalhos entregues: turma 9.º D.C.
Trabalho realizado por Sniper Desconhecido
Já íamos em dezembro de 1936 ,a guerra civil Espanhola já tinha começado á 5 meses.
A população, com um pior armamento, tentava arranjar ideas para conseguir segurar os
nacionalistas,que infelizmente estavam muito bem armados.
Não haviam ideias do lado republicano e sabiam que iria ser muito difícil de lidar com o lado
nacionalista.
Já a meio do mês de dezembro , o lado republicano fazia reuniões para arranjar ideas de combater
de maneira mais eficaz. No meio de discussões e ideias um homem alto e musculado entra na sala
de repente. Era um homem com quase 1.90 metros ,muito alto para aquele tempo,vinha com uma
cara fechada e com um ar agressivo, trazia umas botas pretas,umas calças escuras , uma camisa
verde escura e na mão uma mochila.
Sem dizer nada ,este desconhecido pega na mochila e atira a mochila para cima da mesa onde
estavam todos sentados.
Uma das pessoas sentadas pergunta:
-O que traz nesta mochila,algo para comer?
O homem de camisa verde escura responde:
-Nada disso ,cale-se! Trago aqui a minha ideia!
-Ideia, você só pode ser maluco!Explique lá!- Ordena um dos homens da Mesa
Sem dizer nada o homem de metro e noventa tira da mochila uma M1903(um rifle) e põe o rifle na
mesa.
Do fundo da sala ouve-se:
Mas este camponês sabe lá usar isto!
-Não diga o que não sabe! Sabe uma coisa,pegue numa uva e atire ao ar.
O homem atira várias uvas e o rapaz de camisa verde escura acerta com tiros em todas as uvas.
-Afinal estava errado.-afirma o homem com um ar assustado.
Ao mesmo tempo toda a gente pergunta:
-DIGA A SUA IDEIA!!
E o homem de cara fechada conta a sua ideia e o seu plano para atrasar os nacionalista. Está ideia
consistia em por muitos homens armados num edifício para atrair os nacionalistas e o homem alto
do topo do prédio com o seu rifle ir matando os soldados.
Dia 27 de dezembro esta ideia é realizada.
240
Em pleno centro de Madrid cerca de uma centena de republicanos armados foram para um edifício que
chamou á atenção os nacionalistas.
O sniper nesse dia conseguiu abater 4 centenas de nacionalistas e 3 caças.
Esta tática foi usada por vários anos e os republicanos iam ganhando muita força até que na última
semana de novembro de 1938 este sniper abate um bombardeio e o bombardeio, infelizmente, caiu no
edifício onde estava o nosso herói.
Infelizmente os nacionalistas ganharam ,mas com muita dificuldade e ainda nos dias de hoje muitos
veteranos relembram este tão corajoso herói.
E acabou assim a vida de um homem desconhecido que ajudou milhares de pessoas com dificuldades e
sem receber nada. Este rapaz foi e é uma inspiração para muitos
Voltar ao texto principal.
241
Trabalho realizado por Estrela Vermelha
A Alemanha exigiu que a Polônia devolvesse a zona
denominada “corredor polaco” e o porto de Danzig, uma vez
que estes haviam sido perdidos durante a Primeira Guerra
Mundial. Como os polacos se negavam a fazê-lo, Hitler
marchou sobre o país. A 1 de setembro de 1939 o exército
alemão invadiu a Polónia, iniciando assim a Segunda Guerra
Mundial. Dois dias depois, em 3 de setembro, Inglaterra e
França declararam guerra à Alemanha.
O episódio das bombas atômicas lançadas sobre o território
japonês, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de
1945, revelou ao mundo até que ponto o homem é capaz de
semear a destruição e causou várias mortes.
Mas o que aconteceria se alguém arranjasse a solução para
acabar com uma das armas que mais destruição causou
durante esses seis anos? Foi exatamente por essa razão que
eu criei a Estrela Vermelha. Uma super heroína que tem a
habilidade de destruição.
A sua habilidade consiste na capacidade de destruir qualquer
organismo ou objeto, independentemente do material que
seja feito, transmormando este apenas em pó.
Foi lhe dado este nome pela estrela vermelha de cinco pontas que tem ao peito, que
representa os cinco continentes , bem como os cinco dedos das mãos de todos os que
não morreram graças á Estrela Vermelha.
A Estrela Vermelha tem a aparência de um humano, mas por dentro é apenas metal e
fios, controlada por inteligência arteficial. Eu criei-a com o objetivo de destruir as
bombas atómicas que iriam em breve atacar as cidade de Hiroshima e Nagasaki,
impedindo milhares de mortes.
Depois de árduos meses de trabalho consegui criar um protótipo, que embora
conseguisse salvar as várias pessoas do bombardeio, não conseguia fazer com que este
protótipo impedisse que as bombas caíssem. Depois de cerca de um ano, finalmente
tinha concluido o meu projeto. Ele era capaz de destruir as bombas antes que elas
atingissem as cidades e matassem milhares de pessoas, e passava também despercebido
no meio das outras pessoas. O nome “Estrela Vermelha” foi uma ideia do meu irmão,
uma vez que este projeto deveria representar as pessoas que iria salvar.
Foi desta forma que as mortes que era suposto o bombardeio das cidade de
Hiroshima e Nagasaki causarem, não existiram.
242
Trabalho realizado por Strong Girl
STRONG-GIRL
A 26 de Agosto de 1882, em França, nasceu Louise Smith uma menina saudável
e aparentemente normal! Desde pequena sempre quis ser médica devido ao ser amor
por ajudar e salvar os outros. Aos 15 anos, em 1987, começou a agir de maneira
diferente e perceber que se calhar não era assim tão normal como a família, os amigos
e ela pensava. Ela tentou mover um objeto com a mente e, contrariando qualquer
pensamento, ela conseguiu! Ninguém acreditou nela… Como é que uma simples menina
francesa e de classe baixa conseguia mover objetos com a mente? Parece estranho, mas
uns anos mais tarde, dia 28 de julho de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, um
acontecimento que veio provar que a menina não era tão simples assim! Nesta guerra
mais de 9 milhões de combatentes foram mortos e foi um dos
conflitos mais mortal da história da humanidade. Esta com o seu
desejo de ajudar e salvar os outros decidiu ir para a guerra como
apoio médico! A 7 de outubro de 1914, quando viu um militar
prestes a morrer no campo de batalha pensou como seria se
movesse aquele homem para junto de si e o conseguisse salvar. O
mais estranho foi que ela conseguiu e depois de muito esforço conseguiu salvar aquele
homem. Tentou novamente mover algo, só que desta vez foi uma granada que ia em
direção a uma trincheira… Pode parecer mentira ou sorte, mas esta foi sucedida e assim
descobriu que tinha um poder intitulado de telecinesia, este consiste na habilidade de
mover objetos e pessoas com a mente! Esta capacidade tornou-a única e uma
verdadeira heroína no campo de batalha. Após o final da Primeira Guerra Mundial, dia
11 de novembro de 1918, Louise ainda conseguiu salvar muitos homens que se
encontravam às portas da morte no campo de batalha. Enquanto os outros militares
desistiram deles, Louise nunca deixou de acreditar que os podia salvar e com este
pensamento salvou centenas de homens! O nome Louise significa "combatente
gloriosa", "guerreira famosa" ou ainda "famosa na guerra" e podemos afirmar que esta
mulher foi uma heroína nesta guerra e, principalmente, uma guerreira, porque nunca
desistiu de ajudar o próximo! Há diversos adjetivos para descrever Louise,
mas o melhor é “poderosa”, porque há poder na bondade e esta mulher
nunca desistiu, tornando-se assim uma mulher/super-herói forte e com
muito poder, porque foi bondosa. Daí o seu nome de super-herói ser
Strong-Girl!
243
Trabalho realizado por Sargento Inglaterra
Trabalho realizado por Adversarius
“Os super-heróis”
Já todos sabemos a relação entre a Mulher Maravilha e a 1ª Guerra
Mundial, mas e se eu vos contasse que ela não é a única super-
heroína que está relacionada com este assunto?
Por mais estranho que pareça é verdade, e o nome do super-herói
que vamos falar chama-se Sargento Inglaterra. Como todos sabemos,
Inglaterra foi um dos países que esteve presente na Primeira Guerra
Mundial e que, mais tarde, ajudou Portugal a preparar-se para entrar
na guerra. Sargento Inglaterra foi um dos militares ingleses que
treinou os militares portuguesas, mas o que é que o diferenciava dos
outros? Ele tinha superpoderes, entre eles, a supervelocidade,
camuflagem e manipulação mental. Este depois acabou por ser
mandado para a guerra com os seus aliados portugueses, sobreviveu
para a guerra e dedicou o resto da sua vida ao exército inglês.
Uniforme:
Farda de um militar britânico na 1ª Guerra Mundial, porém este
trazia sempre consigo a bandeira de Inglaterra presa na metralhadora.
ADVERSARIUS
Adversarius é uma super-heroína que, no tempo de Salazar, foi opositora do regime. Era mulher, e o seu trabalho era ficar em casa com as suas duas filhas. Logo desde que Salazar começou a trabalhar como ministro das finanças e começou a diminuir as importações do país, Adversarius suspeitava dele. Quando ela percebeu que ele estava a manipular e a prender as pessoas, decidiu agir. Após reunir um grupo de opositores do regime, decidiu criar o Movimento Opositor. Isto era uma associação que consistia em reunir toda a informação possível sobre o regime, e, discretamente, persuadir os apoiantes do regime a tornarem-se contra. Visto que o seu marido era Salazarista, Adversarius tinha de agir à noite. Ela e o seu grupo conseguiram “converter” mais de 10.000 pessoas, usando apenas factos encontrados, de modo a expôr o regime. O Movimento Opositor nunca foi descoberto, e conseguiu libertar diversas pessoas da prisão. Quando o regime caiu, Adversarius foi considerada uma super-heroína por ajudar milhares de pessoas de todo o país! Decidi abordar o tema do Estado Novo através desta personagem porque, para além das mulheres serem subvalorizadas naquela época, eram consideradas fracas e incompetentes. Esta personagem, para lá de representar o regime militar de Salazar, representa também as Sufragistas e todas as mulheres que lutaram por algo ao longo da história, tendo ou não sido reconhecidas pelos seus feitos posteriormente.
Voltar ao texto principal.
260
Anexo 12 – Opiniões dos alunos da turma 9.º Marvel sobre o trabalho proposto
Super-Fascista Gostei desta tarefa pois acho que realmente fez-nos pensar e mos-
trar a nossa criatividade face a temas abordados em história.
Clona Donna Apreciei a tarefa e achei-a criativa e produtiva para desenvolver o
meu conhecimento histórico, pois tive que relembrar o vestuário fe-
minino dos anos 20 e procurar inspiração para a história de Giova-
nna Moretti. Também considero esta tarefa inovadora visto que
nunca me tinham solicitado algo parecido.
Tança Uchila Foi produtiva para o desenvolvimento e aprofundar do meu conhe-
cimento histórico, porque me permitiu compreender certos factos e
eventos da vida real, em analogia a situações retratadas na ação de-
corrente do anime.
Warfath Esta atividade não foi só divertida como também me ajudou a pen-
sar de uma maneira mais criativa e como foi também uma atividade
que considero produtiva pois ajudou me a aprofundar a matéria que
tinha sido lecionada em sala de aula.
Tayslani Esta tarefa fez me estudar mais a cerca da segunda guerra mundial e
aprofundar as minhas noções, fundamentos, bases e informações.
Para alem disso foi um trabalho em que tive bastante liberdade e es-
timulei a minha imaginação e criatividade
Capitão Esperança Achei uma tarefa bastante interessante e divertida.
Foi produtiva no que se refere à minha pesquisa e imaginação para a
construção do meu herói.
Capitão Repressão Na minha opinião a tarefa não foi muito produtiva, no entanto, foi
muito produtiva e gostei de a realizar.
Infante Tomás Achei esta tarefa muito boa para desenvolver a nossa criatividade.
Capitão Bomba Eu considero que esta tarefa foi produtiva, porque me levou a ter
um bom pensamento desenvolvendo assim a minha criatividade.
Pacificador das Nações Na minha opinião, esta foi uma atividade bastante divertida e fora
do vulgar que me ajudou a aprofundar o meu conhecimento histó-
rico através da pesquisa que tive de realizar e da criatividade que foi
necessária para o trabalho, por isso acho que deveríamos fazer mais
atividades deste tipo.
Super Stalin Eu gostei muito da realização deste trabalho, não só por ter dado
asas à minha imaginação e ter ajudado na parte da criatividade,
como também me ajudou a ver com outro ponto de vista este ho-
mem.
261
Capitão Davi Gostei muito da realização deste trabalho. Para além de ser um tra-
balho onde precisei de usar a minha criatividade, fez-me pensar so-
bre tudo o que já aprendemos na disciplina de história e também so-
bre quando é que na história o mundo verdadeiramente precisava
de ter tido um super-herói como o “Capitão Davi”.
Evert Spoon Sim considero que foi produtiva pois deixou nos alcançar á imagina-
ção de pensarmos ou relatarmos o passado de uma nossa perspec-
tiva e demonstrar coisas diferentes que nos faríamos ou mesmo as-
sim aprender mais sobre a historia sobre aqueles pequenos detalhes
que muitas vezes podem fazer muita diferenca .
Shadow Soldier Eu acho que esta tarefa foi produtiva e ajudou-nos a ser mais criati-
vos e a usarmos a nossa imaginação para inventarmos um super-he-
rói. Também aprofundei o meu conhecimento histórico sobre os
campos de concentração durante a II Guerra Mundial.
Blitz Achei esta tarefa produtiva, e como o tema era livre, deixei-me
influenciar por um dos que mais gostei de aprender ao longo
do 9ºano, “The Wall Street Crash”. As pesquisas que realizei ao
longo deste trabalho ajudaram-me a entender ainda melhor o
assunto, e fiquei a conhecer mais algumas curiosidades/factos
importantes.
Voltar ao texto principal.
262
Anexo 13 – Inquérito por questionário final aplicado na turma 9.º D.C.
Os Super-Heróis na aula de História
O presente formulário tem como objetivo conhecer as vossas opiniões sobre a utilização
de Super-Heróis nas aulas de História. O questionário é anónimo! *Obrigatório
1. Gostas da disciplina de História? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
2. Consideraste útil a referência a Super-Heróis nas aulas de História? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
3. Justifica a tua resposta anterior. *
263
4. Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre a Mulher Maravilha e a 1.ª
Guerra Mundial *
Marcar apenas uma oval.
1 2 3 4 5
5. Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre o Capitão América e o con-
ceito de Eugenia Nazi.
*
Marcar apenas uma oval.
1 2 3 4 5
6. Numa escala de 1 a 5, classifica a intervenção sobre a Guerra Fria através dos
Super-Heróis. *
Marcar apenas uma oval.
1 2 3 4 5
7. Das três intervenções, qual foi a que mais gostaste? *
264
Marcar apenas uma oval.
Mulher Maravilha e 1.ª Guerra Mundial.
Capitão América e Eugenia Nazi.
Guerra Fria através dos Super-Heróis.
8. Justifica a tua resposta anterior. *
9. Estas aulas e o trabalho que foi proposto fizeram com que gostasses mais da dis-
ciplina de História? *
Marcar apenas uma oval.
Sim.
Não.
10. Justifica a tua resposta anterior. *
266
Anexo 14 – Justificações apresentadas à resposta à questão“Consideraste útil a referência a
Super-Heróis nas aulas de História?”
Não vejo filmes de super-heróis por isso torna se confuso aprender assim.
Conseguimos perceber melhor a matéria de uma forma mais lúdica
Respondi não à resposta anterior, pois não conheço a história de nenhum super-herói e torna-se confuso aprender alguns conteúdos.
Eu não vejo filmes de Super-Heróis e por isso torna se confuso.
Não gosto de super-heróis por isso acho confuso aprender com eles.
Com este tipo de referências podemos adquirir mais cultura geral e podemos também descobrir que a origem de muitos dos super-heróis que adoramos não tiveram raiz no "divertimento" das pessoas, mas sim como propaganda (1)a favor/(2)contra o país de (1)origem/(2)inimigo.
Não conhecia a história de muitos super-heróis.
Falar dos super-heróis foi uma maneira mais divertida e interessante de falar sobre vá-rios assuntos e fez nos perceber melhor a matéria.
Deu para entender como a América se sentia enquanto aos acontecimentos históricos apresentados.
Sim, pois é engraçado e interessante ver como super-heróis foram utilizados como meio de propaganda.
É uma maneira de compreendermos a matéria de outra forma.
Eu considero útil a referência a Super-heróis, porque cativa mais as aulas e capta a aten-ção dos alunos
Torna as aulas muito mais apelativas e interessantes para os recetores que, neste caso, são os alunos
Fez-me ficar interessada em conhecer as características que se relacionam com a reali-dade da história
Pois acho que entretém mais os alunos
Eu achei útil a utilização dos Super-Heróis nas aulas, pois me conseguiu cativar mais a atenção devido a ser um assunto q eu gosto bastante e também se torna mais interativa e divertida a aula.
Eu considerei a referência de super-heróis nas aulas de história útil porque fez com que me interessasse muito mais por assuntos que nunca tinha associado á história de super-heróis.
Voltar ao texto principal.
267
Anexo 15 – Justificações apresentadas à resposta à questão “Das três intervenções, qual foi a
que mais gostaste?”
Como não havia a opção "nenhuma das anteriores" escolhi a mulher maravilha porque, entre as opções, foi a que mais despertou o meu interesse.
Não gosto de super-heróis e como não havia nenhuma opção “nenhuma das anteriores” acabei por selecionar a que me despertou mais interesse.
Foi a que achei mais interessante.
Uma vez que haviam muitos mais exemplos, fiquei a perceber melhor.
Eu não conhecia "a origem" do capitão américa
Porque fala também sobre o empoderamento feminino na guerra.
Na minha opinião, a intervenção que eu mais gostei foi a Mulher Maravilha e a 1. ° Guerra Mundial, porque é uma mulher e assistimos o trailer (o que fez com que perce-besse mais a relação entre a história e os Super-heróis, tendo em conta que nunca vi nenhum dos filmes)
Acho que a mulher maravilha na 1 guerra mundial foi a que eu entendi melhor então foi a que eu gostei mais.
Eu gosto muito da 2 guerra mundial :)
Eu gostei mais da intervenção que teve o Capitão América, pois é o Super-Herói que eu mais gosto e também o tema da Eugenia Nazi me cativa muito nas aulas.
É a matéria pela qual mais me interesso.
Foi a que eu percebi melhor.
Eu gostei mais do Capitão América e Eugenia Nazi porque foi mais interessante e mais chocante porque nunca pensei que a personagem tivesse tanta historia relacionada.
Eu acho engraçado como personagens não reais tão carismáticos como o Homem de Ferro e o Hulk foram utilizados como forma de propaganda.
Eu escolhi a Mulher Maravilha, pois foi a que eu achei mais interessante.
Capitão América, pois, é um super-herói que eu já conhecia parte da sua história de origem. Por isso achei bastante interessante saber mais pormenores sobre o mesmo.
Achei engraçado como o Hulk e o homem de ferro participaram na Guerra Fria.
Voltar ao texto principal.
268
Anexo 16 – Justificações apresentadas à resposta à questão “Estas aulas e o trabalho que foi
proposto fizeram com que gostasses mais da disciplina de História?”
Pelo mesmo motivo referido anteriormente.
Pelo mesmo motivo que já referi.
Respondi que sim, pois apesar de não gostar de super-heróis, gosto de desenhar.
É uma forma inovadora e que eu nunca tinha pensado. Para além disso, tal como já tinha dito anteriormente, é muito mais apelativo para os alunos o que, consequentemente, fará com que os alunos estejam mais atentos, pois estamos a relacionar assuntos que gostamos com a matéria.
Porque foi uma forma interessante de aprender novas coisas para um trabalho criativo
Como já disse fizeram com que as aulas fossem mais lúdicas e um pouco menos seca
Eu gosto de História, porque gosto de saber sobre o passado! Quando percebi que os Super-heróis tinham relações à história e a temas extremamente interessantes e impor-tantes, fiquei ainda mais cativada pela disciplina.
Estes trabalhos acabaram por tornar as aulas mais divertidas e não tão secantes, o que fez com que gostasse mais das aulas e até mesmo da disciplina!
Ajudaram-me a conhecer coisas novas e interessantes
Sim, pois como já disse, nestas aulas, eu diverti-me mais e consegui estar mais atento, porque é um tema que eu gosto muito.
Gosto igualmente.
Foi uma maneira interessante de ajudar a perceber melhor a matéria.
Sim eu senti que as aulas fizeram com que eu gostasse mais de História porque nunca tinha pensado desta maneira em relação á disciplina.
Este tipo de referências torna temas "aborrecidos" ou temas muito interessantes num assunto mais cativante ou mais interessante do que já é.
Porque por mais que tenha sido interessante, não considero tao relevante ao ponto de influenciar a minha opinião sobre a disciplina, que é já é boa.
Eu já gostava muito de história...
Voltar ao texto principal.