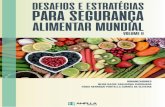Retenção Discente nos Cursos de Graduação Presencial da UFES
ENSINO PRESENCIAL E SEMI-PRESENCIAL EM FARMACOTERAPIA. ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE...
Transcript of ENSINO PRESENCIAL E SEMI-PRESENCIAL EM FARMACOTERAPIA. ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE...
ENSINO PRESENCIAL E SEMI-PRESENCIAL EM FARMACOTERAPIA.
ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM
Ângelo Jesus
Maria João Gomes
Agostinho Cruz
Universidade do Minho Instituto Politécnico do Porto
RESUMO: A importância da motivação e uso de estratégias de aprendizagem em relação
ao sucesso em contextos de aprendizagem tem sido alvo de discussão no meio académico.
No entanto os resultados na literatura nem sempre são consistentes. Alguns estudos
mostram um efeito positivo de uma instrução centrada no aluno na motivação e
desenvolvimento de competências, outros relatam que o uso de métodos instrução
centrados no aluno, pode ter o efeito oposto sobre a motivação. Da mesma forma, alguns
estudos relatam um maior nível de motivação entre os alunos, que têm uma instrução
baseada na web, enquanto outros acham o resultado oposto, e ainda outros não encontram
diferenças significativas. Para determinar a motivação dos estudantes e as estratégias de
aprendizagem utilizadas em regime presencial e semi-presencial em Farmacoterapia, foi
utilizado a versão portuguesa do Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ),
constituído por 81 items. A amostra foi constituída por 50 alunos, tendo o MSLQ sido
administrado imediatamente após os dois momentos formativos. Embora não tenham sido
obtidos resultados significativos, algumas variáveis apresentaram uma evolução positiva,
nomeadamente ao nível da Orientação para objetivos Intrínseca e Ansiedade aos testes,
Organização, Tempo e Ambiente de Estudo e Regulação do Esforço. Este estudo constitui
uma primeira abordagem à análise da motivação e estratégias de aprendizagem em
ambientes presenciais e semi-presenciais, constituindo uma base para a continuidade da
investigação em amostras com maior número de indivíduos.
Introdução
A Farmacologia e a Farmacoterapia são duas ciências básicas e inerentes a
qualquer formação de Ensino Superior no âmbito de Farmácia. Se com a Farmacologia,
o aluno estuda os mecanismos cinéticos e dinâmicos dos fármacos, as substâncias
ativas, tipos de recetores e mecanismos de ação, na Farmacoterapia aplicam-se todos
estes conhecimentos no tratamento e aconselhamento de patologias e sintomas. A
Farmacologia precede assim a Farmacoterapia, mas é esta última, que fornece as
ferramentas para o aconselhamento farmacoterapêutico eficaz. Os conhecimentos neste
domínio e o domínio de competências nesta área será fundamental para os estudantes
enquanto futuros profissionais de Farmácia. Neste sentido, todos os esforços devem ser
desenvolvidos no sentido de promover práticas de ensino e de aprendizagem que
envolvam ativamente os estudantes no seu processo de aprendizagem. A aprendizagem
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4931
Jesus, A., Gomes, M. J. & Cruz, A. (2013). Ensino presencial e semi-presencial em farmacoterapia. Análise da motivação e estratégias de aprendizagem. In Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia (pp.4931-4947). Braga: Universidade do Minho – Centro de Investigação em Educação.
da Farmacoterapia baseada em casos clínicos (Case Based Learning) tem sido uma
estratégia de eleição no processo de ensino-aprendizagem da Licenciatura em Farmácia
da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto (ESTSP), desde a implementação
do processo de Bolonha (Jesus, Gomes, & Cruz, 2012a). Case Based Learning (CBL) é
um paradigma educacional intimamente relacionado com Problem Based Learning
(PBL). Enquanto que em PBL não é requerido ao aluno uma experiência prévia ou
conhecimento relevante no assunto a explorar; em CBL é exigido que os estudantes
tenham um grau de conhecimento prévio para resolver casos clínicos, que são baseados
na prática clínica (Garvey, O’Sullivan, & Blake, 2000). Em CBL, utiliza-se um caso,
problema ou situação clínica para estimular e apoiar a aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes (Williams, 2005). Neste contexto, os casos clínicos são
geralmente apresentados como problemas (descrições de situações reais ou hipotéticas)
que proporcionam ao aluno um plano de fundo de um doente ou outra situação clínica,
perante a qual o aluno terá que retirar conclusões e tomar decisões terapêuticas.
Normalmente este tipo de situações de ensino decorre presencialmente, porém a
instituição implementou recentemente esta formação em regime semi-presencial (Jesus,
Gomes, & Cruz, 2012b) procurando explorar os suportes tecnológicos, ambientes
virtuais de aprendizagem e recursos multimédia (Jesus, Cruz, & Gomes, 2011).
Conscientes que o sucesso das mudanças pedagógicas está associado a características de
motivação e estratégias de aprendizagem, os autores propõem-se a:
a)Conhecer e descrever as características motivacionais e as estratégias de
aprendizagem, aquando do ensino presencial de Farmacoterapia baseada em Case Based
Learning
b) Conhecer e descrever as características motivacionais e as estratégias de
aprendizagem, aquando do ensino semi-presencial de Farmacoterapia baseada em Case
Based Learning
c)Comparar a evolução das características motivacionais e as estratégias de
aprendizagem nos dois momentos de ensino
Enquadramento concetual
Investigações prévias expuseram a importância da motivação e do uso de
estratégias de aprendizagem em relação ao sucesso em contextos académicos (Bong,
2004; Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche, 1995; Elliott, Shell, Henry, & Maier,
2005; Harackiewicz, Barron, Tauer, & Elliot, 2002; P. Pintrich & De Groot, 1990).
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4932
Embora a literatura sobre o assunto ofereça uma ampla variedade de conceitos e teorias
associados (nomeadamente a Teoria de Goal Achievement, Autodeterminação e
Expectativa-Valor), para efeitos da presente investigação tomaremos em consideração a
orientação motivacional intrínseca ou extrínseca, o valor de tarefa, auto-eficácia para
a aprendizagem, as crenças de controlo e ansiedade subjacentes à teoria da motivação
proposta por Pintrich e colaboradores (Garcia & Pintrich, 1996; McKeachie, Pintrich,
Lin, & Smith, 1990; Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich & Garcia, 1991; Pintrich,
2003; Pintrich, 1999).
Motivação para a Aprendizagem
A literatura começa por efetuar uma distinção entre a motivação (ou orientação
para objetivos) intrínseca e extrínseca ( Schunk, 1991; Garcia & Pintrich, 1996;
Alonso-Tapia, 2001; Rinaudo, Chiecher, & Donolo, 2003; Bong, 2004). A orientação
para objetivos intrínseca diz respeito ao grau em que o estudante se perceciona como
estando a participar numa tarefa por razões como desafio, curiosidade ou mestria. Ter
uma orientação para os objetivos intrínseca perante uma tarefa, sugere que a
participação do estudante é um fim em si mesmo, em vez de ser o meio para um fim.
Em contraponto, a orientação para objetivos extrínseca, é geralmente caracterizada
como o que leva o indivíduo a executar uma determinada ação para satisfazer outros
motivos que não estão relacionados à atividade em si, mas estão relacionadas com
outras razões, nomeadamente as classificações, reconhecimento por outros, ganho de
recompensas e evitar o fracasso (Dev, 1997; Donald, 1999). A partir desta perspetiva,
pode supor-se que diferentes orientações motivacionais terão consequências diferentes
para a aprendizagem (Alonso-Tapia, 2001). Um estudante intrinsecamente motivado,
mais facilmente irá selecionar e executar as atividades, pela curiosidade, interesse e
desafio associado (Rinaudo et al., 2003; Rojas, 2008). Ou seja, estes estudantes poderão
estar mais dispostos a aplicar esforço mental significativo durante a realização da tarefa,
e a comprometer-se no emprego de processos e estratégias ricas e elaboradas para uma
aprendizagem mais profunda e eficaz (Lepper, 1988; Skinner & Pitzer, 2012).
Contrariamente, alguns autores defendem que é mais provável que o estudante
extrinsecamente motivado participe de algumas atividades apenas quando oferecem a
possibilidade de obtenção de recompensas externas, sendo também possível que tais
estudantes escolham as tarefas mais fáceis, cuja solução irá assegurar a obtenção de uma
recompensa (Dev, 1997; Donald, 1999). Outro constructo relacionado com a motivação
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4933
para aprendizagem, prende-se com o valor da tarefa. Este conceito sugere que uma
avaliação positiva das tarefas pode levar os estudantes a envolverem-se mais
profundamente na sua própria aprendizagem e a utilizar estratégias cognitivas mais
frequentemente (Pintrich & Garcia, 1991; Pintrich,1999). Ou seja, quando os estudantes
consideram as tarefas académicas interessantes, importantes e/ou úteis, podem estar
mais dispostos a aprender. Também as crenças de auto-eficácia estão relacionadas com
a motivação. Este constructo está associado ao julgamento que o próprio estudante
possui da sua capacidade de resolver problemas ou atingir objetivos (Pintrich, 1999).
Outra noção que é frequentemente associada à motivação é a crença de controlo da
aprendizagem, que se refere ao grau de controlo que os estudantes acreditam deter sobre
a sua própria aprendizagem (Pintrich, 2003). Segundo Rotter, (1966) citado em Ribeiro,
(2000):
“Quando um reforço é percebido pelo sujeito como seguindo-se a uma ação
sua, mas não sendo inteiramente contingente a essa ação, é normalmente
percebido como o resultado de sorte, acaso, destino, sob o controlo do poder
de outros, ou como imprevisível, dada a grande complexidade das forças
que o envolvem. Quando um acontecimento é interpretado deste modo por
um sujeito, diz-se que possui uma crença de controlo externo. Se o sujeito
percebe que o acontecimento é contingente ao seu próprio comportamento
ou a características suas relativamente permanentes, então, diz-se que
apresenta uma crença de controlo interno”
Ou seja, uma crença de controlo interno refere-se à perceção de controlo pessoal sobre o
resultado da situação e, por isso, tende-se a percebê-lo como resultante das próprias
ações. Em contraponto a crença de controlo externo refere-se à perceção da falta de
controlo pessoal sobre a situação ou de que o resultado não é (ou não está) dependente
do próprio comportamento e, por isso, há uma tendência a percebê-lo como resultante
de fatores exteriores, como a sorte ou o acaso1. Desta forma, se o estudante com crença
de controlo interno sente que possui maior controlo sobre os resultados do seu
estudo/trabalho, é previsível que se espere dele, um maior esforço e consecutivamente
um melhor rendimento académico. Aliás, dado que o estudante atribui a si próprio tanto
os êxitos como os fracassos, é expectável que os primeiros o façam sentir orgulho e os
segundos gerem vergonha ou culpa e o levem a empenhar-se para evitar de novo o
fracasso (Rinaudo et al., 2003; Donolo, Chiecher, & Rinaudo, 2004; Rojas, 2008).
1 De salientar que os sujeitos podem ser classificados ao longo de um continuum desde uma internalidade extrema a
uma externalidade extrema. Sobre este tópico recomenda-se a leitura de (Ribeiro, 2000)
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4934
Consequentemente, o estudante com crença de controlo externo, ao sentir-se menos
responsável, tanto pelos êxitos como pelos fracassos, e ao atribuir ambos a fatores fora
do seu controlo, estará à partida menos motivado para a prossecução das atividades
(Rinaudo et al., 2003; Donolo et al., 2004; Rojas, 2008). Quanto à ansiedade, outro dos
conceitos estudados em relação à motivação, Pintrich & Garcia (1991) sugerem que é
um componente afetivo, ligado aos pensamentos negativos por parte do estudante, o que
pode interferir negativamente em seu desempenho. Os autores estipulam que a
excessiva e preocupação com o desempenho pode estar negativamente correlacionada
com o desempenho académico. Contudo a ansiedade pode ser controlada através do uso
eficaz das estratégias de aprendizagem.
Estratégias de Aprendizagem
Além das variáveis motivacionais, existem variadas estratégias de aprendizagem
que podem ser implementadas para satisfazer as necessidades de aprendizagem.
Podemos definir estratégias de aprendizagem como processos (ou sequências de
processos), que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento
e/ ou a utilização da informação (Da Silva & Sá, 1997, citado em Boruchovitch, 1999).
As estratégias de aprendizagem podem ser organizadas segundo vários modelos, porém
para o contexto desta investigação optou-se pelo modelo em que as estratégias de
aprendizagem estão organizadas em três grandes grupos: 1) estratégias cognitivas
(estratégias de treino, elaboração e organização), 2) estratégias metacognitivas
(estratégias de planeamento, monitorização e regulação) e 3) estratégias de gestão de
recursos (administração do tempo, organização do ambiente de estudo, administração do
esforço e busca de apoio a terceiros). Pintrich, (1999) que identifica o treino,
elaboração e organização como importantes estratégias cognitivas de aprendizagem
que podem estar relacionadas com desempenho académico. Estratégias de treino
assumem-se como auxiliadoras do estudante na seleção de informações importantes a
partir de listas ou textos, nomeadamente através da recitação em voz alta ou pelo
sublinhar, de forma a manter a informação ativa na sua memória. Estas estratégias são
mais relevantes para tarefas simples e de ativação da informação na memória de
trabalho, e não tanto para a aquisição de novas informações para a memória a longo
prazo (Melo, Mendes, Gonçalves, Pile, & Carvalho, 2006). Por seu turno, as estratégias
de elaboração ajudam os estudantes a armazenar a informação na memória a longo
prazo através da construção de ligações internas entre os itens a aprender. Estas
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4935
estratégias incluem parafrasear, fazer resumos (ou explicar os conteúdos a uma terceira
pessoa), criar analogias, criar situações de pergunta-resposta e fazer apontamentos. Isto
ajuda o estudante a integrar e ligar a nova informação ao conhecimento previamente
adquirido. Ainda no que respeita às estratégias cognitivas, a estratégia organizacional,
posiciona-se como a que poderá proporcionar um entendimento mais profundo dos
conteúdos, face às anteriores. Estratégias organizacionais incluem comportamentos,
como seleção das ideias chave a partir de um texto ou organização de ideias através de
mapas e diagramas (Pintrich, 1999). A organização é um empreendimento ativo, que
envolve esforço, e tem como resultado o estudante ficar envolvido mais de perto com a
tarefa. Tal deverá resultar num melhor desempenho (Melo et al., 2006). Para além de
estratégias cognitivas, o conhecimento metacognitivo dos estudantes e uso estratégias
metacognitivas podem ter uma importante influência sobre o desempenho académico. O
modelo metacognitivo proposto por Pintrich assenta em três estratégias gerais:
planeamento, monitorização e regulação (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991;
Pintrich & Garcia, 1991; Pintrich, 1999). Ao nível do planeamento de atividades pode
fazer-se referência ao estabelecimento de objetivos durante o estudo (sejam eles de
conteúdo ou temporais), efetuar uma leitura prévia do texto antes de efetuar uma análise
mais profunda, ou efetuar uma análise das tarefas subjacentes a um problema. Estas
atividades parecem ajudar o estudante no uso das estratégias cognitivas, tornando mais
simples a organização e a compreensão dos conteúdos. A monitorização é outro aspeto
essencial da aprendizagem auto-regulada, sendo que neste tipo de estratégias terá
obrigatoriamente de existir um objetivo ou meta a atingir/monitorizar. Exemplos de
estratégias de monitorização incluem avaliar e questionar aquilo que se lê ou ouve,
efetuar testes auto-formativos através do uso de perguntas sobre os conteúdos que foram
estudados, ou ainda monitorizar o tempo disponível, (por exemplo em situações de
exame). Estas estratégias permitem alertar o estudante para quebras ou falhas de atenção
e compreensão que podem ser reparadas através das estratégias de regulação. Por
exemplo, aquando de um auto-teste formativo, se o estudante não consegue responder
eficazmente, pode optar por reler a secção do texto respetiva. Outro exemplo de
estratégia de regulação passa pela leitura mais lenta de textos ou temáticas que não são
familiares ou detêm terminologia que não é normalmente utilizada pelo próprio. Talvez
a estratégia de regulação mais comum e provavelmente mais visível será a escolha da
ordem de resposta que os estudantes efetuam durante o exame, que denota um processo
de escolha baseado em múltiplos fatores, desde o desconhecimento do tema, a
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4936
necessidade de tempo para estabelecer uma redação coerente ou a gestão de tempo.
Assume-se que todas estas estratégias promovem uma melhoria do desempenho
académico (McKeachie et al., 1990; Pintrich, 1999; Rinaudo et al., 2003). Por último,
devemos fazer referência às estratégias de gestão de recursos, sendo que estas incluem a
gestão de tempo e ambiente de estudo, regulação do esforço, aprendizagem entre pares
e procura de ajuda. A gestão do tempo envolve planeamento e programação de tempos
de estudo, assim como a gestão organizacional do seu ambiente de estudo. Idealmente, o
ambiente de estudo deve ser tranquilo, ordenado e relativamente livre de distrações
visuais ou auditivas (Pintrich & Garcia, 1991). A regulação de esforço refere-se à
capacidade do estudante de persistir em tarefas apesar de distrações ou falta de
interesse, tal capacidade é importante para o sucesso académico na medida em que
implica um compromisso com as atividades e tarefas propostas ( Rinaudo et al., 2003;
Donolo et al., 2004;). A aprendizagem com os colegas e a busca de ajuda, referem-se à
capacidade ou disponibilidade do estudante em partilhar as suas dúvidas com os colegas
ou até mesmo com o docente, o que do ponto de vista da interação com os pares ou
relação pedagógica com o docente, pode trazer um valor acrescido.
Motivated Strategies for Learning Questionnaire - Caracterização do
Questionário
Para determinar a motivação dos estudantes e as estratégias de aprendizagem
utilizadas em ambos os momentos de ensino, foi utilizado o Motivated Strategies for
Learning Questionnaire (MSLQ), constituído por 81 items (Pintrich, Smith, Garcia, &
McKeachie, 1991; Pintrich, Smith, Garcia, & Mckeachie, 1993). Utilizou-se a versão
portuguesa, obtida através dos estudos de adequação realizados a partir da versão
original (Santos & Pinheiro, 2008a, 2008b citados em Santos & Pinheiro, 2010),
traduzida pela equipa do Grupo de Estudos e Planeamento do Instituto Superior Técnico
(Melo et al., 2006; Melo & Mendes, 2008). Os estudos citados acima demonstraram que
o MSLQ é um instrumento ajustado de auto-avaliação das orientações motivacionais
dos estudantes e do uso que fazem de diferentes estratégias de aprendizagem no ensino
superior. Essencialmente este instrumento possui duas secções que são posteriormente
divididas em 15 escalas. A secção de Motivação tem 31 itens que avaliam as crenças e
os objetivos dos estudantes para um curso, a crença acerca da sua competência para ter
sucesso no curso e a sua ansiedade acerca dos exames. A secção de Estratégias de
Aprendizagem inclui 31 itens relativos ao uso de diferentes estratégias cognitivas e
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4937
metacognitivas pelos estudantes e 19 itens que dizem respeito à gestão que o estudante
faz dos diferentes recursos (tabela 1). As 15 escalas do MSLQ podem ser utilizadas em
conjunto ou isoladamente e a duração de aplicação do instrumento varia entre 15-25
minutos (Pintrich et al., 1991; Melo et al., 2006; Cheang, 2009; Valle et al., 2009;
Santos & Pinheiro, 2010;).Os estudantes avaliam-se numa escala de Likert de 7 pontos
de “Totalmente falso para mim” a “Completamente verdadeiro para mim”.
Tabela 1: Itens que constituem o questionário MSLQ
Secção de
Motivação
Componentes dos Valores
Orientação para objetivos intrínseca
Orientação para objetivos extrínseca
Valor da Tarefa
Componentes das
Expectativas
Crenças de Controlo da Aprendizagem
Auto-eficácia para a Aprendizagem e o Desempenho
Componentes Afetivas Ansiedade aos Testes
Secção de
Estratégias de
Aprendizagem
Estratégias Cognitivas e
Metacognitivas
Treino
Elaboração
Organização
Pensamento crítico
Auto-regulação metacognitiva
Estratégias de Gestão de
Recursos
Tempo e Ambiente de Estudo
Regulação de Esforço
Aprendizagem com colegas
Procura de ajuda
Métodos
O MSLQ foi aplicado no final da Formação Presencial e no final da Formação
Semi-Presencial de Farmacoterapia. A população em estudo consistiu em todos os
estudantes matriculados nas nos dois módulos (n =55) no ano letivo 2011/2012. Uma
vez que a resposta ao questionário foi voluntária, a amostra obtida foi de 33 estudantes
(modalidade presencial) e 52 estudantes (modalidade semi-presencial) o que
corresponde, respetivamente, a 60% e 95% dos estudantes a frequentaram as UC em
causa. Após a codificação das variáveis e análise da normalidade2, procedeu-se à análise
descritiva e comparativa dos dois momentos de instrução.
Apresentação e Discussão dos Resultados
Uma vez que o preenchimento dos inquéritos foi anónimo, para a análise dos
resultados, foi efetuado o teste t-student para amostras independentes. Como podemos
verificar, somente a componente “Pensamento Critico” apresenta uma variação
significativa entre os dois momentos de recolha de dados, para um Intervalo de
confiança de 95%.
2 Como a aplicação dos testes Kolmogorov-Smirnov e de Kurtosis foi efetuada para 81 variáveis, torna-se
incomportável a apresentação direta dos resultados no texto.
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4938
Tabela 2 : Análise estatística comparativa entre os dois momentos de recolha de dados
Escala/Subescala Ensino
Presencial
Ensino Semi-
Presencial
p – Teste t-
student para
amostras
independentes
Motivação 5,09 5,13 0,91
Componentes dos Valores 5,38 5,41 0,316
Orientação para objetivos intrínseca1 5,22 5,36 0,905
Orientação para objetivos extrínseca 5,02 5,00 0,058
Valor da Tarefa 5,71 5,70 0,261
Componentes das Expectativas 4,92 4,92 0,219
Crenças de Controlo da Aprendizagem1 5,11 4,96 0,294
Auto-eficácia p/ Aprendizagem e Desempenho 4,82 4,90 0,379
Componentes Afectivas1 4,57 4,74 0,125
Ansiedade aos Testes1 4,57 4,74 0,125
Estratégias de Aprendizagem 4,89 4,94 0,840
Estratégias Cognitivas e Metacognitivas 4,95 4,96 0,764
Treino 4,95 5,00 0,595
Elaboração 5,17 5,14 0,526
Organização1 5,40 5,68 0,795
Pensamento crítico 4,51 4,43 0,005*
Auto-regulação metacognitiva 4,88 4,83 0,669
Estratégias de Gestão de Recursos1 4,81 4,92 0,387
Tempo e Ambiente de Estudo1 4,90 5,07 0,751
Regulação de Esforço1 4,93 5,07 0,790
Aprendizagem com colegas 4,31 4,37 0,987
Procura de ajuda 4,86 4,83 0,928
*p≤0,05
1- Componentes que manifestam uma variação de +/- 0,1 na médias das classificações do MSLQ entre os dois
momentos de instrução.
Não obstante, apesar de não existir uma variação significativa, não significa que não
exista qualquer tipo de variação. De forma a melhor visualizar as tendências em cada
uma das variáveis estipularam-se valores de ≥ 0,1 ou ≤ -0,1.
Ensino Presencial de Farmacoterapia
A tabela 2 apresenta os dados para cada uma das escalas do MSLQ e secção de
motivação total. As escalas motivacionais indicam a presença de níveis de motivação
médios-altos para o grupo de estudantes em modalidade presencial (Média de 5,09 num
intervalo de 1-7). Ao nível da Componente de Valores podem denotar-se pontuações
elevadas para Orientação para Objetivos Intrínseca (M=5,22) face à orientação para
objetivos extrínseca (5,02). Da mesma forma, existe evidência de uma elevada
pontuação para Valor de Tarefa (M = 5,71). Os dados obtidos podem ser justificados
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4939
pelo facto de serem utilizados cenários com os quais os estudantes se podem identificar,
e ao demonstrar que os mesmos possuem aplicabilidade no seu futuro profissional, e
estão em consonância com os relatados em estudos semelhantes (Ertmer, Newby, &
MacDougall, 1996; Sungur & Tekkaya, 2006; Cheang, 2009). As pontuações obtidas ao
nível das Componentes de Valores (Crenças de Controlo de Aprendizagem ; M = 5,11)
e Auto-eficácia para a Aprendizagem e Desempenho; M = 4,82) estão correlacionadas
com o ponto anterior, demonstrando que os estudantes estão confiantes que os
resultados são fruto do seu próprio esforço e não de fatores externos Por seu lado, os
níveis de ansiedade apresentam valores consideravelmente elevados (M=4,57), no
entanto isto pode ser justificado pelo facto de ser o primeiro contacto dos estudantes
com uma metodologia Case Based Learning em Farmacoterapia, onde muita da
responsabilidade da aprendizagem recai sobre o próprio estudante (Jesus et al., 2012a),
onde os métodos de estudo serão diferentes uma vez que as variáveis que podem surgir
num caso clínico são múltiplas. Relativamente às Estratégias de Aprendizagem, a
análise foi realizada com base nas respostas dos estudantes para todos os itens da
respetiva secção do MSLQ, estando os dados presentes na tabela 2. A consideração
conjunta das nove escalas da secção permite tecer uma avaliação geral sobre uso de
estratégia de aprendizagem por parte estudantes. Ao nível das Estratégias Cognitivas e
Metacognitivas, os estudantes reportam um uso mais proeminente de estratégias
Elaboração e Organização (M=5,40 e 5,17 respetivamente) do que estratégias de Treino
(M=4,95). Estes valores vão de encontro aos publicados em contextos semelhantes
(Rinaudo et al., 2003; Cheang, 2009; Rotgans & Schmidt, 2009), uma vez que o Case
Based Learning implica que os estudantes contextualizem e gerem as suas próprias
hipóteses e portanto se façam valer preferencialmente de estratégias de Elaboração e
Organização, em oposição a estratégias de Treino. Relativamente a Estratégias de
Gestão de Recursos, os estudantes reportam um maior uso de estratégias de Regulação
de Esforço e de Tempo e Ambiente de Estudo (M=4,93 e 4,90 respetivamente), face a
Aprendizagem com Colegas (M=4,31) e Procura de Ajuda (M= 4,93). É nosso
entendimento que poderá ter existido viés nas respostas referentes à Aprendizagem com
Colegas que poderá explicar a baixa pontuação. Repare-se que neste tipo de
metodologia de ensino, o estudante encontra-se a trabalhar presencialmente em grupo, o
que implica colaboração entre o estudante e os seus pares. Contudo é possível que o
estudante, ao responder ao questionário assuma que a questão se referisse a colegas fora
do seu grupo de trabalho uma vez que a formulação dos itens refere “um grupo de
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4940
colegas” e não “o seu grupo de colegas” (P.e. Questão 50: Quando estudo para esta
disciplina, reservo frequentemente tempo para discutir as matérias da disciplina com um
grupo de colegas).
Ensino Semi-Presencial de Farmacoterapia
A tabela 2 apresenta os dados para cada uma das escalas do MSLQ relativamente
aos dados obtidos na instrução semi-presencial. Analisando individualmente cada uma
das escalas podemos denotar uma maior orientação para a objetivos intrínseca (M=5,36)
face à orientação para objetivos extrínseca (M=5,00). Da mesma forma, existe evidência
de um elevado valor das tarefas (M=5,70), assim como das crenças de controlo de
aprendizagem (M=4,96) e auto eficácia para a aprendizagem e desempenho (M=4,90).
Por seu lado, os níveis de ansiedade apresentam valores consideravelmente elevados
(M=4,74). Este valor elevado na escala de “Ansiedade aos Testes” pode ser justificado
pelo facto de este ser igualmente o primeiro contacto dos estudantes com uma
metodologia de ensino semi-presencial. Relativamente às Estratégias de Aprendizagem,
ao nível das Estratégias Cognitivas e Metacognitivas, os estudantes continuam a
reportar um uso mais proeminente de estratégias Elaboração e Organização (M=5,14 e
5,68 respetivamente) relativamente a Treino (M=5,00). Os dados obtidos estão em
consonância com os relatados em estudos semelhantes em ensino a distância (Arend,
2007). Relativamente a Estratégias de Gestão de Recursos, os estudantes continuam a
reportar um maior uso de estratégias de Regulação de Esforço e de Tempo e Ambiente
de Estudo (M=5,07), face a Aprendizagem com Colegas (M=4,37) e Procura de Ajuda
(M= 4,83).
Análise comparativa entre os dois momentos de recolha de dados
A introdução de fórmulas inovadoras de ensino (Case Based Learning e Blended
Learning) é relativamente recente no ensino da Farmácia e das Ciências Farmacêuticas
e o seu impacto sobre a motivação e estratégias de aprendizagem não têm sido tem sido
objeto de estudo extensivo. Além disso, os resultados na literatura nem sempre são
consistentes. Alguns estudos mostram um efeito positivo de um ensino centrado no
estudante ao nível da motivação ( Turner, 2002; Cheang, 2009; Carbonero, Martín-
Antón, Román, & Reoyo, 2010) e desenvolvimento de competências ( Galand &
Frenay, 2005; Campbell, Monk-Tutor, Slaton, Kendrach, & Arnold, 2012; Malcom &
Hibbs, 2012). Outros estudos relatam que o uso destes métodos, pode ter o efeito oposto
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013ISBN: 978-989-8525-22-2
4941
sobre a motivação dos estudantes (Vissar, 2002). Da mesma forma, alguns estudos
relatam um maior nível de motivação entre os estudantes, que têm uma instrução
baseada na web ( Stevens & Switzer, 2006; Parrott, 1995;), enquanto outros acham o
resultado oposto (Qureshi et al., 2002), e ainda outros não encontram diferenças
significativas (Kim, 2004; Nolot, 2011). No presente estudo, a maioria das variáveis não
apresentou diferença significativa nos dois momentos de recolha de dados A literatura
sugere várias explicações para este facto. Em primeiro lugar devemos considerar que
algumas variáveis podem não ser influenciadas. Cheang, (2009) e Maupin (2003)
elaboram sobre este tópico ao nível da Orientação para Objetivos, defendendo que,
quando se espera os estudantes se tornem mais intrinsecamente motivados, é expectável
que a motivação extrínseca (um elemento que não é diretamente abordado) permaneça
inalterada. Paralelamente não devemos considerar, apenas inovação tecnológica
associada, mas também o perfil dos estudantes. Uma revisão da literatura realizada por
Phipps & Merisotis, (1999) mostra que a satisfação e a motivação dos estudantes que
frequentam formações a distância não estão diretamente relacionadas com o aspeto
tecnológico em si, mas depende de múltiplos fatores tais como a conveniência de uso,
tarefas de aprendizagem propostas, as características do estudante e do design
instrucional do curso. A título de exemplo Arbaugh & Duray, (2002) constataram que
os estudantes mais velhos, com mais experiência e tendem a estar mais satisfeitos em
formações a distância, comparativamente com estudantes mais jovens. Adicionalmente,
foi descrito que o grau de satisfação e motivação é superior entre os estudantes que
escolhem fazer voluntariamente uma formação online, comparativamente aos estudantes
que seguem uma, porque não está disponível de outra forma (Sankaran & Bui, 2001).
Também o Valor da Tarefa, não manifesta alterações significativas, pois embora a
instrução tenha passado de um sistema presencial, para semi-presencial, na sua essência,
os estudantes continuam a trabalhar com casos clínicos que se aproximam da sua
realidade profissional. Não obstante, apesar de não existir uma variação significativa,
não significa que não exista qualquer tipo de variação. De forma a melhor visualizar as
tendências em cada uma das variáveis estipularam-se valores de ≥ 0,1 ou ≤ -0,1. Note-se
que ao nível da motivação existe tendência para melhorias na Orientação para Objetivos
Intrínseca, antevendo que a motivação poderá estar associada ao novo desafio e
curiosidade. Existe contudo um decréscimo na pontuação referente às Crenças de
Controlo de Aprendizagem e um aumento da Ansiedade aos Testes, já que é a primeira
vez que os estudantes estão em contacto com uma metodologia de ensino distância (
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4942
Maupin, 2003; Jokar, Seyyed, & Soozandehfar, 2011), e onde é requerida alguma
perícia no trabalho com ferramentas Web (Jesus, Gomes, Ferreira, & Cruz, 2013; Jesus
& Gomes, 2013). Relativamente às Estratégias de Aprendizagem, denota-se uma
melhoria no que diz respeito às estratégias cognitivas de Organização, o que demonstra
um empreendimento ativo por parte dos estudantes Existem igualmente melhorias no
que diz respeito a Tempo e Ambiente de Estudo assim como Regulação do Esforço,
refletindo que os novos desafio propostos pela instrução semi-presencial levaram os
estudantes a comprometerem-se mais proeminentemente com as atividades propostas.
Considerações Finais e Perspetivas Futuras
O presente estudo, sendo exploratório na sua essência, apresenta limitações
inerentes. Deve ter-se em conta que a aplicação do MSLQ foi realizada imediatamente
após da instrução presencial e semi-presencial. É possível que qualquer melhoria na
motivação ou estratégias de aprendizagem possa ocorrer de forma progressiva e seja
mais evidente com o passar do tempo (Larue & Hrimech, 2009). Este ponto pode
igualmente invalidar a análise da Variável: “Pensamento Crítico” uma vez que não é
dado tempo ao estudante para aplicar os seus conhecimentos em novos cenários.
Adicionalmente, e tratando-se de turmas já formadas, não foi possível garantir a
randomização da amostra. Este fator teve um impacto significativo uma vez que a
desproporção entre indivíduos do sexo feminino e masculino acabou por inviabilizar
uma análise estatística comparativa entre género. Mais ainda, não foi possível efetuar
um seguimento dos estudantes entre a instrução presencial e a instrução semi-presencial,
uma vez que os questionários eram anónimos, já que qualquer tipo de elemento
identificador no mesmo poderia dissuadir o estudante de participar neste estudo
voluntário. A literatura sugere que o seguimento individual do estudante nos dois
momentos, assim como uma amostra consideravelmente maior, pode revelar mais
facilmente qualquer tipo de variação (Kim, 2004), já que permitiria a utilização de testes
estatísticos mais robustos (Cheang, 2009). Este estudo constitui assim uma primeira
abordagem à análise da motivação e estratégias de aprendizagem em ambientes
presenciais e semi-presenciais, constituindo uma base para a continuidade da
investigação em amostras com maior número de indivíduos.
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4943
Referências bibliográficas
Alonso-Tapia, J. (2001). Enhancing learning motivation: Theory and strategies.
Retrieved from
http://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones%20jesus/libros_jesus/2001-
Enhancing%20learning%20motivation.pdf
Arbaugh, J. B., & Duray, R. (2002). Technological and Structural Characteristics,
Student Learning and Satisfaction with Web-Based Courses An Exploratory
Study of Two On-Line MBA Programs. Management Learning, 33(3), 331–347.
Arend, B. (2007). Course Assessment Practices and Student Learning Strategies in
Online Courses. Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(4), 3–13.
Bong, M. (2004). Academic Motivation in Self-Efficacy, Task Value, Achievement
Goal Orientations, and Attributional Beliefs. The Journal of Educational
Research, 97(6), 287–298.
Boruchovitch, E. (1999). Learning strategies and school achievement: considerations
for educational practice. Psicologia: Reflexão e Crítica, 12(2), 361–376.
Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal
orientation on self-regulation and performance among college students. British
Journal of Educational Psychology, 65(3), 317–329.
Campbell, A. N., Monk-Tutor, M. R., Slaton, R. M., Kendrach, M., & Arnold, J. (2012).
Student-led development, delivery, and assessment of an integrated learning
activity focusing on acute myocardial infarction. Currents in Pharmacy Teaching
and Learning, 4(1), 2–15.
Carbonero, M. Á., Martín-Antón, L. J., Román, J. M., & Reoyo, N. (2010). Efecto De
Un Programa De Entrenamiento Al Profesorado En La Motivación, Clima De
Aula Y Estrategias De Aprendizaje De Su Alumnado. Revista Iberoamericana de
Psicología y Salud, (2), 117–138.
Cheang, K. I. (2009). Effect of Learner-Centered Teaching on Motivation and Learning
Strategies in a Third-Year Pharmacotherapy Course. American Journal of
Pharmaceutical Education, 73(3).
Dev, P. C. (1997). Intrinsic Motivation and Academic Achievement: What Does Their
Relationship Imply for the Classroom Teacher? Remedial and Special Education,
18(1), 12–19.
Donald, J. G. (1999). Motivation for Higher-Order Learning. New Directions for
Teaching and Learning, 1999(78), 27–35.
Donolo, D., Chiecher, A., & Rinaudo, M. C. (2004). Estudiantes en entornos
tradicionales y a distancia. Perfiles motivacionales y percepciones del contexto.
Revista de Educación a Distancia, (10).
Elliott, A. J., Shell, M. M., Henry, K. B., & Maier, M. A. (2005). Achievement Goals,
Performance Contingencies, and Performance Attainment: An Experimental Test.
Journal of Educational Psychology, 97(4), 630–640.
Ertmer, P. A., Newby, T. J., & MacDougall, M. (1996). Students’ Responses and
Approaches to Case-Based Instruction: The Role of Reflective Self-Regulation.
American Educational Research Journal, 33(3), 719–752.
Galand, B., & Frenay, M. (2005). L’approche par problèmes et par projets dans
l’enseignement supérieur: Impact, enjeux et défis. Presses univ. de Louvain.
Garcia, T., & Pintrich, P. R. (1996). The Effects of Autonomy on Motivation and
Performancein the College Classroom. Contemporary Educational Psychology,
21(4), 477–486.
Garvey, M. T., O’Sullivan, M., & Blake, M. (2000). Multidisciplinary case-based
learning for undergraduate students. European Journal of Dental Education:
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4944
Official Journal of the Association for Dental Education in Europe, 4(4), 165–
168.
Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. M., & Elliot, A. J. (2002). Predicting
Success in College: A Longitudinal Study of Achievement Goals and Ability
Measures as Predictors of Interest and Performance from Freshman Year through
Graduation. Journal of Educational Psychology, 94(3), 562–75.
Jesus, Â., Cruz, A., & Gomes, M. J. (2011). Implementação de Metodologias Blended-
Learning no ensino da Farmacoterapia baseado em Simulações. In VII
International Conference of ICT in Education- Perspectives on Innovation.
Presented at the Challenges 2011, Braga: Centro de Competência da Universidade
do Minho.
Jesus, Â., & Gomes, M. J. (2013). Web 2.0 tools in biomedical education. Limitations
and possibilities waiting to be unveiled. In Y. Kats (Ed.), Learning Management
Systems and Instructional Design: Best Practices in Online Education (pp. 208–
231). IGI Global.
Jesus, Â., Gomes, M. J., & Cruz, A. (2012a). A Case Based Learning Model in
Therapeutics. INNOVATIONS in Pharmacy, 3(4), Article 91.
Jesus, Â., Gomes, M. J., & Cruz, A. (2012b). A B-learning strategy for Therapeutics at
the Bachelor Level. Presented at the FIP World Centennial Congress of Pharmacy
and Pharmaceutical Sciences, Amsterdam: International Pharmaceutical
Federation.
Jesus, Â., Gomes, M. J., Ferreira, S., & Cruz, A. (2013). Conhecimento e uso das TIC
or Estudantes Da Licenciatura Em Farmácia - Estudo Exploratório (pp. 771–783).
Presented at the VIII Conferência Internacional de TIC na Educação – Challenges
2013, Centro de Competência da Universidade do Minho.
Jokar, Z., Seyyed, M., & Soozandehfar. (2011). The Relationship among EFL Learners’
Autonomy, Academic Performance, and Motivation (In Press). International
Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 8(3), 51–57.
Kim, K.-J. (2004). Motivational Influences in Self-Directed Online Learning
Environments: A Qualitative Case Study. In Association for Educational
Communications and Technology. Retrieved from
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED485041
Larue, C., & Hrimech, M. (2009). Analyse des stratégies dápprentissage dan une
méthod d’apprentissage par problémes: les cas détudiant en soin infermiers. Revue
internationale de pédagogie d l’enseignement supérieur, 25(9).
Lepper, M. (1988). Motivational Considerations in the Study of Instruction. Cognition
and Instruction, 5(4), 289–309.
Malcom, D. R., & Hibbs, J. L. (2012). Incorporating Active-Learning Techniques and
Competency Assessment into a Critical Care Elective Course. American Journal
of Pharmaceutical Education, 76(7), 129. doi:10.5688/ajpe767129
Maupin, D. L. (2003). A comparison of demographics, motivation, and learning
strategies of college students taking traditional campus-based courses and
internet-based distance learning courses (Doctorate). Florida Atlantic University.
McKeachie, W. J., Pintrich, P. R., Lin, Y.-G., & Smith, D. A. F. (1990). Teaching and
Learning in the College Classroom: A Review of the Research Literature. Ncriptal
Pubns.
Melo, R., & Mendes, R. (2008). Adaptação do Questionário Estratégias de Motivação
para a Aprendizagem (MSLQ) para a população portuguesa. Instituto Superior
Técnico.
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4945
Melo, R., Mendes, R., Gonçalves, I., Pile, M., & Carvalho, C. (2006). Questionário de
Estratégias de Motivação para a Aprendizagem – Versão Portuguesa do Manual
de Utilização. Instituto Superior Técnico.
Nolot, S. K. (2011, January 1). Exploring the Motivational Orientations of Graduate
Students in Distance Education Programs. ProQuest LLC.
Parrott, S. (1995). Future Learning: Distance Education in Community Colleges. ERIC
Digest. Retrieved from
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED385311
Phipps, R., & Merisotis, J. (1999). What’s the difference ? A review of contemporary
research on the effectiveness of distance learning in higher education. The
Institute for Higher Education Policy.
Pintrich, P., & De Groot, E. (1990). Motivational and Self-Regulated Learning
Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational
Psychology, 82(1), 33–40.
Pintrich, P.R, Smith, D. ., Garcia, T., & McKeachie, W. . (1991). A Manual for the Use
of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Nacional Center
for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
Pintrich, Paul R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-
regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459–
470.
Pintrich, Paul R, & Garcia, T. (1991). Student goal orientation and self-regulation in the
college classroom. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation
and achievement (Vol. 7) (pp. 371–402). Greenwich CT: JAI Press.
Pintrich, Paul R. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of Student
Motivation in Learning and Teaching Contexts. Journal of Educational
Psychology, 95(4), 667–86.
Pintrich, Paul R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & Mckeachie, W. J. (1993). Reliability
and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(Mslq). Educational and Psychological Measurement, 53(3), 801–813.
Qureshi, E., Morton, L. L., & Antosz, E. (2002). An Interesting Profile-University
Students who Take Distance Education Courses Show Weaker Motivation Than
On-Campus Students. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(4).
Ribeiro, C. (2000). Em torno do conceito Locus de Controlo. Mathesis, (9), 297–314.
Rinaudo, M. C., Chiecher, A., & Donolo, D. (2003). Motivación y uso de estrategias en
estudiantes universitarios. Su evaluación a partir del Motivated Strategies
Learning Questionnaire. Anales de Psicología.
Rojas, H. L. (2008). Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico.
Liberabit. Revista de Psicología, (14), 15–20.
Rotgans, J., & Schmidt, H. (2009). Examination of the context‐specific nature of self‐regulated learning. Educational Studies, 35(3), 239–253.
Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of
reinforcement. Psychological monographs, 80(1), 1–28.
Sankaran, S. R., & Bui, T. (2001). Impact of Learning Strategies and Motivation on
Performance: A Study in Web-Based Instruction. Journal of Instructional
Psychology, 28(3), 191–98.
Santos, J., & Pinheiro, M. . (2008a). Escala de Motivação para a Aprendizagem:
Estudos de validação a partir do Questionário de Estratégias de Motivação para a
Aprendizagem- MSLQ. In Actas da XIII Conferência Internacional de Avaliação
Psicológica: Formas e Contextos. Braga: Universidade do Minho.
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4946
Santos, J., & Pinheiro, M. . (2008b). Escala de Estratégias para a Aprendizagem:
Estudos de validação a partir do Questionário de Estratégias de Motivação para a
Aprendizagem – MSLQ. In Actas da XIII Conferência Internacional de Avaliação
Psicológica: Formas e Contextos. Braga: Universidade do Minho.
Santos, J., & Pinheiro, M. (2010). Assiduidade às aulas, satisfação com o curso e
estratégias de motivação para a aprendizagem em estudantes do ensino superior.
In Actas do I Congresso RESAPES (pp. 362–370). Aveiro: Universidade de
Aveiro.
Schunk, D. (1991). Self-Efficacy and Academic Motivation. Educational Psycologist,
26(3&4), 207–231.
Skinner, E. A. S., & Pitzer, J. R. (2012). Developmental Dynamics of Student
Engagement, Coping, and Everyday Resilience. In S. L. Christenson, A. L.
Reschly, & C. Wylie (Eds.), Handbook of Research on Student Engagement (pp.
21–44). Springer US.
Stevens, T., & Switzer, C. (2006). Differences between Online and Traditional
Students: A Study of Motivational Orientation, Self-Efficacy, and Attitudes.
Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 7, 90–100.
Sungur, S., & Tekkaya, C. (2006). Effects of Problem-Based Learning and Traditional
Instruction on Self-Regulated Learning. Journal of Educational Research, 99(5),
307–317.
Turner, R. M. (2002, November 21). A Pragmatic Approach to Educating: Connecting
Problem-Based Learning to Service Learning. (Doctorate).
Valle, A., Núñez, J. C., Cabanach, R. G., González-Pienda, J. A., Rodríguez, S.,
Rosário, P., … Cerezo, R. (2009). Academic goals and learning quality in higher
education students. The Spanish journal of psychology, 12(1), 96–105.
Vissar, Y. L. (2002). The Effects Of Problem-Based And Lecture-Based Instructional
Strategies On Learner Problem Solving Performance, Problem Solving Processes,
and Attitudes. In Annual Meeting of the American Educational Research
Association. New Orleans.
Williams, B. (2005). Case Based Learning—a Review of the Literature: Is There Scope
for This Educational Paradigm in Prehospital Education? Emergency Medicine
Journal, 22(8), 577–581.
Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 ISBN: 978-989-8525-22-2
4947





























!['sou daltônico, não vejo cores': novas [velhas] estratégias de ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63147de0c72bc2f2dd0466bd/sou-daltonico-nao-vejo-cores-novas-velhas-estrategias-de-.jpg)