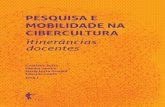As identidades docentes como fabricação da docência
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of As identidades docentes como fabricação da docência
45Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
As identidades docentes como fabricação dadocência
Maria Manuela Alves GarciaÁlvaro Moreira HypolitoJarbas Santos VieiraUniversidade Federal de Pelotas
Resumo
Neste trabalho se discute como os docentes têm sido vistos eposicionados especialmente pelos discursos educacionais das últi-mas décadas, analisando-se como têm sido definidas a sua situaçãoocupacional e a profissionalização do ponto de vista dos estudosdo campo educacional. Discute-se a identidade em relação às posi-ções de sujeito, que são atribuídas aos professores e às professorasno exercício de suas funções em contextos laborais concretos, e,ainda, em relação ao conjunto das representações postas em circu-lação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos profes-sores e professoras no exercício de suas funções. Exploram-se osargumentos quanto aos modelos de profissionalismo que transitamcomo mais ou menos adequados e debatem-se possíveis implica-ções desses modelos na construção das identidades docentes. Bus-ca-se, também, mostrar como as reestruturações educativas das úl-timas décadas, ao estimular certos modelos de profissionalismo,constroem identidades docentes mais ou menos articuladas aosobjetivos últimos das reformas, e assim procurar revelar contradi-ções, avanços, limites e possibilidades em cada um deles. Por fim,discutem-se alguns aspectos teórico-metodológicos para investiga-ções sobre a identidade docente, indicando que um dos caminhosprodutivos para a pesquisa nesse campo pode ser a busca das dife-renças, das descontinuidades, das divisões dessa categoria, privile-giando as narrativas dos professores e das professoras acerca de simesmos e de seus contextos de trabalho.
Palavras–chave
Identidade — Trabalho docente — Profissionalismo — Formação deprofessores.
Correspondência:Álvaro Moreira HypolitoFaculdade de Educação – UFPelRua Alberto Rosa, 15496010-770 – Pelotas – RSE-mail: [email protected]
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 200546
Teacher identities as a production of teaching
Maria Manuela Alves GarciaÁlvaro Moreira HypolitoJarbas Santos VieiraUniversidade Federal de Pelotas
Abstract
The work discusses how teachers have been seen and situated, inparticular by the educational discourses of the last decades,analyzing how their occupational and professional situationshave been defined from the viewpoint of the studies in theeducational field. The issue of identity is discussed in its relationwith the position of subject that is attributed to teachers inperforming their roles within concrete labor contexts, and also inits relation to the set of representations circulated by thediscourses about the manners of being and acting of teachers inthe exercise of their functions. The text explores the argumentsaround models of professionalism that circulate as more or lessadequate, and it debates possible implications of such models tothe construction of teacher identities. It also seeks to show howthe educational restructuring of the last decades, by stimulatingcertain models of professionalism, bring forth teacher identitiesmore or less articulated with the ultimate goals of the reforms,and in doing so the text tries to reveal contradictions, stepsforward, limits and possibilities in each one of the models. Lastly,the article discusses some theoretical-methodological aspects inthe study of teacher identities, indicating that one of theproductive paths for the research in this field can be the searchfor differences, for discontinuities, for divisions in thisprofessional category, emphasizing teachers' discourses aboutthemselves and about their work contexts.
Keywords
Identity — Teaching — Professionalism — Teacher education.
Contact:Álvaro Moreira HypolitoFaculdade de Educação – UFPelRua Alberto Rosa, 15496010-770 – Pelotas – RSe-mail: [email protected]
47Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
Quando se fala de uma identidade dacategoria docente, dos traços e dos aspectosque caracterizam esse grupo tão heterogêneo,poderíamos pensar imediatamente neste: todosse dedicam ao ensino. Essa é uma característi-ca comum. Mas mesmo considerando esse as-pecto aparentemente geral, quando pensado emseus efetivos processos de significação, dele sóemergem diferenças.
Os docentes são uma categoria ampla-mente constituída por mulheres, pelo menos noensino básico. Exercem seu trabalho em insti-tuições e sistemas de ensino diferenciados pornível e jurisdição: são professoras da educaçãoinfantil, professoras do ensino fundamental, doensino médio, do ensino superior, de estabele-cimentos públicos, privados, confessionais, ofi-ciais, formais, não-formais. A marca é a hetero-geneidade. E isso traz questões de vulto e ur-gentes tanto para o estudo dessa ocupaçãocomo para o encaminhamento de nossas lutaspolíticas e sindicais. As condições de trabalhoe os interesses desses sujeitos, conforme suaposição profissional e institucional, são pro-fundamente diferentes. Também a formação equalificação em termos profissionais, conformeo lugar em que a docente atua e o que ensi-na, são profundamente distintas (a educadorade crianças com menos de 6 anos, a professo-ra primária, a pedagoga ou a licenciada emuma área de conhecimento específica têm a for-mação profissional bastante diversas em termosdos conhecimentos e habilidades específicasnecessários à docência).
Por outro lado, professoras são a todoo momento seduzidas e interpeladas por discur-sos que dizem como elas devem ser e agir paraque sejam mais verdadeiras e perfeitas em seuofício. Diferentes “regimes do eu” e formas desubjetivação concorrem para essas definições elutam pela imposição de significados acerca dequem as professoras devem ser em determina-das conjunturas, como devem agir e qual oprojeto formativo que docentes e escolas de-vem levar adiante perante os desafios da cultu-ra e do mundo contemporâneo.
Tratar da identidade docente é estaratento para a política de representação que ins-tituem os discursos veiculados por grupos eindivíduos que disputam o espaço acadêmico ouque estão na gestão do Estado. É considerartambém os efeitos práticos e as políticas deverdade que discursos veiculados pela mídiaimpressa, televisiva e cinematográfica estão aju-dando a configurar. A identidade docente énegociada entre essas múltiplas representações,entre as quais, e de modo relevante, as políticasde identidade estabelecidas pelo discurso edu-cacional oficial. Esse discurso fala da gestão dosdocentes e da organização dos sistemas escola-res, dos objetivos e das metas do trabalho deensino e dos docentes; fala também dos modospelos quais são vistos ou falados, dos discursosque os vêem e através dos quais eles se vêem,produzindo uma ética e uma determinada rela-ção com eles mesmos, que constituem, a expe-riência que podem ter de si próprios.
Como diz Martin Lawn (2001), a gestãoda identidade profissional dos docentes é umatarefa central no governo e na condução dosistema educacional e escolar de uma nação.Definir pelo discurso que categoria é essa,como deve agir, quais suas dificuldades e pro-blemas é produzir uma parcela das condiçõesnecessárias à fabricação e à regulação da con-duta desse tipo de sujeito.
São diversos os veículos desse discur-so e alto o poder de penetração das demandasoficiais em jornais, nos comentários educacio-nais veiculados pela mídia, nos periódicosespecializados, etc. Enunciados sobre a escolae os docentes são recorrentes e povoam o uni-verso simbólico acerca da educação, das institui-ções escolares e dos seus agentes, autorizandoexpectativas e produzindo uma demanda pordeterminado tipo de identidade. Na última déca-da, segundo os discursos educacionais, os pro-fessores têm sido apontados como os grandesresponsáveis pelo fracasso do sistema escolarpúblico e pelo insucesso dos alunos. Esse dis-curso interpelou e vem interpelando os docen-tes da escola pública dos ensinos fundamental
48 Maria M. A. GARCIA; Álvaro M. HYPOLITO; Jarbas S. VIEIRA. As identidades docentes...
e médio (Anadon; Garcia, 2004; Hypolito et al.,2003), produzindo uma demanda que vem jus-tificando as políticas de formação e certificaçãoprofissional propostas nos últimos anos.
Por outro lado, as identidades docentesnão se reduzem ao que os discursos oficiais di-zem que elas são. Eles são mais que meros for-madores de cidadãos, como querem as políticascurriculares oficiais. Negociam suas identidadesem meio a um conjunto de variáveis como ahistória familiar e pessoal, as condições de traba-lho e ocupacionais, os discursos que de algummodo falam do que são e de suas funções.
Como os docentes têm sido vistos eposicionados especialmente pelos discursos edu-cacionais das últimas décadas? Como têm sidodefinidas a situação ocupacional e a profis-sionalização dos docentes do ponto de vista dosestudos do campo educacional? Que modelos deprofissionalismo nos são apresentados comomais ou menos adequados? Que modos de orga-nização do trabalho pedagógico nos são sugeri-dos como mais desejáveis? Modelo do trabalhoflexível? Modelo colaborativo? Modelo centradona prática? Que deslocamentos de nossa identi-dade é saudável incitar nos dias de hoje?
Identidade: um constructo emação na análise da docência
Por identidade profissional docenteentendem-se as posições de sujeito que sãoatribuídas, por diferentes discursos e agentessociais, aos professores e às professoras noexercício de suas funções em contextos laboraisconcretos. Refere-se ainda ao conjunto dasrepresentações colocadas em circulação pelosdiscursos relativos aos modos de ser e agir dosprofessores e professoras no exercício de suasfunções em instituições educacionais, mais oumenos complexas e burocráticas.
Alguns estudos que tratam dessas ques-tões já são clássicos entre nós. Especialmenteos que tratam a identidade docente do pontode vista da análise da situação ocupacional dosdocentes, considerando suas posições de acor-
do com os processos de trabalho escolar. Te-mas como a autonomia profissional e o menorou maior grau de proletarização ou as caracte-rísticas de profissionalismo dos docentes têmsido problematizados.
No final da década de 1980, o principaldebate sobre a profissão docente era em tornoda conceituação de classe social e sobre a na-tureza do trabalho docente, principalmente coma publicação de alguns artigos que demarcarame estimularam as discussões (Apple, 1987; 1988;Arroyo, 1985). Debatia-se, então, se os profes-sores e as professoras realizavam um trabalhoprodutivo ou improdutivo ou, em outras pala-vras, se a natureza do trabalho que realizavamera capitalista ou não, e se pertenciam, comogrupo social, à classe trabalhadora ou à classemédia, como tradicionalmente haviam sido con-siderados até então por estudos sociológicosclássicos.
De uma perspectiva neomarxista, al-guns trabalhos empregaram as dinâmicas degênero e classe social para uma interpretaçãodo trabalho docente no Brasil (Hypolito, 1994;1997; Vieira, 1992). Hypolito desenvolve umaanálise da constituição histórica do professora-do no Brasil, na qual discute aspectos da com-posição social e da natureza de classe do ma-gistério, baseando seus argumentos na idéia deambivalência de classe que vive esse gruposocial, com características ao mesmo tempo declasse trabalhadora e de classe média (Apple,1988), e na ambigüidade da docência, formu-lada por Fernandéz Enguita (1991). No estudode Hypolito há também um esforço de compre-ender o processo de feminização do magisté-rio, articulando categorias como gênero e clas-se social, bem como a influência do patriarca-do e da vocação como ideologias reinantes naformação da identidade docente como trabalhode mulher (Hypolito, 1994; 1997). Por fim,neste mesmo estudo, são discutidas a nature-za do trabalho docente e a teoria da intensifi-cação, considerando-se aspectos econômicos eorganizacionais do processo de trabalho, deacordo com uma abordagem que articula clas-
49Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
se, gênero e profissionalização em busca deuma interpretação do professorado como traba-lhadores culturais e intelectuais reflexivos(Hypolito, 1994; 1995).
Em pesquisa realizada com professorasda rede pública de ensino, diferentemente daqui-lo que vinha afirmando a teoria da proletarização,Vieira (1992) encontrou uma série de contradiçõesentre as demandas das políticas educacionais ecurriculares oficiais e as práticas e concepçõesdesenvolvidas pelas professoras no seu cotidianode trabalho. As professoras não se viam totalmen-te apartadas das funções conceptuais do seu tra-balho, garantindo um relativo controle sobre oensino que desenvolviam, limitando as tentativasdo Estado e do capital em conformar o trabalhoescolar às suas demandas.
O conceito de controle, pelo menos nasduas últimas décadas, começou a tornar-secentral para a compreensão do trabalho docen-te e, por conseguinte, para a compreensão daprodução e distribuição do conhecimento esco-lar. Entretanto, o controle deveria ser compre-endido para além de todo e qualquer tipo dedeterminismo sociológico, como uma relaçãode poder e não como propriedade do Estado,do capital ou de uma classe (Vieira, 2004).
Isso, todavia, não impede que a profis-sionalização docente, em boa medida, seja atin-gida pelas políticas neoliberais de reestruturaçãoeducativa (Hypolito; Vieira, 2002). Essas não sótendem a conformar o processo de trabalho do-cente, como também a definir novas identidadesdocentes. Em estudos nessa linha, analisam-seessas reformas e seus efeitos sobre o trabalho do-cente de uma perspectiva que articula teoria crí-tica com elementos do pós-estruturalismo (Ball,1994), considerando as ressignificações que osdocentes fazem das diretrizes educacionais oficiaisem seus contextos locais:
Os professores e as professoras possueminteresses e identidades ligadas a gênero,raça e classe social. As contradições exis-tentes nas lutas sociais e políticas de nega-ção ou de afirmação das culturas das mino-
rias e de diferentes grupos étnico-raciais,em relação com as classes sociais, envol-vem também os/as docentes. Os professorese as professoras, ao verem-se obrigados apadronizar o ensino desde a perspectiva deuma cultura padrão – centrada na masculi-nidade, na branquidade, no cristianismo eno eurocentrismo –, vêem-se diante de re-lações políticas de poder que envolvemseus próprios interesses de gênero, de clas-se social e étnico-raciais. (Hypolito; Vieira,2002, p. 280)
Assim, pode-se considerar que, para aconstrução de uma identidade docente,
tanto as formas de controle sobre o traba-lho docente pretendidas pelas políticas depadronização quanto as práticas de con-testação e resistência desencadeadas pordocentes não estão estabelecidas a priori.As possibilidades de legitimação ou dedeslegitimação dessas políticas neoliberaispor parte das ações docentes, envolvemnão só os interesses dos/as estudantes masos próprios interesses docentes como su-jeitos que constroem suas identidades.(Hypolito; Vieira, 2002, p. 280)
A partir das considerações e argumen-tos até aqui expostos, na próxima seção apre-sentaremos, de forma breve, argumentos sobremodelos de profissionalismo e suas implicaçõespara a identidade docente.
Modelos de profissionalismo eidentidade docente
O que está efetivamente em jogo sãodisputas em torno das diferentes concepções deidentidade, profissionalismo e profissionalização.Disputa-se o controle sobre as professoras eprofessores, sobre seus processos de trabalho esobre os significados que circulam ou podemcircular no âmbito da educação.
Vários estudos têm-se debruçado sobre o
50 Maria M. A. GARCIA; Álvaro M. HYPOLITO; Jarbas S. VIEIRA. As identidades docentes...
tema do profissionalismo docente a fim de captaros desenvolvimentos históricos que vêm configu-rando o trabalho docente e os discursos sobreprofissionalismo (Robertson, 2002; Lawn, 2001;Hargreaves; Goodson, 1996). Esta seção expõe umpouco desse debate no que se refere a aspectos daprofissionalização docente e das diferentes concep-ções de profissionalismo, baseando a classificaçãoe os principais argumentos apresentados nos tra-balhos de Hargreaves e Goodson (1996).
Profissionalismo clássico
O profissionalismo, concebido numaversão clássica, é a marca de todo trabalho quetem como meta atingir o status de outras pro-fissões consideradas altamente qualificadas, taiscomo as de médicos e advogados. Obter statusprofissional e reconhecimento, ou seja, obter ospadrões dessas posições, significa estar bemcolocado numa classificação das profissões, terprestígio público e, por último, pertencer auma profissão masculinizada. Ninguém buscaespelhar-se naquelas profissões de menor reco-nhecimento (odontologia, arquitetura, etc.)tampouco nas ditas “semiprofissões” femininas,tais como as de enfermeira, assistente social oubibliotecária. Nessa visão de profissionalismo háuma tendência de reforçar e celebrar os mode-los profissionais com mais status. Tal perspec-tiva fundamenta-se na existência de um conhe-cimento especializado, baseado em “certezascientíficas”; em uma cultura técnica partilhadapor todos; em órgãos reguladores dos aspectosético-profissionais; e, por fim, na auto-regulaçãocomo controle sobre as formas de ingresso nacarreira e as políticas de formação, sobre osaspectos da ética e sobre os padrões para oexercício prático da profissão. Todos os estudosque têm confrontado a profissão docente comesses critérios encontram a docência como umaatividade não-profissional ou semiprofissional.Na perspectiva do profissionalismo clássico, arelação com a comunidade será sempre uma re-lação formal e de submissão ao conhecimentotécnico dos profissionais.
Profissionalismo como trabalho flexível
A noção de profissional flexível estácentrada na redefinição dos aspectos técnicos dotrabalho docente de acordo com uma estratégiade desenvolvimento de culturas de colaboraçãoe de comunidades profissionais solidárias. Aconstrução dessa perspectiva com grupos espe-cíficos de docentes em escolas ou disciplinasespecíficas tem como finalidade o diálogo sobreensino e melhoria da qualidade do trabalhopedagógico. No entanto, muitas vezes essaspráticas de colaboração podem ser colonizadase controladas pelas burocracias educacionais,tornando tais práticas uma verdadeira “camisa-de-força” ora pela imposição de formascolegiadas de trabalho, ora por procedimentosburocráticos que são a própria antítese de umprofissionalismo autônomo e autogestionário.
Mesmo assim essa perspectiva podefortalecer de fato as comunidades de trabalho,enriquecer o diálogo entre as comunidadesdocentes e abrir a possibilidade de soluçõescriativas, embora restem algumas preocupaçõestais como: a relação com as comunidades doentorno escolar freqüentemente pode ser es-quecida, e o grupo pode continuar fazendo umtrabalho isolado e solitário; o mesmo pode-sedizer da relação com outros grupos docentes,tanto aqueles da própria escola quanto deoutras comunidades escolares; isso poderia,então, conduzir ao que se pode chamar decomunidades “fragmentadas”; e todo o investi-mento de um elevado profissionalismo dirigidopara um “localismo” poderia significar uma frag-mentação docente. A noção de profissionalismoe profissionalização concebidos a partir dascomunidades docentes locais substitui os prin-cípios das “certezas científicas” por princípiosdas “certezas situadas” como base para oprofissionalismo docente (Hargreaves; Goodson,1996). É por isso que a noção de profissio-nalismo como trabalho flexível influencia a iden-tidade docente à medida que pode conduzir aspráticas docentes segundo critérios flexíveisdependentes de cada localismo.
51Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
Profissionalismo como trabalho prático
Ao invés de considerar o profissionalismocomo algo fora do alcance e a profissionalizaçãocomo algo que pode ser acrescentado desde fora,através de uma ciência teórica produzida alhures,a visão da docência como profissional práticoentende que essa é uma atividade cujos saberescoincidem com os saberes práticos, experienciais,os quais são moldados por valores e propósitosdos professores e das professoras que constroemsuas próprias práticas educativas.
Uma extensão vigorosa desse discurso é anoção de “prática reflexiva”, da qual origina-se aconcepção de docente como “prático-reflexivo”(intelectual reflexivo). Nessa perspectiva, só é ca-paz de emitir julgamentos quem basear sua açãoa partir de reflexões sobre a própria prática. Essanoção amplia o campo de questionamento aoenfatizar a necessidade de uma visão mais reflexivae crítica sobre as ações (como faz Zeichner, porexemplo). Essa perspectiva contribui muito para oquestionamento do conhecimento como saberacadêmico ou como saber “científico”, permitindouma visão crítica mais avançada e pode ajudartambém a conectar a reflexão prática docente àsagendas sociais de emancipação e igualdade, per-mitindo à reflexão prática uma reflexão social e crí-tica, bem como pessoal e local. Contudo, quandoessa visão fica reduzida a uma perspectiva român-tica e individualizada pode conduzir a resultadospreocupantes. Nem todas as práticas e reflexõesdocentes são valiosas e acertadas. Por exemplo,docentes em início de carreira tendem a agir con-forme arquétipos de ensino amplamente aceitos nanossa cultura. Freqüentemente, são modelos tradi-cionais e moldam-se a partir de exemplos caricatosda docência.
Outro argumento a ser considerado éque o discurso do saber docente como reflexãoprática, ao superestimar o cotidiano docente esobrevalorizar o saber experiencial, pode dis-tanciar os professores e as professoras daque-les objetivos sociais e morais mais amplos queacabam sendo definidos exclusivamente pelaspolíticas educacionais e governamentais.
Profissionalismo como trabalho extensivo
O conceito de profissional extensivo parteda diferenciação entre profissionalidade restrita eprofissionalidade extensiva. Na profissionalidaderestrita, as habilidades docentes derivam da expe-riência; a perspectiva está no aqui e agora; osacontecimentos da sala de aula são tomados iso-ladamente; as metodologias são decisões de foroíntimo; a autonomia individual é valorizada; hápequeno envolvimento com aquelas atividadesprofissionais não diretamente relacionadas com oensino, tais como leituras de formação político-profissional mais ampla ou participação em ativi-dades de formação em serviço que não sejamcursos “práticos” orientados a um saber-fazer; oensino tende a ser visto como intuitivo por natu-reza – por vocação. Na segunda, profissionalidadeextensiva, as habilidades docentes derivam damediação entre teoria e experiência; a perspecti-va dos docentes vai além da sala de aula para al-cançar o contexto social mais amplo da educa-ção; a sala de aula é percebida na relação comoutros acontecimentos da escola; as metodo-logias de trabalho resultam da troca de experiên-cia com a comunidade docente; outras atividadessão valorizadas, tais como literatura da área ou ati-vidades de formação em serviço, tanto as de in-teresse mediato como as de interesse imediato; oensino é visto como atividade racional mais doque intuitiva. Hargreaves e Goodson, todavia,incluem as características de uma profissio-nalidade extensiva no contexto do que chamamde “novo” profissionalismo resultante das refor-mas educacionais conservadoras na Inglaterra ePaís de Gales.
Susan Robertson mostra as conseqüên-cias dessas reformas para o trabalho docentequando afirma que
Há pouco alcance na promessa do profis-sionalismo para aumentar o grau de autono-mia porque a reserva crucial de determinação– que é um controle ideológico – tem sidosem cerimônia retirada das professoras e dosprofessores e alocada nas mãos firmes dos
52 Maria M. A. GARCIA; Álvaro M. HYPOLITO; Jarbas S. VIEIRA. As identidades docentes...
administradores, dos políticos e do capitaltransnacional. A reserva de indeterminação éentão colocada num nível de decisões paraque os resultados específicos do sistema se-jam atingidos, e não num ponto de julgamen-to sobre o que poderia constituir umreferencial adequado de conhecimento. Bene-fícios para os/as professores/as são assim emgrande medida ilusórios. Docentes serão opri-midos pela pressão do (auto)gerenciamento,restrições de tempo, turmas maiores e gerên-cia de outros trabalhadores/as sobre o seu tra-balho. O que decorre daí é uma autoridadedespersonalizada – uma docência de resulta-dos confundida com profissionalismo. Aos/àsdocentes não têm sido dada ou prometida aoportunidade para negociar os novos moldesdo seu trabalho. Ao contrário, o trabalho do-cente tem sido crescentemente moldado pe-los imperativos e conveniências econômicas,e é o resultado das necessidades do Estadoem estabelecer as novas condições para acu-mulação. (1996, p. 16)
Este “novo” profissionalismo estaria sen-do requisitado para a efetiva consecução dospadrões de um currículo nacional como parte dareestruturação econômica do capitalismo, no atualcontexto da globalização. As marcas discursivasdesse “novo” profissionalismo, além do currículonacional, são a colaboração, o trabalho integra-do, a equipe, a parceria, a tutoria, o desenvolvi-mento profissional e o foco nos resultados. En-tretanto, estudos mostram que, apesar do discur-so da profissionalidade extensiva, as orienta-ções de um currículo nacional, tais como osPCNs, colocam os docentes numa “camisa-de-força”, como se estivessem “ensinando numacaixa fechada”. Essas práticas, mais do quereforçar o planejamento global da escola e opoder de decisão, sobrecarregam o trabalhodocente com tarefas e responsabilidades extras,intensificando o trabalho de tal forma que restacada vez menos tempo para preparação dasatividades de sala de aula. Muito embora algunsdocentes consigam redirecionar suas práticas
para formas alternativas e críticas de trabalho,estas não passam, muitas vezes, de formas deresistência restritas a pequenos grupos.
Profissionalismo como trabalho complexo
As rápidas mudanças provocadas pelaglobalização e pelas modificações econômicasglobais e locais têm afetado o trabalho docentee não são, como muitos poderiam pensar,mudanças cosméticas somente. Mas elas esta-riam tornando o trabalho docente mais comple-xo e difícil, mais do que um trabalho extensi-vo e sobrecarregado? Certos autores pensamque o trabalho docente deve ser encaradocomo um trabalho de alto grau de complexida-de, assim como outras profissões, e que deveser julgado pela complexidade das tarefas.
Há de se admitir que vários aspectos dotrabalho docente podem ter ficado mais com-plexos, mesmo que muitos dos critérios utiliza-dos para se fazer este julgamento estejam ba-seados em características do trabalho docentedos anos 1980, as quais teriam sido perdidas nadécada seguinte. Mesmo tratando-se de umarealidade de países desenvolvidos, é oportunaa seguinte consideração:
Em 1885, os/as docentes eram formados emsalas de aula para desempenhar funções es-pecíficas de instrução e de controle. Notranscorrer do século seguinte, transforma-ram-se em profissionais altamente educados.Em 1985, mesmo continuando com o ensi-no e o controle em salas de aula, transfor-maram-se em um corpo altamente formadoem teorias e práticas educacionais, sociolo-gia, teoria social, psicologia infantil, teoriasda aprendizagem e assim por diante. Trans-formaram-se em especialistas nos seus con-teúdos disciplinares; conquistaram o direito,como corpo profissional, a estar muito en-volvidos na determinação e no desenvolvi-mento dos conteúdos curriculares, das prá-ticas escolares e da política educacional emgeral. Em 1995, os/as docentes provavel-
53Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
mente perderam, numa única década, a maiorparte das conquistas realizadas num únicoséculo. (Harris apud Robertson, 1996, p. 28— tradução nossa)
Contudo, mesmo que se admita umamaior complexidade do trabalho docente —planejamento coletivo, poder de decisões, usode computadores, avaliação com portfólio, ava-liação colaborativa, etc. —, o que preocupa éque essas atribuições em certas áreas do pro-cesso de ensino excluem outras áreas maispolíticas e sociais do trabalho a ser realizado.Decisões sobre currículo e objetivos finais daeducação, sobre o direcionamento da educaçãode seus estudantes, têm se tornado menos“complexas” e têm sido retiradas do âmbito depoder e da autonomia docente. Se cabe aosdocentes reorganizar o trabalho mais comple-xo que lhes compete em face das demandascolocadas com as mesmas condições de tempoe de trabalho atuais, isso poderá significar apa-rente aumento de profissionalismo a curto pra-zo, porém a longo prazo pode significar maisintensificação em seu trabalho e maior desgastepara a sua saúde (Codo, 1998). Considerandoisso, Hargreaves e Goodson concluem que
a menos que governos, administradores edocentes conjuntamente possam tratar eresolver esses deságios da reestruturação dotrabalho docente com abertura, compromis-so e flexibilidade, é provável que o profis-sionalismo complexo — o profissionalismoque vem com aumento da complexidadedo trabalho — simplesmente tornar-se-ápara o trabalho docente um sinônimo deexploração e burnout! (1996, p.1-9 — tra-dução nossa)
E propõem como alternativa um profis-sionalismo pós-moderno, também definidocomo profissionalismo interativo, que teria asseguintes características: aumento das oportu-nidades e responsabilidades para exercer julga-mento discricionário sobre temas do ensino,
currículo e cuidados que afetam o alunado;engajamento com os propósitos morais e sociaise com os valores do que ensinar, ao lado dosproblemas de currículo e avaliação em que es-ses propósitos estão incluídos; trabalhar emculturas colaborativas de apoio, a fim de par-tilhar o conhecimento especializado e resolveros problemas advindos da prática profissional,ao invés de se engajar em trabalhos conjuntoscomo mecanismo motivacional para imple-mentação de ordens decididas externamente;heteronomia ocupacional no lugar de umaautonomia autoprotetora; compromisso comum cuidado ativo e não somente com um ser-viço analgésico para estudantes; luta e buscaautodirigida para uma aprendizagem contínuarelativa às suas próprias especialidades e pa-drões de prática, no lugar de uma complacên-cia com obrigações enfraquecedoras de mudan-ças sem fim exigidas por outros (muitas vezessob a aparência de aprendizagem contínua ouaperfeiçoamento); criação e reconhecimentodas tarefas de alta complexidade, com níveis destatus e remuneração apropriados para tal com-plexidade.
Tentando distanciar-se das definiçõesclássicas de profissionalismo e autonomia,Hargreaves busca uma alternativa àquela auto-nomia autoprotetora, que circunscreve todo opoder de decisão e de competência ao profis-sional. Definitivamente essa visão de autonomianão existe mais para o trabalho docente, muitoembora possa se discutir que o mito de que umaautonomia político-pedagógica seria típico doprofissionalismo docente, ou que possa haveruma autonomia relativa pelo menos quanto adecisões técnicas de sala de aula. Obviamente,a busca de um modelo de autonomia baseadono profissionalismo clássico não é só inadequa-do, mas insuficiente para os desafios educativosque se colocam para o magistério. Contudo, aheteronomia pode não ser uma alternativasatisfatória. Pensamos que formas coletivas deexercer o trabalho pedagógico, que consideremos saberes docentes teóricos e práticos e que, aomesmo tempo, considerem a comunidade esco-
54 Maria M. A. GARCIA; Álvaro M. HYPOLITO; Jarbas S. VIEIRA. As identidades docentes...
lar como parte integrante de todo o processoeducativo, podem ser construídas. Como indicaHypolito:
Profissionalismo tem que significar amelhoria do trabalho profissional, mas tam-bém a melhoria da qualidade social do ensi-no. Assim, as comunidades, grupos e movi-mentos sociais têm que ser auscultadosquanto à qualidade social da educação —não sendo reduzidos a “clientes”, como quero neoliberalismo, mas como agentes quepossuem identidades de raça, sexo e classeque, muitas vezes, podem colidir com asidentidades construídas pelos docentes. Des-sa maneira, a profissionalização tem que in-cluir o senso político de lidar com a idéia deque as definições de curriculum, conteúdose métodos, devem resultar menos da sabe-doria iluminada do profissional e mais dasinter-relações com as realidades culturaisnas quais se circunscreve o ato educativo.(Hypolito, 1999, p. 98-99)
Os modelos de profissionalismo, embo-ra possam contribuir para uma melhor compre-ensão das implicações das reformas sobre ocotidiano escolar e a identidade profissionaldos docentes, não podem ser tomados de for-ma pura e excludente, pois não há modelosfixos. São categorias analíticas que visam mos-trar possibilidades e implicações de modelosque convivem em contradição. Algumas dascaracterísticas apontadas anteriormente podemser encontradas nas políticas de formação eavaliação docente propostas no Brasil desdemeados da década de 1990.
Investigando a identidadedocente: algumasconsiderações
A identidade profissional dos docentes éassim entendida como uma construção socialmarcada por múltiplos fatores que interagementre si, resultando numa série de representações
que os docentes fazem de si mesmos e de suasfunções, estabelecendo, consciente e inconscien-temente, negociações das quais certamente fa-zem parte suas histórias de vida, suas condiçõesconcretas de trabalho, o imaginário recorrenteacerca dessa profissão — certamente marcadopela gênese e desenvolvimento histórico da fun-ção docente —, e os discursos que circulam nomundo social e cultural acerca dos docentes eda escola.
As possibilidades de investigação dasidentidades docentes são múltiplas, dada aimensa variedade das condições de formação eatuação profissional desses sujeitos, a diversi-dade de artefatos culturais e discursivos envol-vidos na produção dessas identidades e a com-plexidade dos fatores que interagem nos pro-cessos de identificação dos docentes com oseu trabalho. As pesquisas, portanto, serão sem-pre parciais (aliás como com qualquer outroobjeto ou tema de estudo), provisórias e restri-tas a alguns aspectos ou fatores implicados nosprocessos de identificação dos professores.Perder a ilusão de um conhecimento definitivoe de totalidade acerca dessa questão é umaprecaução epistemológica importante se consi-derarmos a heterogeneidade da categoria do-cente e a própria instabilidade das identidadesno mundo contemporâneo.
Em um tempo recente, as investigaçõesque problematizavam a identidade e a profis-sionalização docente parecem ter buscado as-pectos unificadores e fundantes da identidadeprofissional dessa categoria: a classe social, anatureza do processo de trabalho, o gênero, ahistória de vida, a formação profissional, etc.Talvez um caminho produtivo para a pesquisaseja buscar as diferenças, as descontinuidades,as divisões dessa categoria, privilegiando as nar-rativas dos professores e das professoras acercade si mesmos e de seus contextos de trabalho.Não para reificar seus próprios pontos de vistaou tomá-los como a medida mais justa do quede fato acontece, mas talvez para nos aproxi-marmos da dinâmica contraditória e fragmentadaem que estão mergulhados.
55Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005
Referências bibliográficas
ANADON, S.; GARCIA, M. M. A. Trabalho e identidade docente nos discursos educacionais oficiais da Revista “Nova Escola”. In:SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL – ANPED-SUL, 5., Mesa-RedondaMesa-RedondaMesa-RedondaMesa-RedondaMesa-Redonda... Curitiba: PUC-PR, 2004.
APPLE, M. W. Relações de classe e de gênero e modificações no processo de trabalho docente. Cadernos de PesquisaCadernos de PesquisaCadernos de PesquisaCadernos de PesquisaCadernos de Pesquisa, SãoPaulo, n. 60, p. 3-14, fev. 1987.
______. Ensino e trabalho feminino: uma análise comparativa da história e ideologia. Cadernos de Pesquisa,Cadernos de Pesquisa,Cadernos de Pesquisa,Cadernos de Pesquisa,Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 64,p. 14-23, fev. 1988.
ARROYO, M. Mestre,Mestre,Mestre,Mestre,Mestre, professor professor professor professor professor,,,,, tra tra tra tra trabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhador. Belo Horizonte: FE-UFMG, 1985.
BALL, S. Education reform:Education reform:Education reform:Education reform:Education reform: a critical and post-structural approach. Buckingam: Open University Press, 1994.
CODO, W. (org.) EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação: carinho e trabalho. UnB/CNTE, Petrópolis: Vozes, 1998.
HARGREAVES, A.; GOODSON, I. Teachers’ professional lives: aspirations and actualities. In: ______. TTTTTeachers’ professionaleachers’ professionaleachers’ professionaleachers’ professionaleachers’ professionallivesliveslivesliveslives. London/Washington DC: Falmer Press, p.1-27, 1996.
HYPOLITO, A. M. Processo de trabalho na escola: uma análise a partir das relações de classe e de gêneroProcesso de trabalho na escola: uma análise a partir das relações de classe e de gêneroProcesso de trabalho na escola: uma análise a partir das relações de classe e de gêneroProcesso de trabalho na escola: uma análise a partir das relações de classe e de gêneroProcesso de trabalho na escola: uma análise a partir das relações de classe e de gênero. 1994. Dissertação(Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1994.
______. Relações de gênero e de classe social na análise do trabalho docente. Cadernos de EducaçãoCadernos de EducaçãoCadernos de EducaçãoCadernos de EducaçãoCadernos de Educação, Pelotas, n. 4, p. 5-18, 1995.
______. TTTTTrararararabalho docente,balho docente,balho docente,balho docente,balho docente, classe social e relações de gênero classe social e relações de gênero classe social e relações de gênero classe social e relações de gênero classe social e relações de gênero. Campinas: Papirus, 1997.
______. TTTTTrararararabalho docente e profissionalizaçãobalho docente e profissionalizaçãobalho docente e profissionalizaçãobalho docente e profissionalizaçãobalho docente e profissionalização: sonho prometido ou sonho negado? Desmistificando a profissionalização domagistério. Campinas: Papirus, p. 81-100, 1999.
HYPOLITO, A. M.; VIEIRA, J. S. Reestruturação educativa e trabalho docente: autonomia, contestação e controle. In: Hypolito, A. M.;Vieira, J. S.; Garcia, M. M. A. TTTTTrararararabalho docentebalho docentebalho docentebalho docentebalho docente: formação e identidades. Pelotas: Seiva Publicações, 2002. p.271-283.
HYPOLITO, A. M. et al. Trabalho docente, profissionalização e identidade: contribuições para a constituição de um campo de estudo.Educação em Revista, Belo Horizonte, n.37, p.123-138, jul.2003.
LAWN, M. Os professores e a fabricação de identidades. Currículo Sem FronteirasCurrículo Sem FronteirasCurrículo Sem FronteirasCurrículo Sem FronteirasCurrículo Sem Fronteiras, v. 1, n. 2, jul./dez. 2001. Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1iss2articles/lawn.htm.
ROBERTSON, S. Teachers’ work, restructuring and postfordism: constructing the new ‘professionalism’. In: HARGREAVES, A.;GOODSON, I. TTTTTeachers’ professional liveseachers’ professional liveseachers’ professional liveseachers’ professional liveseachers’ professional lives. London/Washington DC: Falmer Press, 1996.
______. Política de re-territorialização: espaço, escola e docentes como classe profissional..... Currículo Sem Fronteiras Currículo Sem Fronteiras Currículo Sem Fronteiras Currículo Sem Fronteiras Currículo Sem Fronteiras. v. 2, n.2, jul./dez. 2002. Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol2iss2articles/Robertson.htm
Professores e professoras são sujeitos di-vididos entre éticas e demandas distintas, e, mui-tas vezes, contraditórias: burocráticas, morais,pessoais, profissionais, técnicas, etc. Sair do con-forto de buscar enquadrar a identidade profissio-nal docente em alguns tipos ideais ou explicá-la apartir de algum elemento fundacional talvez seja omaior desafio que podemos enfrentar relativamentea essas questões. Isso não significa desconsiderar
as descrições expostas anteriormente de processosde trabalho que ajudam a caracterizar diferentesconcepções sobre profissionalismo docente. Con-tudo, é importante resguardar que essas descriçõesnão podem ser concebidas como modelos puros,mas como práticas discursivas, mais ou menos re-forçadas pelos discursos oficiais e outros discursosque interpelam os professores e as professoras naprodução de suas identidades.
56 Maria M. A. GARCIA; Álvaro M. HYPOLITO; Jarbas S. VIEIRA. As identidades docentes...
VIEIRA, J. S. Limites da racionalização do processo de trabalho docenteLimites da racionalização do processo de trabalho docenteLimites da racionalização do processo de trabalho docenteLimites da racionalização do processo de trabalho docenteLimites da racionalização do processo de trabalho docente. 1992. Dissertação (Mestrado) – Faculdade deEducação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 1992.
______. Um negócio chamado educaçãoUm negócio chamado educaçãoUm negócio chamado educaçãoUm negócio chamado educaçãoUm negócio chamado educação: qualidade total, trabalho docente e identidade. Pelotas: Seiva Publicações, 2004.
Recebido em 27.07.04
Aprovado em 03.03.05
Maria Manuela Alves Garcia é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente éprofessora da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Pelotas e, também, atual coordenadora do Programa dePós-Graduação em Educação na mesma universidade.
Álvaro Moreira Hypolito é doutor em Currículo e Ensino pela Universidade de Wisconsin, Madison (EUA). Atualmente éprofessor da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Pelotas, e um dos editores da revista Currículo semFronteiras <www.curriculosemfronteiras.org>.
Jarbas Santos Vieira é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Faculdade deEducação na Universidade Federal de Pelotas.