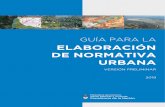A ação causal-normativa
Transcript of A ação causal-normativa
A ação causal-normativa
Pedro José Rocha e Silva
Sumário: Introdução. 1. Contexto e conceito de ação contemporâneos ao
surgimento da teoria causal-normativa. 2. Neokantismo. 3. A ação causal-
normativa. 4. Elementos e formas da ação. 5. Críticas à concepção neokantiana
de ação. 6. Contribuições do modelo. 7. Conclusões.
Resumo: Em um período em que a cientificidade estava atrelada ao positivismo
naturalista, a Escola Sudocidental Alemã propõe uma retomada aos
ensinamentos de Kant. A dualidade entre o ser e o dever ser recebe nova
atenção e o Direito volta a ser tratado como ciência cultural que o é. Essa
perspectiva filosófica, acrescida das críticas ao conceito causal-naturalístico de
ação, serviram como substrato para o desenvolvimento da ação causal-
normativa. A nova concepção de conduta, apesar de não ser dotada de
uniformidade, estabeleceu um novo paradigma caracterizado pela
normatividade, especialmente desenvolvido no âmbito da ação esperada. A
concepção desenvolvida por expoentes como Mezger, Mayer, Sauer e Radbruch
não se manteve imune às críticas, contudo, são inegáveis suas contribuições (e
inspirações) à Teoria do Delito.
Palavras-chaves: Neokantismo. Ação causal-normativa. Paradigma normativo.
Ação esperada. Críticas. Contribuições.
Introdução
O desenvolvimento da Teoria do Delito tem a conduta como alicerce
elementar e primário no conceito escalonado de crime, o que facilita a análise do
caso penal, além de repelir o Direito Penal do autor, tornando o estudo dessa
indispensável para a compreensão daquela.
A conduta se consolidou como componente do crime que suporta as
predicações, sem, contudo, as pré-determinar1, sendo, assim, a pedra angular
1 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: questões fundamentais: a doutrina geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2007. t. I. p. 251.
da Teoria do Delito, pois é com base nela que se formulam todos os juízos
componentes do conceito de crime: a “tipicidade é a adequação da conduta com
a norma; a antijuridicidade é o juízo de reprovação da conduta, e a culpabilidade
é o juízo de reprovação sobre o autor da conduta”2.
Além de cumprir a função de definição e ligação, por impedir a presença
das predicações posteriores, de forma adiantada, em seu conceito, o que só é
possível por possuir em si o mínimo de materialidade indispensável para suportá-
las3, a conduta exerce as funções de classificação e delimitação.
Ao cumprir a função de classificação, o conceito da conduta exerce um
papel de significado lógico por abranger as formas de comportamento possíveis
de serem punidas, atuando como um elemento comum entre elas (forma
comissiva e omissiva, forma dolosa e culposa).
Ao desempenhar a função de delimitação, limita o âmbito do que possa
vir a ser considerado relevante para a tutela penal ao determinar os casos em
que não há ação.
Observadas as funções dos elementos primários do delito, por meio do
presente trabalho, pretende-se traçar considerações acerca das contribuições
oriundas da Escola Neokantiana para o desenvolvimento do conceito da conduta
humana, sua importância no âmbito da Teoria do Delito, bem como os reflexos
dela ainda presentes no Direito Penal contemporâneo.
1. Contexto e conceito de ação contemporâneos ao surgimento da
teoria causal-normativa
Por volta de 1880 iniciou-se o desenvolvimento do modelo causal-
naturalista. Essa concepção do comportamento humano encontrou seu
substrato filosófico no positivismo naturalista, que acondicionava o status
2 BRANDÃO, Cláudio. Curso de direito penal: parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 135. 3 DIAS, op. cit., p. 252-253.
científico de qualquer ramo do conhecimento humano às dependências da
possibilidade de demonstração da veracidade de seus conceitos, o que entendia
ser realizado apenas por meio de critérios inerentes às ciências exatas e
naturais. Tratava-se de um método próprio e decorrente da física mecanicista-
newtoniana.
As ideias do positivismo, caracterizadas pela regência das normas das
ciências da natureza, foram introduzidas ao Direito de tal forma que os juristas
da época buscavam firmar o caráter científico do Direito no caudal de ideias
positivistas naturalistas então vigentes. Isso ocorreu, inclusive, com a própria
noção de vontade. Germán Aller4, ao abordar o tema, menciona, como exemplo,
as lições de Rudolf von Jhering:
Desde el pensamento de corte biologicista de Jhering (1818-1892), en
su afamado Der Zweck im Recht (“El fin em el Derecho”) manifestaba:
Todo acontecimiento, es decir, toda modificación en el mundo físico,
es la resultante de una modificación anterior y para su necesaria
existencia. Este postulado de la razón, por la experiencia confirmado,
es el fundamento de lo que se llama la “ley de causalidade”. Esta ley
también rige la voluntad.
Como decorrência da visão filosófica predominante, a noção de conduta
humana foi reduzida a uma relação de causalidade, sendo considerada um
movimento corporal voluntário, consistente na causa de um efeito, a alteração
no mundo exterior, ou seja, o resultado naturalístico.
Acerca do aspecto voluntário da ação, Von Liszt, discípulo de Jhering,
afirmava que o conteúdo da voluntariedade, indispensável para a existência da
ação, não residia no livre arbítrio, mas na ausência de coação mecânica ou
física5. Ademais, a vontade dizia respeito ao querer movimentar-se e não
necessariamente ao efeito da conduta, o que ressalta o caráter objetivo que a
4 ALLER, Germán. Dogmática de la acción y práxis penal. Montevideo – Buenos Aires: B de F, 2009. p. 24. 5 VON LISZT, Franz. Tratado de Direito Penal Allemão. Tradução: Dr. José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C., 1899. p. 197. t. I.
ela foi atribuído pela concepção causal-naturalista, conforme destacado por
Paulo Busato6.
A própria concepção de resultado, como consequência da conduta,
mantinha estreita relação com a dimensão naturalística da física newtoniana,
haja vista que era entendido como um fenômeno sensorialmente perceptível,
materializado em uma mudança no mundo exterior.
Contudo, não obstante as contribuições oriundas dessa primeira
concepção da conduta humana no âmbito do Direito Penal, as críticas não
demoraram a surgir. Foram apontados pontos sensíveis da concepção de ação
arquitetada substancialmente por Von Liszt e Beling, destacando a inaptidão do
modelo para resolver de maneira satisfatória questões referentes a: (a)
omissão7, (b) nexo causal8; (c) tentativa9 e (d) crime culposo.
A forma como foi desenvolvido o conceito de resultado impossibilitava
uma concepção adequada da conduta omissiva, pois impunha como necessária
a distensão muscular, o movimento corporal causador de uma modificação no
mundo exterior. Não por outro motivo, o próprio Von Liszt atrelou no conceito de
omissão a causação naturalista ao “dever jurídico que obriga a obrar”10, o que
revela a insuficiência da teoria causal.
No tocante ao nexo causal, os postulados causais-naturalistas
confrontavam-se com a existência dos crimes formais e de mera conduta, uma
vez que o modelo contestado exigia a modificação do mundo exterior.
Ao desconsiderar a finalidade do comportamento, impedia-se o adequado
enquadramento típico da conduta, o que refletiu e limitou o desenvolvimento
6 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 7/8. 7 Cf. GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em direito penal: um estudo da conduta humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. Coleção direito e ciências afins. v. 2. p. 84-87; MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução: Cláudia Viana Garcia, José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 155; VON LISZT, op. cit., p. 206 e ss.. 8 Cf. GUARAGNI, op. cit., p. 88. 9 GUARAGNI, op. cit., p. 89-90. 10 VON LISZT, op. cit., p. 208.
teórico da tentativa. Ademais, a causalidade, por si só, não conseguia determinar
qual o tipo penal que seria percorrido.
Em relação ao crime culposo, não havia meios para se conceber a noção
de deveres de cuidado apenas em ideias decorrentes das ciências físico-
naturais.
Além disso, a desconsideração do caráter subjetivo da ação, por
consequência, não obstaculizava a punição de causações físicas de resultados.
Não bastasse as respostas insatisfatórias às questões apontadas, o
método em comento foi alicerçado em premissas (da física newtoniana) que
contrastam com as ciências culturais, relacionadas aos acordos interpessoais,
como o Direito Penal. Nesse ponto, Jorge de Figueiredo Dias elucida11:
a concepção da escola clássica foi abandonada no preciso momento
em que se pôde compreender que não mais eram defensáveis os
fundamentos ideológicos e filosóficos sobre que assentava. É
verdade que a ela coube o mérito indeclinável de, pela primeira vez, ter
erigido todo um sistema do crime assente numa rigorosa metódica
categorial-classificatória, dotado de uma notabilíssima clareza e
simplicidade (com a distinção entre as vertentes objetctiva e subjectiva
do facto punível) e, por sobre tudo isto, baseado numa salutar
preocupação de segurança e de certeza, congenitamente requerida
pela ideia do Estado de Direito e por uma realização prática do princípio
da legalidade. Mas é também verdade que as suas insuficiências não
mais podiam ser escondidas: o direito em geral – e o direito penal de
forma particular – não participa do monismo metodológico (e
ideológico) das ciências naturais, trata com realidades que excedem a
experiência psicofísica e se não inscrevem de modo exclusivo no
mundo do ser; como, por outro lado, o pensamento jurídico não se
deixa comandar por uma metodologia de cariz positiva nem se esgota
em operações de pura lógica formal. Logo que tudo isto se
compreendeu, o sistema clássico do conceito de facto punível estava
maduro para ser superado por uma nova concepção.
11 DIAS, op. cit., p. 241/242.
Essa nova compreensão, encabeçada por Mayer, Mezger, Sauer e
Radbruch, além de assinalar as falhas da escola clássica, desenvolveu um novo
para paradigma, pautado na valoração jurídico-penal.
2. Neokantismo
A superação da escola positiva naturalista teve como precursora a Escola
Sudocidental Alemã, que extraiu seu embasamento filosófico principalmente das
obras de Windelband, Stamler, Rickert e Lask.
O retorno à filosofia de Kant conduziu à rejeição da obtenção do
conhecimento exclusivamente por meio dos sentidos, como proposto pelo
empirismo, uma vez que esse método não se coloca como adequado para a
obtenção da razão pura, da verdade em sua essência12.
Em um momento em que os fenômenos naturais, incluído o
comportamento humano, recebiam uma explicação de caráter mecanicista, as
lições do Professor Catedrático da Universidade de Königsberg robusteceram o
ataque à causalidade em virtude da importância por ele atribuída ao livre-arbítrio,
como fator necessário à nossa experiência da obrigação moral. Como observou
Sauer, “el Derecho Penal, como la Ética, trata el problema de la responsabilidad
y ésta sólo se puede afirmar en la existencia de la libertad de la vontade”13.
Além disso, retomou-se a importância atribuída pelo filósofo ao dualismo
ser e dever ser: esse é objeto das ciências culturais e das leis que determinam
o agir do sujeito, ao passo que aquele é objeto das ciências naturais e das leis
universais.
12 “Ainda, porém, que todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso surge ele apenas da experiência” (KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução e notas: Fernando Costa Mattos. Petrópolis, RJ: Vozes, Bragança Paulista. SP: Editora Universitária São Francisco, 2012. p. 45). 13 SAUER, Gullermo. Derecho Penal: parte general. Tradução: Juan del Rosal e José Cerezo Mir. Barcelona: Bosch, 1956. p. 81.
Partindo dessas premissas, os neokantistas promoveram um
redimensionamento das ciências culturais, realçando sua importância e seu
método próprio, “mais compreensivo e valorativo do que explicativo e
descritivo”14. Nessa linha, Guillermo Sauer, um dos expoentes do período,
apontou a inadequação do tratamento das leis como fenômenos matemáticos
científico-naturais15.
Assim, o aporte neokantiano foi responsável por evidenciar a falácia
naturalista, cujo erro se encontrava no plano sistemático, na construção de um
sistema predominantemente a base de conceitos empíricos16. Além disso,
propôs uma metodologia própria que condicionou a conversão dos eventos
naturais em objeto do Direito ao conhecimento pela razão, com o emprego de
um método que, no caso do Direito, por ser ciência cultural, é o valorativo17.
O delito deixou de ser considerado unicamente como fenômeno da
natureza, passando a ser tratado como um acontecimento que se apresenta na
realidade social. Não por outra razão, M. E. Mayer fundamentou o conceito de
delito na contradição às normas da cultura avalizadas pelo Estado18.
Desse modo, ficaram fragilizados os argumentos ideológicos e filosóficos
que sustentavam a escola clássica, tendo a premissa monista metodológica das
ciências naturais sido colocada como inadequada para o Direito Penal, o que se
deu com o retorno à Kant e a consequente restauração da metodologia própria
das ciências do espírito, caracterizadas pelo compreender e valorar.
14 BUSATO, op. cit., p. 11. 15 SAUER, op. cit., p. 49. 16 SCHÜNEMANN, Bernd (compilador). El sistema moderno del Derecho Penal: Questiones fundamentales: Estudios em honor de Claus Roxin em su 50º aniversario. 2 ed. Tradução e notas: Jesús María Silva Sánchez. Montevideo – Buenos Aires: B de F, 2012. p. 27. 17 MARTINEZ ESCAMILLA, Margarita. Origen de La moderna doctrina de La imputación objetiva. Sus antecedentes recientes. Madrid: EDERSA, D.L.1992. p. 11/12. 18 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, William Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal brasileiro: parte geral: princípios fundamentais e sistema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 140. Vide também: MAYER, Max Ernst. Derecho penal: parte general. Tradução: Sergio Politoff Lifschitz. Montevideo – Buenos Aires: B de f, 2007. p. 217-225.
3. A ação causal-normativa
No tocante à conduta humana, a repercussão da mudança do paradigma
filosófico proposta pelo modelo neokantiano, afastou o naturalismo mecanicista
em prol do causalismo estruturado axiologicamente, que arquiteta a ação como
um conceito valor19.
Edmund Mezger apontou o caráter puramente formal do conceito
desenvolvido por Beling20. Giuseppe Bettiol salientou que a conduta humana
distingue-se de qualquer outro coeficiente causal justamente pelo fato de não ser
um coeficiente “cego”, mas um fator causal “inteligente”, que, mesmo se
colocando entre outros fatores causais, sabe dominá-los e dirigi-los em vista do
fim que o agente pretende realizar. O penalista italiano afirmou ainda, de forma
expressa, compartilhar a opinião de que é no mundo dos valores que a ação
deve ser enquadrada e entendida21.
A concepção naturalística após essas e outras críticas não se manteve
intacta. Um dos casos em que ficou evidenciada a necessidade de um novo
conceito de ação refere-se aos crimes contra a honra. Neles, apesar da
manifestação atacar a estima do ofendido, não há fenômenos físicos ou
fisiológicos que derivam da conduta, resultando em uma incompatibilidade com
a noção de resultado apregoada, ou seja, como efeito materializado da (causa)
conduta. As tentativas elaboradas para contornar o problema, normalmente
atreladas às explicações relacionadas aos nervos motores, mostraram-se falhas.
Diante das críticas tecidas ao modelo então dominante, buscou-se um
conceito que abandonasse o embasamento no ser proposto pela escola clássica
e passasse a estruturá-lo em um conceito jurídico-penal. Deixou-se de alicerçá-
lo em impulsos nervosos, pois a realidade material foi deslocada da essência do
conceito de ação, levando-se em conta, a partir de então, a realidade referida
19 ALLER, op. cit., p. 27. 20MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos
Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 89. 21 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Tradução: Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva Franco. v. I. p. 267/268.
aos valores22. A ação não é mais um evento naturalístico avalorado; passou a
suportar juízos de valor, a ser compreendida e valorada. Nas palavras de
Mezger23: “Deve admitirse, desde luego, que el concepto de acción en el sistema
del Derecho penal es, en última instancia, un concepto valorativo”.
Cumpre destacar que a ação não deixou de ser causal, contudo, deu-se
mais ênfase ao aspecto valorativo. A obediência do comportamento humano a
uma vontade ganha relevância, sendo seu conteúdo analisado na culpabilidade,
onde estavam situados o dolo e a culpa.
A concepção causal-normativa defendida pelos neokantistas outorgou à
ação a posição inicial na teoria do delito, retirando dela características fundadas
na realidade, como maneira de adequar o conceito ao sistema orientado por
valores. A carga naturalista foi retirada do conceito, tornando-o independente de
compromisso com conteúdos pré-jurídicos, por meio da generalidade24.
Não por outra razão, foi nesse período que surgiram diversos conceitos
abstratos para o comportamento humano, como tentativa de adaptar a inclusão
da omissão, caracterizada pela ausência de uma ação esperada, e da comissão
sob uma mesma fórmula, destacando-se dentre elas as conceituações de
conduta como motivada atuação da vontade com inclusão de seu resultado
(Mayer25), comportamento voluntário (Von Hippel26), conduta voluntária
(Rittler27), conduta humana concreta (Mezger28) ou ainda causação voluntária
(Sauer29).
Observa-se, assim, a preocupação com a função de classificação ou
unificação do conceito de ação na busca por um supraconceito, como elemento
22 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raol. Tratado de derecho penal: parte general. Buenos Aires: Ediar, 1981. p. 100. 23 MEZGER, Edmund. Modernas orientaciones de la dogmática jurídico-pena. Tradução: Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 21. 24 GUARAGNI, op. cit., p. 111. 25 MAYER, Max Ernst. Derecho penal: parte general. Tradução: Sergio Politoff Lifschitz. Montevideo – Buenos Aires: B de f, 2007. p. 129. 26 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal: Parte General. Tradução: José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993. p. 185. 27 JESCHECK, op. cit., p. 185. 28 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 88. 29 SAUER, op. cit., p. 46.
fundamental do delito, válido para congregar as formas de realização do delito
doloso e culposo, omissivo e comissivo.
Max Ernst Mayer afirma que a ação e suas modalidades não são as únicas
relações importantes como pressupostos da pena. Contudo as demais, não
admitem uma caracterização unitária, ou ao menos com tanta exatidão, como
ela30.
Edmund Mezger, por sua vez, assinala que a ação possui uma dupla
tarefa, pois é essencial para classificar quais sejam os eventos jurídicos penais
significativos (função de delimitação) e imprescindível na definição do delito,
porquanto proporciona o elemento que inter-relaciona todos os demais
elementos do fato punível (função de ligação)31, garantindo a unidade do
sistema32, atuando como o substantivo ao qual as características do delito se
integram como adjetivos, como predicados do sujeito (conduta)33.
Justamente por esse motivo, considera que o conceito de ação deve
proporcionar e conter uma descrição o mais neutra possível de todo
acontecimento que se leva em conta no aspecto jurídico penal34, não devendo
carregar, de antemão, valorações desnecessárias. Somente assim, exercerá a
função de limite externo sem excluir nada sobre o que resulte necessário um
ulterior conhecimento jurídico-penal (função de delimitação).
30 MAYER, op. cit., p. 125. 31 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 86., 32 MEZGER, Edmund. Modernas orientaciones de la dogmática jurídico-penal. Traducción del alemán de Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo blanch, 2000. p. 23. 33 BUSATO, op. cit., p. 50-51. 34 “La apreciación normativa (el deber ser juridico) de sus distintos elementos, no tiene lugar en él, sino en sus elementos atributivos de la antijuridicidad y de la culpabilidad; de ahí que sea un elemental error metódico el querer deducir de los elementos ontológicos de la acción, orientaciones para la estructuración normativa de la anti juridicidad y de la culpabilidad. Por su parte, el concepto de acción sólo puede presentar exclusivamente las posibilidades ontológicas de valuación a las que es posible conectar una selección normativa ulterior. De ahí se deduce, con finalidades prácticas, que el concepto de acción, dado que debe proporcionar y contener una descripción lo más "neutral" posible de todo acontecimiento que se tome en cuenta, en general, en el aspecto jurídico-penal, no deba ser recargado de antemano con valoraciones innecesarias. Ese concepto de acción traza, en primer término, un límite extremo que no puede excluir nada sobre lo cual resulte necesario un ulterior conocimiento jurídico-penal. "Precisamente, los intereses del derecho penal pueden exigir, y de hecho exigen, que no se recargue de antemano dicho concepto con propiedades que harían imposible conectar en él un análisis particular de los elementos distintivos del delito."” (MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 87/88).
A respeito da concepção de Gustav Radbruch35, coloca-se ela juntamente
a de Eberhardt Schmidt, como outras vertentes neokantianas acerca do conceito
de ação. Como exposto por Michelangelo Corsetti36, Radbruch foi orientado por
Franz Von Liszt em sua tese de doutoramento, que abordava a teoria da causa
adequada. No entanto, a pesquisa tomou novo rumo ao se voltar à análise da
possibilidade de um tratamento uniforme para a ação e a omissão. Essa foi a
premissa adotada como ponto de partida da pesquisa, até mesmo para não
renegar, de início, a posição de seu orientador. Contudo, a hipótese inicial não
se consolidou ao longo das pesquisas realizadas, concluindo Radbruch que o
sistema deveria ser arquitetado em dois conceitos desconectados entre si, pois
entendia pela impossibilidade de se abarcar em um único conceito os
comportamentos comissivo e omissivo.
Negou, assim, autonomia conceitual à conduta dentro do sistema analítico
de crime ao notar a inaptidão dela em cumprir uma função dentro da Teoria do
Delito. Essa percepção coincidiu com a proposta da Escola de Baden do
dualismo ser e dever ser, uma vez que, por decorrência dele, somente interessa
ao Direito Penal as condutas enquanto compreensíveis e valoráveis, devendo
ser objeto de estudo apenas os comportamentos humanos selecionados pelo
tipo.
Dessa forma, o conceito de conduta humana foi eliminado pelo
doutrinador e o que dele considerava relevante foi absorvido pelo tipo penal,
propiciando um enfoque econômico relativo ao tempo dispendido dentro da
análise sistêmica de crime referente a qualquer caso concreto e aos esforços
dogmáticos, pois não mais havia que se buscar um superconceito de conduta37.
Outra vertente conceitual considerada por alguns neokantiana38 e por outros
um modelo de transição para uma etapa posterior39 foi proposta por Eberhardt
35 Cf. BUSATO, op. cit., p. 7; GUARAGNI, op. cit., p. 106/107; MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 103. 36 CORSETTI, Michelangelo. El concepto de acción y su importancia para el sistema del derecho penal (Gustav Radbuch). In: Revista Justiça e Sistema Criminal: Modernas Tendências do Sistema Criminal. Curitiba: FAE Centro Universitário, 2011. v. III. (5). p. 279 e ss. 37 GUARAGNI, op. cit., p. 107. 38 Cf. GUARAGNI, op. cit., p. 112/114. 39 JESCHECK, op. cit., p. 185.
Schmidt. O modelo, também guiado pela valoração no Direito Penal, limitou a
compreensão da conduta aos fenômenos sociais, atuantes na realidade social,
afastando do conceito os fenômenos meramente fisiológicos do ponto de vista
das ciências naturais.
4. Elementos e formas da ação
A doutrina neokantiana40 elencava como componentes da ação o ato de
vontade (ou resolução motivada), concebido como ponto de partida e
fundamento da conduta, verificado no plano psíquico interno, a materialização
do ato de vontade, verificada no mundo externo, e o resultado ulterior.
A inclusão do resultado na ação, como apontado por M. E. Mayer, era
controverso e rechaçado por muitos, não obstante, o doutrinador, como já
mencionado, conceituou ação como “una motivada actuación de la voluntad con
inclusión de su resultado”41. Mezger, que também inclui o resultado como
elemento da conduta, ao discorrer sobre ele, assinala a existência dos sentidos
amplo e restrito (resultado externo) do termo e esclarece não ser essencial a
presença desse para a punição da conduta42, de modo que os efeitos
decorrentes da conduta punível podem ser notados no plano material (como
regra) e/ou na esfera psíquica dos indivíduos43.
A respeito das formas de ação, a conduta comissiva foi identificada como
o fazer algo indevido (juridicamente proibido ou culturalmente proibido), ao passo
que a conduta omissiva foi idealizada como o não realizar, por parte do autor, o
40Cf. MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 88; MAYER, op. cit., p. 129 e ss. 41 MAYER, op. cit., p. 129/130. 42 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 104/105. 43 Ponto em que Mayer diverge: “Nuestra concepción se aparta de la doctrina según la cual existen, junto a los delitos de resultado, aquellos cuyo tipo consiste solamente en uma actividad (delitos de mera actividad o formales)” (MAYER, op. cit., p. 150).
que era esperado que ele fizesse, estando a expectativa normalmente
consubstanciada em um preceito normativo.
Os crimes comissivos44 abarcam como ato de vontade o querer algo, que
representa o evento psíquico interno, responsável pela produção do movimento
corporal. Com relação a essa forma de conduta, foi dada especial atenção aos
casos em que, apesar da existência do movimento corporal, não se encontra
presente um ato de vontade juridicamente relevante. Destacou-se, nesse campo,
os chamados movimentos reflexos, casos em que há alguma forma de
movimentação corporal, sem a ocorrência de qualquer excitação intencional ou
psíquica por meio dos nervos motores, de modo que os movimentos se realizam
em decorrência de algum estímulo fisiológico. Nessas hipóteses, não haverá
conduta, como também quando a movimentação for provocada por perturbações
psíquicas, perda de consciência ou por coação física (força irresistível), caso em
que a pessoa atua como instrumento da vontade de outra, como consequência
da força exterior exercida sobre ela45.
Já em relação aos crimes omissivos, a contribuição neokantiana se coloca
como mais significativa, uma vez que foi por meio da ação causal-normativa que
se demonstrou a imprescindibilidade da introdução da valoração para a punição
dos crimes omissivos. Para tanto, introduziu-se o conceito de ação esperada,
que possibilitou considerar as exigências do ordenamento jurídico.
Como observa Francisco Orts Alberdi46, a doutrina de Luden e de Glaser
serviram como suporte para a teoria, sendo Edmund Mezger o responsável pelo
seu desenvolvimento e colocação dela como fundamento solucionador da
problemática da omissão no âmbito do Direito Penal.
Juarez Tavares47 destaca que a proposta de Mezger pode ser
representada por meio de uma pergunta decisiva: “o resultado juridicamente
44 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 106/108 45 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 107/108. MAYER, op. cit., p. 130 46 ALBERDI, Francisco Orts. Delitos de comision por omision. Ediciones Ghersi, Buenos Aires, 1978. p. 66/68. 47 TAVARES, Juarez. As controversas em torno dos crimes omissivos. Rio de Janeiro: Instituto Latino-americano de cooperação penal, 1996. p. 20/21.
desaprovado teria sido evitado pela ação esperada”? Caso a resposta seja
afirmativa, a omissão deve ser considerada como causa do resultado, aplicando-
se a ela os critérios desenvolvidos para a conduta comissiva48. Nesse mesmo
sentido, Sauer afirmou que “la omisión es causal cuando la acción esperada
(sociológicamente) hubiese probablemente evitado el resultado, de outro modo:
Cuando la omisión de esta acción es peligirosa socialmente y por el contrario la
acción hubiese apartado el peligro”49.
Dessa forma, para essa proposta, o ato de vontade da conduta omissiva
é concebido como um não querer algo e são considerados pressupostos para a
punibilidade o dever atuar e a causalidade apreciada mediante um juízo
hipotético que expressará que o resultado não teria ocorrido, caso a ação
esperada tivesse sido realizada50.
Max Ernst Mayer51 traçou a diferença existente entre inatividade e
omissão, ao ressaltar que o não fazer pode ser, de fato, resultado de uma
decisão motivada ou algo não querido. No primeiro caso, haverá omissão,
consubstanciando-se ela apenas quando há razão para fazer algo. Sua essência
reside na negação da força motivadora da representação de uma ação.
A concepção neokantiana vislumbrou também as diferentes formas de
omissão52: omissão própria ou simples, quando o interesse se concentra
exclusivamente em não atuar, e omissão imprópria, quando a conduta passiva
deve produzir um resultado, além da ocorrência da violação de um preceito
normativo.
Na omissão própria, do preceito penal emana uma norma positiva, que
exige determinada atuação, de modo que a infração à norma ocorre quando o
autor não faz o determinado pela lei. Essa espécie de omissão encontra sua
previsão no próprio tipo penal, como ocorre no crime de omissão de socorro (art.
135 do Código Penal).
48 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 118. 49 SAUER, op. cit., p. 150. 50 ALBERDI, op. cit., p. 66/68. 51 MAYER, op. cit., p. 137. 52 MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 105/106.
Na omissão imprópria, o tipo descreve uma ação, mas a inércia do agente
que tem o dever jurídico de evitar o resultado permite a ocorrência do resultado.
No tocante às circunstâncias que fazem surgir o dever jurídico de atuar, de
impedir o resultado antijurídico, apontava-se como fundamento53 a lei
(considerada essa em sentido amplo, tendo-se como exemplos os deveres de
família, do tutor, de alimentos, não se confundido com deveres meramente
morais), a especial aceitação (deveres decorrentes de negócios jurídicos,
especialmente, contratos) e o comportamento anterior, que cria o risco da
ocorrência do resultado. Não obstante, posteriormente, Mezger propôs que
também deveriam ser abrangidos dentre esses deveres outros relacionados às
situações concretas da vida, de modo que deveres antes tidos como
simplesmente morais deveriam ser convertidos em deveres jurídicos. Sauer, por
sua vez, ainda relacionou como fundamentos de deveres o direito
consuetudinário e o compromisso tácito semelhante ao contrato54.
5. Críticas à concepção neokantiana de ação
A concepção causal-normativa não se manteve imune às críticas. A
principal delas ressalta o exacerbado subjetivismo e relativismo cultural em que
a construção do sistema embasado em valores esbarra. O operador do direito,
ao valorar, incorpora sua percepção subjetiva ao sistema, que, acrescida do
relativismo axiológico decorrente da imprecisão dos valores de referência, acaba
por causar instabilidades na determinação precisa do objeto em análise.
Nesse sentido Fabio Guaragni aponta que a liberdade doutrinária
propiciada pela concepção no tratamento do crime teve como mérito desvincular
o Direito Penal de categorias atreladas às ciências naturais, contudo, acarretou
a ausência de uniformidade no tratamento das questões referentes ao Direito
Penal (vide as distintas vertentes e, em especial, a proposta por G. Radbruch),
53Cf. MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. p. 122 e ss. 54 SAUER, op. cit., p. 151.
dada a liberdade conquistada pela doutrina para construir sistemas baseados
em valores relativos, reflexo do desenvolvimento de um dogmatismo pleno de
força criadora55.
Não por outra razão, outra crítica ao modelo, refere-se à desordem na
construção dos elementos do crime, pois foi ele estruturado num relativismo
valorativo e em desapego à realidade, o que dessoa de uma das pretensões do
Direito Penal que é justamente interferir na realidade56.
A vertente neokantiana arquitetada por Gustav Radbruch agrava ainda
mais os pontos suscitados e fragiliza a delimitação da atuação do Direito Penal
ao afastar do conceito de delito a conduta.
No que tange a principal das vertentes neokantianas, responsável por
estabelecer um superconceito de conduta, da mesma forma, a função de
delimitação não foi desempenhada da forma esperada. Os conceitos propostos,
de tão vagos, tornaram a conduta objeto de decoração no sistema analítico de
crime57.
Por fim, a crítica finalista dirigida ao conceito mecânico-casualista de
ação, não abandonado completamente pela escola neoclássica, aponta que a
essência do atuar humano não foi abrangida por essa concepção58.
6. Contribuições do modelo
O Direito Penal, como um sistema aberto, apto à remodelação em função
das consequências político-criminais e da evolução dos conhecimentos, que
pretenda valer-se de um modelo mais explicativo e racional para o alcance da
55 GUARAGNI, op. cit., p. 115. 56 Cf. GUARAGNI, op. cit., p. 117/118. 57 GUARAGNI, op. cit., p. 120. 58 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 197.
aplicação segura e confiável do Direito somente passou a ser imaginável a partir
das contribuições oriundas da escola neoclássica.
São inegáveis os reflexos do modelo proposto pela escola idealizadora da
concepção causal-normativa da conduta na dogmática penal contemporânea. O
funcionalismo é permeado pela tendência de normatização dos conceitos, além
de ter sido estruturado de uma forma em que o sistema está sujeito às
considerações valorativas, o que remete à tradição metodológica neokantiana,
sendo, contudo, a proposta agora revitalizada com base em princípios
garantistas limitadores do ius puniendi e reconhecidos pela Constituição,
conforme bem observou Cezar Roberto Bitencourt59.
Claus Roxin60, ao expor o sistema teológico funcional de Direito Penal,
esclareceu que desde a década de 1970 buscou-se desenvolver esse sistema,
estando seus defensores de acordo em rechaçar os alicerces do sistema
finalista, pois entendiam que o sistema jurídico penal não poderia estar vinculado
às realidades ontológicas prévias, dentre elas a ação, devendo ser ele guiado
exclusivamente pelas finalidades do Direito Penal. Dessa forma, o doutrinador
alemão propõe avançar com um novo conteúdo o ponto de partida dos
neokantianos (e neohegelianos). O avanço proposto consiste em substituir a
vaga orientação neokantiana, voltada aos valores culturais, por um critério de
sistematização de natureza específica jurídico-penal: as bases político-criminais
da moderna teoria dos fins da pena.
Desde já, deixa-se claro que, no entanto, o modelo funcionalista diverge
estruturalmente da proposta neokantiana, pois:
Causación no equivale aún a imputación. La causación señala
solamente que la acción há promovido materialmente el resultado, es
decir, há condicionado de hecho ese resultado. En la imputación
objetiva se cuestiona, por el contrario, si la acción há originado un
59 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. I. p. 122. 60 Cf. ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: Fundamentos: La estructura de la teoría del delito. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña; Miguel Díaz y García Conlledo; Javier de Vicente Remesal. Madrid: Editorial Civitas, 1997. t. I. p. 203/206.
peligro, desaprovado por el derecho, que progressivamente se há
materializado en el resultado típico61.
Contudo, a estruturação da Teoria do Delito com embasamento
normativo, proposta pelos neokantianos, é empregada pelo funcionalismo, haja
vista que “la imputación objetiva gravita prioritariamente sobre la contradicción
entre la acción peligrosa y la norma jurídica concreta”62.
Outra grande contribuição neokantiana deu-se no âmbito da conduta
omissiva que, por meio da noção de ação esperada, tornou possível a tipificação
do delito omissivo quando o agente não faz o que pode e deve fazer, ou seja, a
responsabilização penal pela omissão foi atrelada a uma obrigação jurídica
anterior que impõe ao sujeito o dever de evitar o resultado.
7. Conclusões
A concepção de conduta elaborada pela escola neokantiana permitiu a
superação do modelo de ação causal-naturalista como conceito base para a
estruturação da teoria do delito, ao afastar do Direito Penal a validade absoluta
que gozavam as ciências naturais.
O Direito Penal recebeu tratamento próprio das ciências culturais e os
elementos do crime passaram a ser trabalhados a partir de um sistema
valorativo, com uma metodologia que se caracteriza pela compreensão e
valoração.
Para a vertente encabeçada por Gustav Radbruch, o conceito de conduta
deveria ser afastado da concepção analítica de crime. O modelo proposto por
Mezger, M. E. Mayer e Sauer, por sua vez, estabeleceu a conduta como alicerce
61 TORIO LOPEZ, Angel. Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación opbjeteiva. In: Anuario de derecho penal y ciencias penales. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Juridicos, 1986. t. XXXIX (1). p. 33/34. 62 TORIO LOPEZ, op. cit., p. 47.
inicial do delito, sendo seu conceito dotado de forma genérica, apto a (a) incluir
os delitos culposos e dolosos, comissivos e omissivos, (b) receber as
predicações relativas aos elementos do delito e (c) delimitar, ainda que
minimamente, o âmbito da tutela penal, afastando dela a incriminação de coisa
e animais, os movimentos reflexos e as movimentações causadas por
perturbações psíquicas e coações físicas. Já a vertente elaborada por Eberhardt
Schmidt embasou-se em conceitos neokantianos para arquitetar um modelo
inicial da teoria social da ação.
A ação causal-normativa, como proposta baseada na ciência do dever ser
que o Direito é, possui como grande mérito o estabelecimento de critérios
normativos para a regulamentação da conduta especialmente no âmbito das
condutas omissivas, ao trazer a concepção da ação esperada para a
responsabilização dos crimes omissivos.
Não bastasse, ao estabelecer o paradigma normativo, serviu como
inspiração, juntamente com as lições de Hegel, para o desenvolvimento da teoria
da imputação objetiva e do próprio funcionalismo.
Bibliografia
ALBERDI, Francisco Orts. Delitos de comision por omision. Ediciones Ghersi,
Buenos Aires, 1978
ALLER, Germán. Dogmática de la acción y práxis penal. Montevideo – Buenos
Aires: B de F, 2009.
BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Tradução: Paulo José da Costa Júnior e
Alberto Silva Franco. v. I.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 18 ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.v I.
BRANDÃO, Cláudio. Curso de direito penal: parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010.
BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da
Função Negativa do Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da
Linguagem. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
CORSETTI, Michelangelo. El concepto de acción y su importancia para el
sistema del derecho penal (Gustav Radbuch). In: Revista Justiça e Sistema
Criminal: Modernas Tendências do Sistema Criminal. Curitiba: FAE Centro
Universitário, 2011. v. III. (5).
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: questões fundamentais: a
doutrina geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal:
Coimbra Editora, 2007. t. I.
DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, William
Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal brasileiro: parte geral: princípios
fundamentais e sistema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em direito penal: Um estudo da
conduta humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. 2 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. Coleção direito e ciências afins. v. 2.
JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal: Parte General.
Tradução: José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução e notas: Fernando Costa
Mattos. Petrópolis, RJ: Vozes, Bragança Paulista. SP: Editora Universitária São
Francisco, 2012.
MARTINEZ ESCAMILLA, Margarita. Origen de La moderna doctrina de La
imputación objetiva. Sus antecedentes recientes. Madrid: EDERSA, D.L.1992.
MAYER, Max Ernst. Derecho penal: parte general. Tradução: Sergio Politoff
Lifschitz. Montevideo – Buenos Aires: B de f, 2007.
MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Livro de estudio: parte general. Tradução:
Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958.
MEZGER, Edmund. Modernas orientaciones de la dogmática jurídico-penal.
Tradução: Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo blanch, 2000.
MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução:
Cláudia Viana Garcia, José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007.
ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: Fundamentos: La estructura de la
teoría del delito. Tradução: Diego-Manuel Luzon Peña; Miguel Díaz y García
Conlledo; Javier de Vicente Remesal. Madrid: Editorial Civitas, 1997. t. I.
SAUER, Gullermo. Derecho Penal: parte general. Tradução: Juan del Rosal e
José Cerezo Mir. Barcelona: Bosch, 1956.
SCHÜNEMANN, Bernd (compilador). El sistema moderno del Derecho Penal:
Questiones fundamentales: Estudios em honor de Claus Roxin em su 50º
aniversario. 2 ed. Tradução e notas: Jesús María Silva Sánchez. Montevideo –
Buenos Aires: B de F, 2012.
TAVARES, Juarez. As controversas em torno dos crimes omissivos. Rio de
Janeiro: Instituto Latino-americano de cooperação penal, 1996.
TORIO LOPEZ, Angel. Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación
opbjeteiva. In: Anuario de derecho penal y ciencias penales. Madrid: Instituto
Nacional de Estudios Juridicos, 1986. t. XXXIX (1). p. 33/48.
VON LISZT, Franz. Tratado de Direito Penal Allemão. Tradução: Dr. José Hygino
Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C., 1899. p. 197. t. I.
ZAFFARONI, Eugenio Raol. Tratado de derecho penal: parte general. Buenos
Aires: Ediar, 1981.